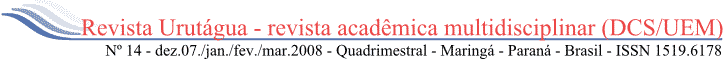|
|
por REINALDO DE FREITAS Licenciado em Geografia pela Universidade Federal de Minas Gerais, membro do Grupo de Estudos Sobre Educação Inclusiva e Necessidades Especiais da Faculdade de Educação da UFMG (GEINE).
|
Ensino de Geografia e Educação Inclusiva: estratégias e concepções*Reinaldo de Freitas
Introdução As questões que envolvem o mundo da escola são assuntos discutidos incessantemente durante nossa formação, enquanto licenciandos, na Universidade. No entanto, existem aspectos dentro da formação acadêmica que não são colocados em evidência. A Educação Inclusiva é uma delas, pois mesmo durante a prática de ensino, essa não é discutida. Dessa forma, quando um professor se depara com uma situação para qual não havia se preparado, caso das propostas inclusivas, vem a pergunta: qual estratégia utilizar? Segundo Pelosi (2000), a escola inclusiva parte do pressuposto de que todas as crianças podem aprender e fazer parte da vida escolar e comunitária, na medida em que a diversidade é valorizada como meio de fortalecer a turma de alunos e oferecer a todos os membros maiores oportunidades de aprendizagem. Partindo do princípio que “a proposta de inclusão enfatiza a igualdade concreta entre os indivíduos, com o reconhecimento das diferenças” (LIMA, 2005, p.21), a efetivação de uma proposta inclusiva tem início com a revisão de práticas e pressupostos que regem o ambiente escolar e também no modo como as disciplinas escolares serão abordadas. Como educador e professor de Geografia, disciplina a princípio ligada ao visual, onde “o olhar é freqüentemente tomado – sobretudo como decorrência das tradições clássicas da Geografia – como o mais importante dos sentidos da observação que fundamentam o conhecimento” (HISSA, 2002, p. 179) era de se esperar que, no campo da educação inclusiva, minhas preocupações estivessem voltadas aos alunos cegos. Todavia, minha questão está vinculada ao aluno que possui um sistema de comunicação diferente do nosso, no caso os educandos surdos, que se comunicam utilizando a Libras[1]. As pesquisas que tratam especificamente da educação de surdos, estão centradas no desenvolvimento do domínio da leitura e da escrita do Português. Porém, no ensino de Geografia, acredito que tanto professores quanto alunos surdos também encontrem dificuldades. No caso dos professores, na medida em que a discussão sobre educação não se apresenta de modo efetivo em sua formação inicial. No caso dos alunos surdos, é possível que tenham dificuldades em articular e demonstrar compreensão de conceitos e linguagens específicas desse campo de conhecimento.Desta forma, apontam-se algumas questões sobre educação inclusiva e ensino de Geografia, tomando como ponto de partida duas escolas de ensino fundamental em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, que recebem alunos surdos, sendo uma municipal e outra estadual. Considerando que o processo inclusivo ocorre em situações especificas em cada ambiente escolar (LIMA, 2005), este estudo, de caráter qualitativo, procurou estabelecer quais as concepções sobre ensino de Geografia e escola inclusiva que os professores que trabalham com alunos surdos incluídos tinham no momento da pesquisa. O que a bibliografia oficial e as pesquisas que discutem a educação inclusiva dizem a respeito do ensino dessa disciplina para alunos surdos? Será que os docentes que trabalham com educandos com necessidades educacionais especiais conhecem as recomendações do MEC para o ensino especial? Se as conhecem, como interagem com esses documentos? Independente de conhecerem ou não essas recomendações, que estratégias adotam para ensinar seu conteúdo para alunos surdos? Como esses docentes concebem a presença de surdos em turmas mistas[2]? Que avaliação fazem disso, diante de sua realidade de ensino? Para tentar responder, pelo menos em parte, a essas indagações, procurou-se centrar as análises em dois pontos: primeiro, o estudo de alguns documentos oficiais sobre educação inclusiva; segundo, a realização de entrevistas com os docentes de Geografia dessas duas escolas que atuam em turmas mistas, com a presença de um ou mais de um estudante surdo. Assim, este estudo se desenvolveu nas seguintes etapas: pesquisa e análise do material oficial (MEC) sobre ensino especial e educação inclusiva, principalmente o que se reporta ao ensino/aprendizagem para alunos surdos; observação do ambiente escolar; contato com os professores de Geografia do Ensino Fundamental que trabalham com alunos surdos; realização de entrevistas com base em um roteiro semi-estruturado com esses professores. E, finalmente, análise do material e confronto entre as entrevistas (percepção dos professores de Geografia) e os documentos sobre educação do MEC. Partindo do princípio de que “os discursos devem ser tratados como práticas descontinuas, que se cruzam por vezes, mas também se ignoram ou se excluem” (FOUCAULT, 2001, p. 52/53) o objeto de estudo é a análise dos discursos[3] desses docentes sobre surdez e Geografia, construídos em sua prática diária. As duas escolas da rede pública, analisadas, estão localizadas nas regiões sul e leste de Belo Horizonte. A escolha dessas duas instituições foi motivada por sua receptividade a estudos acadêmicos que abordam essa temática, e também para que houvesse um comparativo entre os modelos de ensino, uma vez que esses dois segmentos (municipal e estadual) têm projetos político-pedagógicos distintos. Procurou-se a partir desse procedimento, identificar elementos que contribuam para reflexão tanto sobre o ensino/aprendizagem da Geografia, quanto e principalmente, para compreender os sentidos que esse conteúdo específico pode ter frente às necessidades educacionais específicas dos alunos surdos. Portanto, os objetivos específicos deste estudo visam compreender as concepções dos professores de Geografia sobre educação inclusiva, tendo como foco a inclusão de educandos surdos. Objetivou-se também, identificar a metodologia utilizada por esses docentes para o ensino de seu conteúdo a portadores de necessidades especiais e suas concepções sobre os sentidos da educação inclusiva, surdez e o educando surdo. Estratégias dos professores para o ensino de Geografia As estratégias utilizadas pelos professores de Geografia se desenvolvem a partir de um tema e dos objetivos que se pretende alcançar com determinado conteúdo. Segundo Cavalcanti (2002) o caminho mais adequado para desenvolver o tema de procedimentos no ensino de Geografia é o de uma reflexão inicial sobre os objetivos de ensino. Ensino é o processo de conhecimento mediado pelo professor, no qual estão envolvidos, de forma interdependente, os objetivos, os conteúdos e as formas organizativas do ensino. (CAVALCANTI, 2002, p. 71). Os professores foram questionados, primeiro, quanto à organização do conteúdo, ou seja, de que modo eles procuram construir uma relação com a realidade dos alunos e se isso é, para eles, uma preocupação. “- Com a realidade deles... a gente, né? Vamos pegar um assunto:” Meios de orientação “, né? É... Também” localizar o seu bairro na cidade “, é” localizar a sua cidade no estado “, né? A gente dá essa noção de dimensão pra eles, no caso eles tem que saber... se locomover, né? Então, os meios de orientação assim... ajudam bastante”.(Professor 2)· “- É... por exemplo... tava tendo a Guerra[4] ai eu perguntei: “Como que vocês acham que os americanos conseguem acertar um determinado prédio no Iraque assim... bum!?, num exato ponto... Eles usam Latitude/Longitude, coordenadas geográficas... né?”... Ai eles ahm... eles entenderam. - Uma coisa que deu certo também, quando eu pedi pra eles desenharem é... a rua deles...os quarteirões... a rua deles, o tipo de comércio.”(Professor 1) Os professores demonstraram a preocupação em articular o conteúdo ao vivido, variando da dimensão mais operacional (o bairro, a localização) até um contexto mais amplo (a Guerra do Iraque). Cavalcanti (2002) aponta o papel do professor como sendo de extrema importância para o desenvolvimento do conteúdo estudado através de “ligações do conteúdo com a matéria anteriormente estudada e com o conhecimento cotidiano do aluno. É preciso, sobretudo problematizar o conteúdo a ser estudado”.(CAVALCANTI, 2002, p. 80) Os professores foram questionados sobre as estratégias utilizadas em classe e seus resultados. Ao refletir sobre as estratégias que não deram certo, as justificativas para o fracasso se confundem muitas vezes com outros elementos que não são relativos aos conteúdos ministrados. Por exemplo, o Professor 2 esclarece que a escola tem poucos recursos para trabalhar determinadas questões, mas não expôs os procedimentos adotados em sala de aula que não foram bem sucedidos. De certa forma, é uma tentativa de preservar sua prática, atribuindo à estrutura da escola elementos que a limitam. “- [...] olha a gente acaba sendo muito limitado, né? A gente tem assim,é... pouco espaço na escola para estar trabalhando determinadas questões, até mesmo para sair da sala de aula, para estar olhando o sol assim é um tanto complicado, né? A gente sai atravessa o pátio, o pátio é super pequeno pra gente ta olhando o sol, vendo com o aluno... sol nasce, essa coisa toda, né? A gente depende muito de fazer uma excursão pra tá saindo de sala de aula e a gente não tem recurso pra isso, então a dificuldade tá ai, na falta de recurso que a gente não tem.” (Professor 2) Além de fatores associados à escola, os professores alegaram que os alunos não têm bom desempenho nas atividades escritas, como no exemplo a seguir: “- Agora quando eu pedi pra ele escreverem sobre a rua deles, deu totalmente errado. Eles não escreveram... eles não escrevem... aliás eles não fizeram, só dois alunos fizeram, porque tem um pouco de audição, né? Mesmo assim...uma coisa que não deu certo... - Quando eu expliquei a diferença entre populoso/povoado é... eles entenderam, mas mesmo assim eles ficavam na dúvida... - Eu já tentei explicar quinhentos e cinqüenta e cinco mil de vezes a diferença, mas mesmo assim alguns na hora da prova travam. Não sabem olhar na tabela.”(Professor 1) A representação escrita da atividade proposta pelo Professor 1 não deu certo, pois os alunos não a fizeram. O problema na redação dos textos pode estar relacionado à dificuldade de compreender o que foi explicado pelo professor, pois segundo o MEC/SEESP (1997) a dificuldade do surdo em redigir em português está relacionada à dificuldade de compreensão dos textos lidos (conteúdo semântico) e que essas dificuldades impedem a organização ao nível conceitual. Muitas vezes, só compreende o significado das palavras de uso diário, o que interfere no resultado final do trabalho com qualquer texto, mesmo o mais simples. (MEC/SEESP, 1997, p. 309) O Professor 3, quando questionado sobre a relação estabelecida entre os conteúdos ministrados e a realidade dos alunos, esclareceu que não procurava estabelecer relações e justificou isso alegando que os alunos eram “todos iguais” e que isso não era necessário. Portanto, aqui, ele nega a diferença e as propostas de inclusão e desconhece o aluno com o qual trabalha. Kaercher (2007) aponta a necessidade de se fazer algumas ponderações sobre as observações colocadas em pesquisas que analisam a prática dos professores distantes do “calor do dia-a-dia” da sala de aula, destacando que “seria um exercício idealista e inócuo: projetar um modelo ideal de professor, a partir da adição de uma série de positividades”. Não é pretensão desse estudo projetar um modelo de profissional, mas levantar algumas contradições vividas na prática que nos impedem de discutir e avançar no ensino de Geografia. “- Olha, eu não... eu não estabelecia muito não, eu era sim... pra mim eles era todos iguais, sabe?! eu não estabelecia... não havia diferença. Só uma coisa, uma vez eu dei um trabalho que eu achei que eles não iriam fazer, eu dei uma palavra chave para eles levantarem uma cruzadinha, foi assim fantástico! Eles conseguiram pegar a palavra, quer dizer ler e tirar dali um objetivo ou uma afirmativa sabe, então assim eu achei fantástico.” (Professor 3) Considero que a relação com o conteúdo ministrado e a realidade do aluno é um elemento importante para que ele possa materializar os conteúdos até então abstratos para sua realidade, independente da sua condição física e assim, desenvolver mais plenamente habilidades e competências. O Professor 4 coloca como elemento principal, para que o aluno entenda o que ele diz, a articulação do conteúdo com a realidade. Dessa forma, ele faz uma análise que parte do meio onde o aluno vive e a inserção desse espaço no contexto mais geral. “- Procuro... eu tenho que fazer isso para eles é... entenderem a matéria, então eu começo explicando por exemplo Belo Horizonte e suas regiões, depois eu repasso para a região metropolitana, depois para Minas Gerais para eles entenderem o contexto... ai Brasil e vou passando.” (Professor 4) Concepções dos professores sobre ensino de Geografia para portadores de necessidades educacionais especiais. Paganelli (2002) acredita que o profissional que conhece os pressupostos teóricos metodológicos que fundamentam a Geografia como Ciência, tem condição de se situar em sua prática pedagógica definindo, por assim dizer, os objetivos da Geografia como disciplina escolar. Considerando isso, perguntou-se aos professores quais referenciais teóricos os ajudam na abordagem dos conteúdos geográficos para alunos surdos. O Professor 2 não compreendeu bem a pergunta e respondeu: “- Olha... Eu penso que a Geografia é um conteúdo que todo mundo pratica, né?Então eu acho assim...A Geografia você...você pratica então... o tempo todo você está se deslocando, você tem que estar vendo as direções, você estar vendo com certeza os assuntos nos jornais, é... na televisão. Eles estão vendo, então assim... é...” Refiz a pergunta, e o Professor 2 respondeu fazendo um dissociação entre prática e teoria, na medida em que ele afirma não utilizar nenhum referencial teórico para construção de sua prática, que aprendeu a fazer, fazendo. “- Não, eu busquei tudo na prática mesmo, porque é um tanto difícil a gente estar ali preso à teoria, sendo que você tem que estar atuando [risos] dentro de sala de aula.” O ensino de Geografia na concepção desse docente corresponde ao passível de ser desenvolvido a partir de atividades “práticas”. Essa função “prática” da Geografia é compreendida por ele através da realização de atividades como a confecção de material didático pelos alunos. No entanto, os alunos não podem ficar somente na “prática”. Em atividades práticas como desenhar o lugar onde moram, ou descrever as paisagens, a Geografia acaba por se tornar “prática”, mas as dificuldades relativas ao entendimento e domínio da Língua Portuguesa tornam-se um obstáculo para que os alunos surdos possam compreender os conteúdos. A dificuldade de interpretação, associada ao domínio da linguagem privilegiada pela escola (oralidade), caracteriza um problema para o ensino da Geografia, pois segundo esse professor, os estudantes surdos parecem não construir conceitos. “- Olha a minha maior dificuldade mesmo, é quando eu noto que eles têm grande dificuldade de interpretar. A interpretação pra eles é muito complicado”.(Professor 2) O Professor 1, perguntado sobre quais referenciais teóricos utiliza, relatou: “- A tradicional... mas eu não peguei lá e vi... e vou ficar com essa... - No aspecto de 5ª a 8ª eu primo pelo tradicional, porque o aluno precisa saber do tradicional para poder chegar a uma conclusão no 2º grau, porque ele está mais maduro... ele tá mais maduro no 2º grau..., 1º grau ele não ta. Ele tá recebendo informação, ele tá recebendo conceito... Aluno de 5ª a 8ª tá recebendo conceito.“ Através do relato do professor, podem-se perceber elementos característicos de uma concepção bancária de educação. A Educação Bancária transforma os alunos em meros recipientes, nos quais o professor deposita o conhecimento. Segundo Freire (1996, p. 23-25) a relação ensinante e ensinado se constrói a partir de uma relação de troca em que, segundo o autor, “[...] quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender [...]”, e isso se caracteriza como prática formadora. Para que essa relação ensinante e ensinado possa se perpetuar, o ensinante deve ter consciência de que “[...] ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua produção e sua construção [...]”, pois, se ele for contra esse principio, apenas estará, como o próprio Paulo Freire descreve, “depositando conhecimento”. Questionado sobre qual a maior dificuldade em lidar com alunos surdos, esse docente assim se manifestou. “- Nossa Senhora...! É eu me comunicar com eles, pelo Amor de Deus! Eu falo lá... e eles não estão olhando pra mim, eu fico desesperado... eles estão olhando pra intérprete, muitas vezes uma expressão minha pode ser mais importante que a dela, então... é...”.(Professor 1) O ensino de Geografia caracterizado pelo Professor 1 tem sua maior dificuldade na comunicação entre professor e alunos, associada à falta de recursos didáticos. Mesmo quando mediado pela intérprete[5], o professor sente que a atenção dos alunos é o que falta. Mas a expressão do professor na comunicação com os alunos não tem efeito para toda a turma, pois a atenção dos mesmos está voltada para a intérprete. O próprio docente parece não compreender as dificuldades que os educandos surdos possuem e que talvez como ele, estejam temerosos e ansiosos com o contato construtivo numa sala de aula. A Geografia assim, se torna difícil de ser ensinada para os alunos surdos na medida em que o professor, não conhecendo a linguagem de sinais, fica impossibilitado de se comunicar com os alunos, dependendo da intérprete para “estabelecer contato”. Para os professores 4 e 3, o ensino de Geografia para alunos surdos tem sua dificuldade aliada à interpretação de textos, gráficos e mapas por parte dos alunos. “- eu diria que a maior dificuldade, apesar de ter uma intérprete, mas eu sempre dependo de uma intérprete, porque se ela faltar eu estou sem comunicação com eles, compreende? É não dominar a linguagem de sinais... (Professor 4) “- [pausa]... Interpretação de mapas... gráficos, muito complicado trabalhar com alguns textos isso porque eles não dominam muito ainda o vocabulário, então a gente tem que colocar textos com palavras que eles já conhecem. (Professor 3) Com relação ao referencial teórico utilizado pelos professores 3 e 4 para a abordagem dos conteúdos, mais uma vez o Professor 3 utilizou o argumento de igualdade entre os alunos para justificar a não utilização de tais subsídios. “-Especificamente para eles não, igual eu te falei eu sempre via eles como pessoas iguais... sem diferenciar”.(Professor 3) Perguntado sobre o referencial teórico, o Professor 4 compreendeu referencial teórico como recurso didático. A justificativa para esse tipo de procedimento é o referencial que a Geografia tem na construção do conhecimento, partindo do ambiente local para o mais genérico ou global. “-Você diz recursos áudio-visual...? Eu trabalho muito com imagens, retroprojetor direto, mapas... eles recebem muitos mapas. O caderno deles de Geografia é o mais volumoso que tem, o que tem mapas... é... eu trabalho muito com isso, para que eles entendam a... tenham referência daquilo que eles estão aprendendo no mundo, para que eles se situem... é importante que eles se situem localmente para gente chegar no que é mais global... genérico. Muitos textos, muitos questionários... eles trabalham muito”.(Professor 4) Novamente aparece o reforço à concepção bancária, que se caracteriza por uma prática conteudista, quando o Professor 4 afirma que o caderno de Geografia “é o mais volumoso”. A questão aqui é se basta “entulhar” os alunos com informações para construir um melhor entendimento da realidade. De fato, será que apenas oferecer informações em um mundo tão mutante é suficiente para compreender a velocidade e/ou os processos que as determinam/impõem? Em que medida ter “um caderno volumoso” ajuda a construir conhecimentos? Parece, após a pesquisa, que os professores se sentem despreparados, “soltos”, e inseguros para lidar com a realidade da inclusão de portadores de necessidades especiais. As condições materiais, salvo algumas exceções, também dificultam as discussões e o entendimento do que seria a escola inclusiva e o ensino para esses alunos. Talvez falte maior visibilidade dessas questões, tanto na sociedade quanto na academia, ou mesmo, na elaboração de políticas públicas mais eficazes. Construir uma legislação sem discuti-la, impor métodos e procedimentos, implantar “modelos” ou desconsiderar a realidade, pode acarretar mais problemas que soluções, como parece ter sido compreendido por parte dos docentes entrevistados. Por desconhecerem a realidade da formação dos educandos surdos, os professores vão construindo idéias muitas vezes equivocadas a partir de informações do senso comum. Em parte, esse processo pode ser associado à própria formação docente, onde tais questões aparecem de modo periférico, quando aparecem. A Escola Inclusiva[6] tal como percebida no decorrer da pesquisa, mostrou que foi construída em uma base frágil, em que o professor não tem conhecimento sobre as reais necessidades dos alunos incluídos na sala de aula, e nem é preparado adequadamente para lidar com essas problemáticas. Um dos professores entrevistados, quando perguntado sobre as condições de trabalho, relatou que até a escola se organizar para atender aos alunos com necessidades especiais, eles foram utilizando o sistema de “ensaio e erro”. Os professores pesquisados, em sua maioria, desconhecem as leis que regulamentam o direito dos portadores de necessidades especiais e os documentos que caracterizam o processo de inclusão. Nos relatos, os professores mencionaram a LDB, a Constituição Federal, mas não falaram especificamente sobre a educação dos portadores de necessidades especiais. Os professores se mostraram não motivados a continuar o trabalho com educandos com necessidades especiais por motivos diversos (desde o despreparo em sua formação inicial, até questões salariais), implícitos nas falas ou até mesmo explicitamente. Um ponto comum em sua fala diz respeito às críticas feitas aos governos estadual e municipal. Em todos os relatos, os professores mencionam da falta de planejamento e incentivo por parte do Estado, da falta de estímulo na organização de projetos de ensino e formação de professores. No caso da prefeitura, as críticas estão centradas no modelo de escola inclusiva implantado, em que os alunos são colocados em sala de aula sem um atendimento complementar que auxilie seu desenvolvimento. Tomando como referência as escolas observadas, nota-se que o atendimento aos educandos com necessidades especiais dentro de um modelo inclusivo não ocorre. Os alunos surdos estão freqüentando instituições regulares, mas só isso não é suficiente para garantir sua efetiva inclusão. O modelo de Educação Inclusiva – conforme proposto pela Declaração de Salamanca – requer primeiramente, que os direitos e as especificidades dos educandos envolvidos no processo sejam respeitados para que o processo educativo obtenha sucesso. Os professores precisam ter consciência das dificuldades e limitações desses educandos, em suas práticas diárias e assim construí-las tendo-os como referência. A presença de alunos surdos em sala de aula de ensino regular, nas escolas observadas, fez com que os professores adaptassem sua didática de forma a atendê-los. Mas os professores fazem isso com base em “ensaio e erro”, não tendo recebido formação para trabalhar nesse contexto. Os alunos devem aprender juntos sempre que possível, mas a instituição de ensino tem que assegurar condições para que esse processo seja concluído. Porém, nas duas escolas, observou-se que os professores relataram carência material para trabalhar tanto com educando “normais”, quanto com portadores de necessidades especiais. Todavia, não é possível atribuir toda culpa à escola, pois ela é apenas a ponta do “iceberg”. Os Estados e Municípios deveriam assegurar-lhes as condições materiais para o pleno atendimento a todos os educandos e mais ainda, aos portadores de necessidades educacionais especiais. Na fala de um professor entrevistado, o processo da Escola Inclusiva fica caracterizado como “atropelado”. De certa forma, no caso dos professores contratados[7] pelo Estado, a situação é ainda pior, devido sua precariedade contratual que se associa à elevada rotatividade entre escolas. Nesse caso, nota-se a falta de compromisso do órgão gestor, que não se preocupa em garantir estabilidade profissional aos docentes e possibilitar o desenvolvimento do trabalho pedagógico, o que por sua vez, dificulta um atendimento adequado às necessidades dos educandos. Considerações Finais A realidade das escolas públicas observadas, de Belo Horizonte, no que diz respeito à inclusão de educandos surdos, mostra situações não muito diferentes. A escola municipal observada apresenta uma estrutura mais consolidada no ambiente da sala de aula, professores com mais experiência no atendimento aos educandos surdos, mas isso não os isenta de equívocos, sobretudo na abordagem e tratamento relativo a esses educandos. Algumas escolas da rede municipal estão passando por uma reformulação com relação ao atendimento de educandos surdos, em que a figura da intérprete passa a não mais existir, cabendo ao professor ter o domínio da LIBRAS. Talvez isso possa significar um avanço em relação ao ensino desses estudantes, bem como sinaliza para uma preocupação com a qualificação dos docentes. Nesse sentido, talvez essas dificuldades cotidianas, na lida com educandos com necessidades especiais sejam diminuídas, tanto por parte dos professores, quanto das instituições escolares. Já escola da rede estadual se caracterizou pela quase ausência de uma estrutura que garanta apoio à prática do professor, como recursos didáticos adequados, materiais de consulta e, até mesmo, apoio pedagógico para a realização de um trabalho mais efetivo, sendo oferecida apenas a presença de intérpretes. Com relação ao ensino de Geografia para alunos surdos, nos dois ambientes eles se diferenciam pela postura dos profissionais envolvidos. Na escola estadual pesquisada, os professores enfatizam as dificuldades dos educandos em assimilar determinados conteúdos, principalmente em relação à interpretação de textos. As avaliações são colocadas como referenciais em que são detectados o que o aluno assimilou ou não. Muitas vezes a culpa pelo fracasso recai sobre o intérprete, que “não soube transmitir de forma correta o que havia sido explicado”. Os professores não dominam a língua de sinais, como já foi dito, o que dificulta a interação e o entendimento de determinadas situações de sala de aula, como o fato de os alunos olharem para a intérprete e não para o professor. Os professores muitas vezes se escondem atrás das condições de trabalho precárias (apesar de estas serem reais) e, dessa forma, se isentam de buscar informações a respeito dessa nova situação em sala de aula. Os problemas relativos ao ensino de Geografia para surdos, nos relatos dos professores da escola municipal pesquisada parecem restritos a conteúdos específicos, como o trabalho com o sistema de coordenadas geográficas. Em contrapartida, a compreensão das dificuldades dos educandos é colocada de uma forma mais tranqüila. Os professores mostraram um entendimento das questões relativas à interpretação e ao processo de formação escolar do educando surdo. Um elemento presente na fala dos professores da escola municipal é o fato de que os alunos pareciam não ter dificuldades em entender o que era dito pelo professor. Além do mais, aspectos relativos à normalidade e igualdade entre a totalidade dos estudantes sempre foram repetidos nas suas entrevistas, talvez como forma de suavizar a presença desses alunos em salas mistas. Oferecer escolaridade e a possibilidade de inclusão já significam, em si, um ganho. Porém, nos parece necessário avançar rumo à discussão sobre qual inclusão e qual escola queremos e praticamos. Espera-se com esse trabalho, suscitar novas pesquisas, sobretudo no ensino de Geografia, e que a compreensão das diferenças e especificidades do ensino para portadores de necessidades especiais propiciem maior reflexão da prática em sala de aula, dos significados da educação inclusiva e de suas especificidades.
Referências BOTELHO, Paula. A leitura, a escrita e a interação discursiva de sujeitos surdos: Estigma, Preconceito e Formações Imaginárias. Dissertação de mestrado em Educação – FAE/UFMG,1998. BRASIL. Secretaria de Educação Especial. A Educação dos Surdos.vol. II. Brasília, MEC/SEESP, 1997. ______. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996. CAVALCANTI, Lana de Souza. Geografia e práticas de ensino: Geografia escolar e procedimentos de ensino numa perspectiva socioconstrutivista. Goiânia, Alternativa, 2002. p.71-100 FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. São Paulo: Loyola, 7ª edição, 2001. FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à prática educativa. 17ª Ed. São Paulo, Paz e Terra, 1996. HISSA, Cássio Eduardo Viana. A mobilidade das fronteiras: inserções da geografia na crise da modernidade. Belo Horizonte, Editora UFMG, 2002. KAERCHER, Nestor André.Quando a geografia crítica é um pastel de vento e nós, seus professores, Midas. IX Coloquio Internacional de Geocrítica - LOS PROBLEMAS DEL MUNDO ACTUAL. SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS DESDE LA GEOGRAFÍA Y LAS CIENCIAS SOCIALES. [artigo científico] 2007. Disponível em <http://www.ub.es/geocrit/9porto/nestor.htm>. Acesso em 09/09/2007. LIMA, Priscila Augusta. Educação Inclusiva e igualdade social. São Paulo, Avercamp, 2006. PAGANELLI, Tomoko I. “Reflexões sobre categorias, conceitos e conteúdos geográficos”.Seleção e organização. In: PONTUSCHKA, Nídia N. (Org.) et al. Geografia em perspectiva. São Paulo. Contexto, 2002. PELOSI, Miryam Bonadiu. A comunicação Alternativa e Ampliada nas Escolas do Rio de Janeiro: Formação de professores e caracterização dos alunos com necessidades educacionais especiais. Dissertação de mestrado em Educação – UERJ, 2000. UNESCO. “Declaração de Salamanca” e “Linha de ação sobre necessidades educativas especiais”. Brasília, Corde, 1996. |
|
|||||
|
* Este texto retoma, sintetiza e atualiza parte de minha monografia de conclusão de curso, com o título: Estratégias e Concepções dos Professores de Geografia para o Ensino de Alunos Portadores de Surdez na Escola Fundamental em Belo Horizonte, orientada pela Profª. Dr. Rogata Soares Del Gaudio, apresentada no 1º Semestre de 2003, como requisito para obtenção do título de Licenciado em Geografia pelo Instituto de Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais. [1] A língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) pode ser definida como uma “[...] língua de modalidade gestual (...) [que possui] (...) organização lingüística bastante diversa da língua oral. Difere do alfabeto manual, representação espacial das letras do alfabeto e dos números, utilizados pelos surdos para designar nomes próprios, endereços, localidades, e para circunstâncias em que é necessário explicar o significado de algo para o qual não há sinal da língua de sinais já definido” (BOTELHO, 1998, p 73/74) [2] Entende-se por turma mista aquelas compostas por alunos surdos e ouvintes. [3] Entende-se por discurso a fala dos professores com relação a sua prática e os elementos que podem estar nela subentendidos, no decorrer do processo de entrevista. [4] A Guerra, na questão mencionada pelo professor, se refere à invasão americana ao Iraque ocorrida em Março de 2003. [5] Segundo o MEC/SEESP (1997) o intérprete de LIBRAS é o profissional que tem sua atuação centrada no [...] atendimento a todas as pessoas surdas que necessitam romper os bloqueios de comunicação com o objetivo de integrar surdos e ouvintes, facilitando a comunicação entre ambos. (MEC/SEESP, 1997, p. 305) [6] O modelo de escola inclusiva tem como principio orientador “o de que todas as crianças devem aprender juntas, sempre que possível, independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças que elas possam ter. Escolas inclusivas devem reconhecer e responder às necessidades diversas de seus alunos, acomodando ambos estilos e ritmos de aprendizagem (sic) e assegurando uma educação de qualidade para todos através de um currículo apropriado, arranjos organizacionais, estratégias de ensino, uso de recursos e parcerias com as comunidades. [...] Educação inclusiva é o modo mais eficaz para a construção de uma solidariedade entre crianças com necessidades educacionais especiais e seus colegas”.(UNESCO, 1996, p. 07) [7] A contratação de profissionais é uma prática realizada pelo Estado de Minas Gerais, que consiste na prestação de serviços em escola estadual por servidor não efetivo, para assumir, temporariamente, uma função em substituição aos afastamentos legais do titular, ou em cargos vagos até seu provimento definitivo. |