|
|
Mestranda em Ciências Sociais (PUC-SP) e pesquisadora do NEILS – Núcleo de Estudos de Ideologia e Lutas Sociais
|
Da “Destruição criativa” à “Estética política”: subjetividade e resistência do trabalhador no filme Os Educadores[1].
A constituição dinâmica do capital compreende constantes inovações tecnológicas e organizacionais no âmbito do processo de produção capitalista, assegurando a reprodução de mercadorias e das relações sociais que nele estão inseridas. A palavra transitoriedade é a pedra angular deste processo que, desde meados do século XIX, transitou da manufatura ao fordismo, deste ao taylorismo; e atualmente fazem da “reestruturação produtiva” e da “flexibilização da produção” as expressões mais adequadas à época em que vivemos. A implantação constante de novos sistemas de produção emprega o processo de “destruição criativa” sempre que necessita conquistar novos mercados, lançar novos produtos ou apresentar novas soluções. A inovação aparece como a grande causa das mudanças que afetam diretamente a vida cotidiana do trabalhador. Ao realizar este processo, a transitoriedade se manifesta na esfera do consumo, das relações sociais e na paisagem das cidades, assim como nas exigências do mercado de trabalho. A necessidade do mercado de trabalho seleciona quem está ou não qualificado e apto a estas mudanças, e deste modo, a capacidade do trabalhador é explorada no mesmo ritmo que o aceleramento das transformações globais. O processo de reprodução material e social torna dinâmica a própria constituição do capital, que conecta o mundo e garante sua sobrevivência por meio da destruição e reconstrução acelerada dos processos de produção e das relações interligadas a ele. Fato que compreende também a dimensão territorial, visto que o capital necessita constantemente expandir seus mercados tanto em investimentos quanto em consumo. De acordo com Harvey (2004), a acumulação de capital e a expansão territorial constituem a lógica da “destruição criativa”. As crises cíclicas de superacumulação fazem com que o capital busque lugares para se acomodar, criando um ambiente geográfico à sua imagem para depois destruí-lo, gerando conseqüências sociais e ambientais. Desta maneira, a “destruição criativa” emerge como característica primordial do desenvolvimento capitalista, pois esta, não somente leva aos extremos a inovação técnica e social, mas garante o próprio funcionamento do processo de produção capitalista. Sendo assim, este artigo parte do termo “destruição criativa” usada por David Harvey em A condição pós-moderna (1994), para abordar a questão do trabalho enquanto criador da existência humana, ao mesmo tempo em que aliena e destrói a natureza e o trabalhador e, destacamos ainda, como este processo se relaciona à “teoria da alienação” em Marx e Engels. Por
outro lado, retomaremos a premissa da análise marxista que leva em conta
a emergência de forças antagônicas, e o processo capitalista como “algo
que produz de forma simultânea e crescente, miséria em massa e poder
proletário”. Como
pano de fundo de nossa proposta, consideraremos passagens e diálogos do A escolha de “Os Educadores” (2004) foi realizada com base na discussão que o filme suscita sobre a temática da relação capital-trabalho e da alienação, e os efeitos sobre a subjetividade dos trabalhadores e as perspectivas de ação política. Trata-se de um filme sobre três jovens idealistas que praticam pequenas ações com a finalidade de mudar o mundo, e que, acidentalmente seqüestram um empresário. O filme ganha consistência quando observados teoricamente sob a perspectiva da temática do mundo do trabalho, e é por este viés que desenvolveremos o presente artigo. A
teoria da alienação em Marx e Engels O capitalismo é um processo pautado por regras que garantem que sua permanência seja sempre inovadora e destrutiva. Neste sentido, as constantes mudanças e o próprio processo do trabalho esgotam as forças físicas e psíquicas dos trabalhadores. A atividade do trabalho emerge como uma força externa e hostil que submete os trabalhadores ao diário esgotamento de suas capacidades e potencialidades numa atividade que não tem nenhuma relação com sua subjetividade. Deste modo, o trabalhador aliena-se da produção e o trabalho emerge como metáfora da vida roubada. O conceito de alienação está no estranhamento do trabalhador (produtor) com relação ao produto de sua própria experiência, o objeto produzido (a mercadoria). A subjetividade do trabalhador distancia-se de todo o processo de produção objetiva, já que ele emprega sua vida, experiência e trabalho a um objeto que não tem relação nenhuma com sua subjetividade. ...
a alienação do trabalhador em seu produto não significa apenas que o
trabalho dele se converte em objeto, assumindo uma existência externa,
mas ainda que existe independentemente, fora dele mesmo e a ele estranho,
e que se lhe opõe como uma força autônoma. A vida que deu ao objeto
volta-se contra ele como uma força estranha e hostil (MARX, 1985a: 91). A alienação emerge como uma das características do trabalho. O trabalhador vende sua força de trabalho, produz mercadorias não para si, mas para outrem. O resultado de sua atividade passa a fazer parte de um mundo objetivo de riqueza que não lhe pertence mais. Sua relação com o mundo das mercadorias passa a ser mediatizada pelo dinheiro, através do salário, que o trabalhador recebe em troca da venda de sua força de trabalho. O assalariamento da força de trabalho e a exploração destrutiva da natureza estabeleceram uma divisão social entre proprietários dos meios de produção e trabalhadores; e uma oposição entre sujeito (humanidade) e objeto (natureza), gerando uma sociedade marcada pela dominação de classes. O processo de “destruição criativa” afeta diretamente a subjetividade do trabalhador. Por um lado construindo vida material, por outro, esgotando as forças de quem os produziu e a matéria de onde foi extraída, a natureza. Quanto mais o trabalhador cria o mundo material, menos este mundo lhe pertence. Todas
estas conseqüências estão na determinação de que o trabalhador se
relaciona com o produto do seu trabalho como com um objeto alheio. Pois
segundo este pressuposto está claro: quanto mais o trabalhador se gasta
trabalhando, tão mais poderoso se torna o mundo objetivo alheio que ele
cria frente a si, tão mais pobre se torna ele mesmo, o seu mundo
interior, tanto menos coisas lhe pertencem como seu próprio. (MARX, 2003:
150) A teoria da alienação de Marx e Engels permeia o processo do trabalho e está fundamentada em quatro aspectos: a alienação dos homens em relação à natureza; alienação dos homens em relação à atividade produtiva; alienação à sua espécie como espécie humana; e alienação em relação aos outros homens. Todavia, “o trabalho não produz só mercadorias; produz a si mesmo e ao trabalhador como uma mercadoria, e isto na proporção em que produz mercadorias em geral” (MARX, 2003: 148), e, nisto constitui a sensação de não pertencimento ou estranhamento do trabalhador em relação ao mundo, que é o cerne da teoria da alienação marxista. Quanto mais se acentua a relação entre capital e trabalho, isto é, o antagonismo daqueles que vendem sua força de trabalho aos proprietários dos meios de produção, e quanto mais mercadorias são produzidas, as forças que poderiam resistir à dominação desenvolvem-se simultaneamente: Na
mesma medida em que a burguesia – isto é, o capital – se desenvolve,
também o proletariado se desenvolve. A classe trabalhadora moderna,
desenvolve-se: uma classe de trabalhadores, que vive somente enquanto
encontra trabalho e que só encontra trabalho enquanto o seu labor aumenta
o capital. (MARX e ENGELS, 1998: 19) O capitalismo ao desenvolver-se, cria condições de resistência dentro de seu próprio sistema, nisto consiste o uso do termo “destruição criativa”, que neste artigo contribui para o entendimento deste processo antagônico e dialético. Fortalecemos esta idéia a partir da análise de passagens do filme “Os Educadores” (2004), de onde extraímos elementos que realçam os efeitos da alienação sobre a subjetividade dos trabalhadores e as perspectivas de ação política.
Móveis fora de lugar, um aparelho de som dentro da geladeira, os soldados de chumbo no vaso sanitário, o que era decoração se transforma num amontoado de coisas que espanta quem se depara com a cena. O trecho específico mostra uma família que, ao entrar como de costume em sua casa, encontra todo o mobiliário remexido com o seguinte bilhete: “Seus dias de riqueza estão contados. Assinado Os Educadores”. Daquilo que poderia parecer “farra” ou “coisa de moleques desajustados”, acaba por constituir a essência do filme, a forma de politizar espaços privados como protesto ao sistema capitalista. Os responsáveis por esta ação são apresentados na cena seguinte. Trata-se de Jan e Peter, dois amigos que acompanham uma manifestação antiglobalização contra uma fábrica de tênis exploradora da mão-de-obra barata e do trabalho infantil, em países da periferia do capitalismo. Jule, a namorada de Peter, também participa da passeata. Os três colegas se unem e o desenrolar do roteiro ocorre quando Jule e Jan se aproximam. Nesta ocasião, Jan ajuda Jule na mudança de apartamento. O rapaz se mostra solidário e ao mesmo tempo revoltado com a história de Jule, que precisa mudar de apartamento por questões financeiras. Jule conta a Jan a história sobre o acidente de carro que a colocou nesta situação. Condenada judicialmente a ressarcir o valor do dano ao motorista envolvido no acidente, a personagem dedica horas ao trabalho que esgota sua subjetividade e altera seu estilo de vida para cumprir a sentença. Neste
momento emerge a questão da alienação. Jule trabalha em um restaurante,
e consome grande parte de A metáfora da vida roubada toma forma nos momentos de trabalho e fora dele. No ambiente de trabalho, Jule sente o esgotamento de suas energias e a infelicidade. O trabalho passa a ser como um sacrifício ao personagem Hardenberg, destinatário do salário recebido pelas horas de seu trabalho. Jule preocupa-se somente com o salário que poderá libertá-la da “dívida” contraída. Nesse sentido, a personagem se aliena e nada mais lhe pertence, tudo lhe é “estranhamento”: ...
o trabalho é exterior ao trabalhador , ou seja, não pertence à sua essência,
que portanto ele não se afirma, mas se nega em seu trabalho, que não se
sente bem, mas infeliz, que não desenvolve energia mental e física livre, mas mortifica a sua physis e arruína
a sua mente. (...) O seu trabalho não é, portanto voluntário,
mas compulsório, trabalho forçado. Por conseguinte, não é a satisfação
de uma necessidade, mas somente um meio para satisfazer necessidades fora
dele. (...) O trabalho exterior, o trabalho no qual o homem se
exterioriza, é um trabalho de auto-sacrifício, de mortificação.
Finalmente, a exterioridade do trabalho aparece para o trabalhador no fato
de que o trabalho não é seu próprio, mas sim de outro, que não lhe
pertence, que nele ele não pertence a si mesmo, mas a um outro. (MARX,
2003: 153) A alienação objetiva do homem, do produto e do processo que envolve seu trabalho emerge como uma conseqüência da organização do capitalismo moderno: o trabalhador vende seu tempo, energia e capacidade. Ele se auto-aliena, interior e exteriormente, sua subjetividade se perde neste processo. De acordo com Wright Mills (1979), neste processo, o trabalhador, não passa de um objeto a ser administrado, por regras e normas impostas por aqueles que compraram sua força de trabalho. O trabalhador deve se submeter às regras que lhe são hostis, num trabalho que não glorifica sua subjetividade. Enquanto trabalha, Jule sente o processo de alienação e descontentamento, quando é proibida de fumar, e seus horários são rigidamente controlados bem como sua aparência. Não é permitido aos funcionários que erros prejudiquem a imagem do restaurante na prestação dos serviços. A
alienação do trabalho significa que as horas mais ativas de uma vida são
sacrificadas para ganhar o dinheiro com o qual ‘ se vive’. Alienação
significa tédio e frustração do potencial criador, do aspecto produtivo
da personalidade. Significa que, se os homens devem buscar todos os
valores importantes fora do trabalho, devem ser sérios enquanto
trabalham: não podem rir, cantar ou mesmo falar, devem obedecer às
regras e respeitar o fetiche da ‘empresa’. Em suma, devem ser sérios
e constantes numa atividade que não significa nada para eles, e isso
durante os melhores dias de sua vida (MILLS, 1979: 254). A seqüência dos acontecimentos que evidenciam o processo de alienação da personagem ocorre no ambiente de trabalho. Quando Jule se afasta destas regras é repreendida tanto por seu superior, como pelo cliente. No entanto, a vingança contra as opressões sofridas se manifesta ao riscar o carro do cliente que a repreendeu por ter se equivocado durante o trabalho. Porém, essa vida de regras e o esgotamento de sua subjetividade encontram respaldo nos momentos de lazer de uma forma politizada. É interessante destacar que a atividade de lazer é apresentada em “Os Educadores” como atividades de resistência ao sistema capitalista. Quando os jovens não estão trabalhando, aparecem em passeatas ou realizando as performances no interior das mansões. O filme percorre a idéia de Wright Mills de “descontentamentos privados que levam à ação pública”, esta é a experiência que está presente nos personagens desta história, principalmente em Jan e Peter. Os personagens necessitam manifestar sua insatisfação contra a relação capital-trabalho, e principalmente contra as desigualdades do sistema capitalista. O
trabalho dos rapazes é instalar e monitorar o sistema de segurança
digital de mansões de um bairro rico de Berlim. Porém, Jan e Peter
utilizam os mapas das mansões e o conhecimento técnico dos sistemas que
instalaram para entrar nestas mansões e praticar aquilo que chamam de
pacificismo idealista: ao anoitecer, colocam suas máscaras e
realizam verdadeiras performances e intervenções artísticas nestas mansões. Como o objetivo não é roubar, os “educadores” mudam os móveis de lugar, fazem pilhas com as cadeiras e bagunçam o local, não sem antes postarem bilhetes com os dizeres: “Seus dias de abundância estão contados” ou “Você possui muita riqueza”. A finalidade dos “educadores” é protestar e assustar os moradores dos bairros ricos, utilizando-se da idéia de segurança e confiança em sistemas de proteção particular. Para Jan, este protesto vai além, é a sua forma de fazer política e de mudar o mundo. A política enquanto educação estética do homemA
desarrumação das mansões enquanto prática dos “educadores”
nos remete à idéia de apropriação dos espaços. Ao intervir num
determinado espaço e reconfigurar as experiências deste, os
“educadores” alteram toda a lógica que estava dada anteriormente. Nesse
sentido, a intervenção surge com a finalidade de transformar o espaço
das relações sociais, incitando novos modos de experimentação e novas
formas de pensar a sociedade numa espécie de fusão da arte com a vida. Os
“educadores” se apropriam do espaço no interior das mansões,
com o intuito de fazer transparecer o conflito de classe. Ao invés de
simplesmente aceitarem a separação entre lugares ou posição social, os
“educadores” protestam contra a lógica contraditória e
destrutiva do capital, a acumulação e expansão capitalista. Porém, de
forma criativa, artística e quase banal. A
idéia de resistência pautada nos atos estéticos como configurações de
experiência, que ensejam e induzem novas formas de pensar, tornam visível
o conteúdo simbólico do protesto destes jovens. Ao se apropriarem
temporariamente do espaço dos ricos, os “educadores”
misturam existência privada e vida pública. Para Rancière (1996), a política é um assunto de sujeitos, ou melhor, de modos de subjetivação e ela só existe na igualdade entre as pessoas. Os personagens do filme exacerbam esta idéia na medida em que sua forma de protesto soa não apenas como uma brincadeira, mas como um ruído, uma voz que produz dano, evidenciando o conflito que há entre capital e trabalho. Rancière busca em “A educação estética do homem” de Schiller, a idéia de arte como formadora e auto-formadora da vida, a noção schilleriana de “atividade do pensamento versus passividade da matéria sensível”. Emerge daí a idéia de partilha do sensível que coloca “o trabalho como encarceramento do trabalhador no espaço-tempo privado de sua ocupação, sua exclusão da participação ao comum”. (RANCIÈRE, 2005: 64) Schiller assinala a partilha política, ou seja, “a partilha entre os que agem e os que suportam; entre as classes cultivadas, que têm acesso à uma totalização da experiência vivida, e as classes selvagens, afundadas nas fragmentações do trabalho e da experiência sensível”. O estado “estético” pensado por Schiller quer abolir a idéia de sociedade fundada sobre a oposição entre os que pensam e decidem e os que são destinados aos trabalhos materiais. (RANCIÈRE, 2005: 39 e 66) Ao tentar romper com a divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual, os “educadores” se baseiam numa forma de “educação estética” na tentativa de criar condições para uma comunidade política livre. No filme a explicitação do dano e da desigualdade expressa a forma de educação política dos personagens, educar com vistas a polemizar e trazer à tona o conflito de classes. E que, por outro lado, politicamente há algo a se fazer, que a igualdade política, econômica e social não deve privilegiar apenas uma parcela pequena do mundo. Os “educadores” perturbam a ordem das coisas a partir do momento em que invadem e desarrumam móveis, transformando atos que poderiam ser privados numa ação pública. Os “educadores” retiram o espaço privado que antes era do capitalista para fazer emergir sua identidade de proletário, e com ela, a desigualdade e a luta de classes. Os
“educadores” por meio de
suas intervenções tornam visível o que estava escondido: a luta de
classes. Em nome da liberdade e igualdade, Jan, Peter e Jule, enunciam o
dano ao personificar a figura do proletariado, que em ação, se constitui
refazendo a própria experiência, “... por
uma série de atos, de uma instância e de uma capacidade de enunciação
que não eram identificáveis num
campo de experiência dado, cuja identificação portanto caminha a par
com a reconfiguração do campo da experiência”.(RANCIÈRE,
1996: 47) A
reconfiguração do campo da experiência nada mais é que a explicitação
de cenas paradoxais que interrompem a ordem das coisas, explicitando a
contradição inerente à relação capital-trabalho. Na própria
argumentação sobre o mundo em que vivem, os “educadores”
expõem que o pacto social realizado na democracia nada mais fez que
acentuar as desigualdades sociais. Os “educadores”
revelam o que há de injustiça ou desigualdade, no pacto que garantia
justamente o seu contrário. Desta maneira, os jovens arruínam com toda a
argumentação do “somos todos
livres e iguais”. O debate ideológico: o capitalismo na mira dos “educadores” A
história de “Os Educadores”
toma outro rumo quando, Jan e Jule, acabam por invadir a casa do empresário
Hardenberg como forma de vingança. Jule esquece o celular na casa do
empresário e acaba sendo surpreendida. Com medo e acuados, Jule e Jan
telefonam para Peter. Os três decidem seqüestrar o empresário e levá-lo
para uma região montanhosa nos arredores de Berlim. Isolados
numa cabana, os “educadores” e Hardenberg travam um debate
ideológico sobre as relações capital-trabalho, a desigualdade de renda
e a miséria nos países de Terceiro Mundo. É
neste momento que se dá o debate entre duas gerações: a geração que
viveu as agitações políticas do maio de 1968 (personificada pelo empresário
Hardenberg) e a nova geração (os “educadores”) adeptos da política
pacifista. Hardenberg
questiona os “educadores” sobre a dimensão política desse
tipo de ação: “O que vocês pretendem atingindo tão pouco?”
É quando Jan proclama que esta pequena ação é apenas uma pequena célula
revolucionária que se multiplicará pelo país, e que o objetivo é mudar
o mundo, mas de uma forma original, através da enunciação dos conflitos
por meio de atos estéticos e simbólicos. Em
seguida, Hardenberg faz um elogio à chamada democracia liberal. Nesta
passagem, o personagem se
aproxima dos ideais da ética protestante, citada por Max Weber a respeito
da idéia do trabalho e da felicidade enquanto vocação. Neste sentido,
haveria aqueles que merecem ou não a felicidade, e só é feliz quem
devota seu tempo ao trabalho; aqueles que trabalham pouco ou são pobres são
vistos como fracassados ou incapazes. Para Hardenberg, sua fortuna e seus
bens seriam oriundos das horas devotadas ao trabalho porque a democracia
assim permitiu: “Se trabalhar, todos temos chances”. ...
a obtenção de mais e mais dinheiro (...) é pensado tão puramente como
uma finalidade em si, que chega a parecer algo superior à
“felicidade” ou “utilidade” do individuo.(...) O homem é dominado
pela produção de dinheiro, pela aquisição encarada como finalidade última
da sua vida. A aquisição econômica não mais está subordinada ao homem
como meio de satisfazer suas necessidades materiais. (WEBER, 1997: 33) Contudo,
os “educadores” não se convencem desta idéia e o questionam, sobre a acumulação
de bens e riquezas que de forma perversa atinge os pobres por meio da má
distribuição de renda: “Vocês
controlam os pobres com mercadorias baratas. Vocês os exaurem até o
limite”. Em defesa dos valores democráticos, Hardenberg afirma que o sistema capitalista não mudará nunca porque os seres humanos querem sempre o melhor: a busca da felicidade baseada no acesso ao consumo. Os “educadores” retomam e enfatizam que, quanto mais bens e riquezas são produzidos e acumulados nos países desenvolvidos, mais os países na periferia do capitalismo sofrem as conseqüências. Esta passagem do filme assemelha-se ao que Karl Marx define como aspectos da alienação do trabalhador. Na mesma proporção que produz riquezas, o trabalhador esgota suas energias e capacidades subjetivas: O
trabalho produz maravilhas para os ricos, mas produz desnudez para o
trabalhador. Produz palácios, mas cavernas para o trabalhador. Substitui
o trabalho por máquinas, mas joga parte dos trabalhadores de volta a um
trabalho bárbaro e faz da outra parte máquinas. Produz espírito, mas
produz idiotia, cretinismo para o trabalhador. (MARX, 2003:152) Numa
seqüência posterior, Hardenberg diz
respeitar os ideais dos “educadores”,
e comenta que, na década de 60, também participou de manifestações
juvenis de uma comunidade de
estudantes libertários e foi um dos líderes do partido social democrata,
e que acabou mudando de vida ao acreditar na felicidade da
democracia. Em
suma, de militante revolucionário, Hardenberg tornou-se um exemplo do
movimento yuppie, símbolo
de pessoas bem sucedidas no emprego e com estilo de vida consumista que
predominou no final da década de oitenta, exatamente na transição do
fordismo/taylorismo para o regime de acumulação flexível, como o
exemplo ideal de trabalhador. E que nos remete a outra frase da ética
protestante, a respeito do que leva um indivíduo a se adaptar ao sistema:
“Quem
não adaptar sua maneira de vida às condições de sucesso capitalista é
sobrepujado, ou pelo menos não pode ascender” (WEBER,
1997: 47). O
mercado de trabalho funciona nesta lógica, aqueles que não se adaptam ao
sistema ou não se atualizam profissionalmente, ficam excluídos do
mercado de trabalho: “no
capitalismo, mesmo em um momento de promessas de integração de todos, há
os que ficam à margem” (SANTANA,
2004: 52). O
filme termina quando os “educadores”
libertam Hardenberg e desistem do dinheiro do resgate. Depois de refletir,
no dia seguinte o empresário resolve denunciar os “educadores”
à polícia alemã, voltando atrás de sua decisão de perdoar a dívida
de Jule e manter em sigilo a identidade dos Educadores. A
cena final revela que os jovens não só conseguiram enganar a polícia
como rumam em um barco decididos a explodir as antenas de televisão de
treze canais do Mediterrâneo, com a finalidade de atingir o pólo
incentivador do consumo que mascara as desigualdades sociais: a mídia. Entendemos
que todo o conteúdo de ação dos “educadores”
se baseou em atos simbólicos de confrontação ao capitalismo e, nisto
reside a noção da “destruição
criativa”,
da criatividade que se origina a partir da destruição. Considerações FinaisLonge
de ser apenas um filme sobre jovens idealistas, “Os Educadores”
traz para o debate o conflito das relações capital-trabalho e das
transformações deste, bem como a problemática da desigualdade sócio-econômica.
O roteiro de Weingartner é sensível às questões da política e da
sociedade, e principalmente às idealizações de uma juventude que almeja
um mundo mais justo. O
saudosismo do diretor retoma os ideais da juventude que vivenciou o maio
de 1968, ao citar a frase: “As melhores idéias sempre sobrevivem”.
O conflito de gerações e o debate ideológico entre os jovens
“educadores” e Hardenberg, o empresário bem sucedido, é um dos
momentos do filme mais profundos. Neste momento, Hardenberg, um
ex-militante de esquerda na juventude, conta como se tornou parte do
sistema capitalista e do movimento yuppie. O personagem sugere que o
idealismo é inerente à juventude, pois, quando se têm novas
necessidades ou família para sustentar, torna-se obrigatório fazer parte
do sistema. Todavia,
é necessário destacar que o filme apesar de tratar de uma questão
fundamental como a relação capital-trabalho, o contexto no qual vivem os
personagens refere-se ao Primeiro Mundo, onde as condições de vida são
melhores do que em países do Terceiro Mundo, como o Brasil. Além disso,
as idéias que o filme suscita sobre atos terroristas e sobre mobilizações
sociais, precisariam ser revistas do ponto de vista conceitual. A
contribuição de “Os
Educadores” está em
promover o debate e a reflexão acerca do político e das contradições
sociais do sistema capitalista. Porém, pensamos que o confronto
direto entre a vida real e o que ela pode de efetivo percorre um caminho
longo. A
dimensão do conflito que perpassa a subjetividade dos personagens no
filme não menciona a questão da ação coletiva, que é fundamental para
os trabalhadores e a defesa de seus direitos. Não podemos deixar de mencionar que a dimensão da subjetividade tem sido um dos núcleos de exploração do capital, com o intuito de anulá-la ou domesticá-la, por meio desse processo incessante e interminável de alterações no ritmo, espaço, novas formatos e novas exigências do mercado de trabalho. A cada transformação nas relações de trabalho e produção os trabalhadores são subjetivamente fragmentados e enfraquecidos, e numa perspectiva de mobilização coletiva a classe, desaparece, dando lugar à necessidade de qualificação profissional, acentuados pelo medo do desemprego. ________________ [1] Agradeço ao colega Davi
Boruszewski, que enriqueceu as discussões abordadas ao longo deste
artigo. |
|
|||||
|
Referências
Bibliográficas HARVEY,
David. A condição pós-moderna. 13.º ed. Trad. Adail Ubirajara Sobral e
Maria Stela Gonçalves. São Paulo: Loyola, 2004. MARX,
K. Trabalho alienado e superação positiva da auto-alienação humana.
(Manuscritos econômicos-filosóficos de 1844). In: FERNANDES, Florestan
(org.). Marx e Engels.3.º ed. São Paulo: Ed. Ática, 2003. pp.146-181. (Col.Grandes
Cientistas Sociais). MARX,
Karl e ENGELS, Friedrich. O manifesto comunista. Trad. Maria Lucia
Como. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1998. _____.
A Ideologia Alemã. São Paulo: Hucitec, 1989. ____
O caráter fetichista da mercadoria e seu segredo. In: O capital.
Coleção Os Economistas. 2.ª ed. São Paulo: Nova Cultural, 1985a. _____Processo
de trabalho e Processo de Valorização. In: O capital: critica da
economia política. V.1, Livro Primeiro, Tomo 2, Capitulo XIII. 2.ª ed. São
Paulo: Nova Cultural, 1985 b. MILLS,
Charles Wright. O trabalho. In: A nova classe média (White
Collar). Trad. Vera Borda. Rio de Janeiro: Zahar,1979. RANCIERE,
Jacques. A partilha do sensível: estética e política. Trad. Mônica
Costa Netto. São Paulo: EXO experimental org; Ed. 34, 2005. _____.
O desentendimento: Política e filosofia. Trad. Ângela Leite
Lopes. São Paulo: Editora 34,1996. SANTANA,
Marco Aurélio. Da linha ao risco: duas imagens do trabalho. Cadernos
de Trabalho e Imagem. pp . 47-61. N.º 19, UFRJ, 2004. WEBER,
Max. A ética protestante e o espírito
do capitalismo.
Trad. Irene Q. F. Szmerecsányi e Tomás J. M. K. Szmrecsányi. São
Paulo: Pioneira, 1997. Site Oficial do Filme Os Educadores. Ficha Técnica - Título Original:Die Fetten Jahre Sind Vorbei. Ano de Lançamento (Alemanha): 2004. Direção:Hans Weingartner . Roteiro: Katharina Held e Hans Weintgartner. |
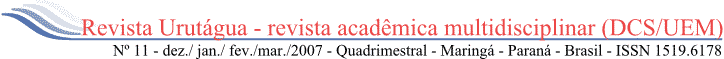
 por
por 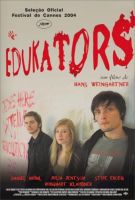 filme “Os Educadores”
(Alemanha/Áustria, 2004), analisadas por meio do conceito de “estética
política” formulada pelo filósofo Jacques Rancière em A
partilha do sensível (2005) e O desentendimento (1996).
filme “Os Educadores”
(Alemanha/Áustria, 2004), analisadas por meio do conceito de “estética
política” formulada pelo filósofo Jacques Rancière em A
partilha do sensível (2005) e O desentendimento (1996).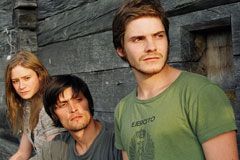 Da
alienação à ação: trabalhadores em tempos neoliberais
Da
alienação à ação: trabalhadores em tempos neoliberais seu tempo e salário para indenizar o valor de
um carro Mercedez estimado em cem mil euros, ao empresário Hardenberg.
Jule assemelha-se à representação do trabalhador comum, que se esgota,
e sente os efeitos deletérios do trabalho assalariado.
seu tempo e salário para indenizar o valor de
um carro Mercedez estimado em cem mil euros, ao empresário Hardenberg.
Jule assemelha-se à representação do trabalhador comum, que se esgota,
e sente os efeitos deletérios do trabalho assalariado.