|
|
|
Por JOÃO MARCOS MATEUS KOGAWA Estudante de graduação em Letras – Licenciatura Plena, pelo Centro Universitário da Fundação Educacional Guaxupé (UNIFEG). Bolsista do Programa de Iniciação Científica (PIC) do UNIFEG, sob orientação da Profa. Ms. Luciane de Paula, doutoranda em Lingüística pela UNESP – CAr.
_________
|
O discurso-arte de Chico Buarque:poder sobre o
sujeito brasileiro
João Marcos Mateus Kogawa
Para realizar a análise, tomaremos alguns conceitos elaborados por Michel Foucault e Mikhail Bakhtin - teóricos que constroem conceitos importantes para a AD. Dentre os conceitos, destacamos: a conceituação de sujeito – feita a partir das teorias de Foucault e Bakhtin; o conceito de discurso – pois nossa análise terá como princípio, a concepção de que o sujeito constrói-se e é construído a partir do discurso; o conceito de poder – nesse sentido, entenderemos que o sujeito, re-criado a partir do discurso, está inserido em uma rede de poderes da qual não pode se desprender; e o conceito de história – entendido sob a égide das conceituações dos teóricos da nova história. A partir das delimitações acima, gostaríamos de entender a concepção de sujeito bakhtiniana e foucaultiana. Para Bakhtin, o sujeito deve ser entendido como um eu que se constitui a partir e por meio de um outro. Sob essa ótica, a construção subjetiva dar-se-ia por meio da interação discursiva entre dois sujeitos. A linguagem, sob esse prisma, seria o elo entre as duas personagens do discurso. Bakhtin, ao propor uma filosofia marxista da linguagem, afirma que, somente no âmbito da interação verbal - portanto, relação eu-outro – é que se pode obter uma filosofia materialista da linguagem. O diálogo é, portanto, a maneira mais concreta de manifestação discursiva. Em Marxismo e Filosofia da Linguagem (BAKHTIN, 2004), o teórico propõe a dialética por meio da qual um estudo (do sujeito, do discurso, do signo) possa ser considerado “materialista”. O teórico russo critica duas posições teóricas, ambas reducionistas e mecanicistas: o “subjetivismo-individualista” e o “objetivismo-abstrato”. Por um lado, o “subjetivismo-individualista” pensa a produção do sentido como algo que deriva da consciência do sujeito. Sob esse prisma, o sujeito seria a instância fundadora do sentido. A linguagem representaria a expressão da mentalidade subjetiva. A identidade do sujeito forma-se a partir da negação de tudo o que não é idêntico a si mesmo, ou seja, a negação da diferença, do coletivo e a afirmação do individual. Por outro lado, o “objetivismo-abstrato” pensa de maneira contrária ao “subjetivismo-individualista”. Essa concepção nega a subjetividade em prol da afirmação de que tudo o que o sujeito pensa/faz resulta das determinações sociais e apenas o outro se afirma como constituinte da formação do sujeito. Bakhtin
utiliza o materialismo-dialético do pensamento marxista para elucidar a
questão. Sob essa perspectiva, o teórico afirma que ambas as formas de
pensamento estão equivocadas. O sujeito nem é o total responsável pela
produção do sentido, nem é totalmente reprodutor de discursos
cristalizados e impassíveis de nova significação. O sujeito estaria no
interstício dessas duas concepções. Sob esse ponto de vista, o
individual é fruto da interação social e coletiva. Para se constituir
como sujeito é necessário que o indivíduo interaja com outros sujeitos.
Essa idéia está proposta em Estética da Criação Verbal (BAKHTIN,
2003): Essa
distância concreta só de mim e de todos os outros indivíduos - sem exceção
- para mim, e o excedente de minha visão por ele condicionado em relação
a cada um deles (desse excedente é correlativa uma certa carência,
porque o que vejo predominantemente do outro em mim mesmo só o outro vê,
mas neste caso isso não nos importa, uma vez que na vida a inter-relação
“eu-outro” não pode ser concretamente reversível para mim) são
superados pelo conhecimento, que constrói um universo único e de
significado geral, em todos os sentidos totalmente independente daquela
posição única e concreta ocupada por esse ou aquele indivíduo;(2003,
pg. 21-22). O diálogo – entendido como interação verbal (realizado, portanto, por meio de signos ideológicos) entre um eu e um outro – , ocupa um lugar fundamental nas pesquisas bakhtinianas. Ele é a base para a concepção de sujeito (formado a partir do diálogo com outro sujeito e com o meio sócio-cultural em que está inserido), de discurso (formado a partir do diálogo com outros discursos e da(s) sociedade(s) em que esses discursos são veiculados), de signo (entendido a partir da relação com outros signos sociais), entre outras concepções que norteiam o pensamento bakhtininiano a respeito das ciências humanas modernas. Sob essa ótica, entendemos que os estudos de Bakhtin visam a um relacionamento entre o individual e o coletivo, pois, os discursos – formados por signos e utilizados subjetivamente –, co-existem dialogicamente em uma estrutura social. Para Foucault, o sujeito deve ser entendido como dispersão. Sob essa perspectiva, a análise subjetiva deve centrar-se nas posições em que os sujeitos estão inseridos. Tal dispersão pode ser entendida pelas diferentes modalidades enunciativas nas quais os sujeitos podem se inserir e ser inseridos. Como está enunciado em A Arqueologia do Saber(FOUCAULT, 2004): (...)
as diversas modalidades de enunciação, em lugar de remeterem à síntese
ou à função unificante de um sujeito, manifestam sua
dispersão: nos diversos status, nos diversos lugares, nas diversas
posições que pode ocupar ou receber quando exerce um discurso, na
descontinuidade dos planos de onde fala. Se esses planos estão ligados
por um sistema de relações, este não é estabelecido pela atividade
sintética de uma consciência idêntica a si, muda e anterior a qualquer
palavra, mas pela especificidade de uma prática discursiva (2004, pg.
61). Ao manifestar-se – ou ser manifestado – em um discurso, o sujeito pode ser entendido socialmente. Por meio do discurso, entendido como prática, é que o sujeito será percebido como mais ou menos privilegiado na organização do poder. A distribuição do poder é re-velada a partir do discurso praticado por um sujeito. Sob essa ótica, a prática discursiva é cercada por uma série de regras sociais que determinam, em maior ou menor grau, a idiossincrasia de uma época. Diversas técnicas são utilizadas para que a ordem sistêmica não seja perturbada. Podemos citar os suplícios e torturas, ocorridos na ditadura militar – período de produção de “Construção”. O poder cria diversos mecanismos e estratégias punitivas para que não se quebre a “ordem natural das coisas”. Foucault, assim como Bakhtin, renega o “sujeito fundante”. Ele associa tal noção a uma dupla “banalização” teórica: uma “antropologização de Marx” e uma “transcendentalização de Nietzsche”. Isso quer dizer que, por um lado, a ingenuidade teórica anterior ocultava as diferenças de classes e as lutas em nome da consciência fundadora, ou seja, pensava-se a história a partir da consciência fundante e não da luta de classes – interpretação reducionista da teoria marxista; por outro, a idéia de consciência fundadora desconsidera a materialidade dos acontecimentos históricos – não os entende como resultantes de fatores subjetivo-sociais – pois busca neles a origem a partir da qual a história se desencadearia numa causalidade lógica – idéia que se contrapõe a Nietzsche e às concepções da nova História. No texto A Arqueologia do Saber, encontramos o seguinte trecho, a respeito dessa dupla banalização: Somos, então, levados a antropologizar Marx, a fazer dele um historiador das totalidades e a reencontrar nele o propósito do humanismo; somos levados a interpretar Nietzsche nos termos da filosofia transcendental e a rebaixar sua genealogia no plano de uma pesquisa do originário; finalmente, somos levados a deixar de lado, como se jamais tivesse aflorado, todo esse campo de problemas metodológicos que a história nova propõe hoje (2004, pg. 15). Sob a ótica do pensamento marxista, que propõe a luta de classes como “combustível” para a movimentação histórica, Foucault aponta para uma análise que relaciona saber e poder na sociedade contemporânea. Diríamos que a diferença de classes pode ser percebida pela posição ocupada pelos sujeitos de determinada classe na hierarquia do poder. Ressaltamos a nova concepção de poder elaborada por Foucault. Ela se contrapõe à corrente althusseriana, que entende o poder como algo que se direciona à classe dominante – dos aparelhos ideológicos e repressivos de Estado – para a classe dominada. Foucault, por sua vez, propõe que se entenda o poder como micro-poder. Nessa perspectiva, o poder deve ser entendido como uma estratégia. Como algo que se exerce mais do que se possui. O poder age por meio de técnicas e funcionamentos, o que significa dizer que ele se estende por todas as camadas da sociedade. Embrenha-se pelas mais ínfimas relações sociais. É isso que entendemos como poder em escala micro, em Vigiar e Punir (FOUCAULT, 2003): Ora,
o estudo desta microfísica supõe que o poder nela exercido não seja
concebido como uma propriedade, mas como uma estratégia, que seus efeitos
de dominação não sejam atribuídos a uma “apropriação”, mas a
disposições, a manobras, a táticas, a técnicas, a funcionamentos;(...)
O que significa que essas relações aprofundam-se dentro da sociedade,
que não se localizam nas relações do Estado com os cidadãos ou na
fronteira das classes e que não se contentam em reproduzir ao nível dos
indivíduos, dos corpos, dos gestos e comportamentos, a forma geral da lei
ou do governo (2003, pg. 26).
Foucault estabelece uma relação importante entre saber e poder. As posições sociais mais privilegiadas com relação à divisão do poder, geralmente, são aquelas que exigem dos sujeitos, um maior grau de especialização do saber. Nesse sentido, ficam excluídos dessas posições os sujeitos que não possuem um grau de saber legitimamente reconhecido sócio-institucionalmente. Historicamente, o poder cria mecanismos novos para se manter. Percebemos, a partir da análise dos estudos foucaultianos, que, a uma nova configuração do poder, há uma nova configuração do saber. È o caso, por exemplo, da instituição dos órgãos de informação, em grande escala, no período ditatorial. Para garantir a manutenção do poder militar, o sujeito que ousasse criticar era submetido a uma série de interrogatórios a respeito de suas posições político-sociais. Caso as convicções do interrogado não condissessem com as prerrogativas do poder militar, o sujeito era preso, torturado ou morto. Para tal, existiam o CIE (Centro de Informações do Exército), o CENIMAR (Centro de Informações da Marinha), o CISA (Centro de Informações e Segurança da Aeronáutica) o CODI (Centro de Operações de Defesa Interna), entre outros, que visavam à adequação dos sujeitos nos moldes ditados pelo poder. A partir do laudo obtido pela avaliação dos censores, o sujeito era libertado ou não. Notamos, então, a profunda relação entre saber e poder. A subversão é o saber que permite a exclusão de determinado tipo de sujeito das altas posições de poder. Falamos em evolução histórica do poder. Mas, o que vem a ser a história sob a ótica foucaultiana? Para Foucault, a história deve ser entendida sob a perspectiva da descontinuidade. O conceito de acontecimento torna-se nodal para a compreensão da nova história. O acontecimento é aquilo que não se pode prever ou explicar. É o fator que modifica as estruturas sociais e, nem sempre, se pode chegar a uma causa específica. A análise deve centrar-se, portanto, nos acontecimentos, e não nas origens. Muitas vezes, pensa-se a história como uma série de acontecimentos que se desencadeiam uns após os outros, numa causalidade lógica. A visão histórica fica limitada à visão do saber dominante a respeito dos acontecimentos passados. O que Foucault teoriza é uma nova história. Sob esse ponto de vista, considera o caráter sincrônico da “evolução”, ou seja, a história caminha por rupturas e, para que se possa entender determinadas conjunturas sócio-político-lingüístico-culturais, é necessário recortar um determinado momento para que se possa realizar uma análise rigorosa. Há
quem diga que pensar os acontecimentos sincronicamente é realizar uma análise
não-histórica, pois se atribui a esse tipo de análise, a idéia de que
ela não considera a evolução. Sob essa ótica, afirma-se que o estudo
estrutural fundamenta-se em fatos estáticos. Entretanto, concordamos com
a seguinte passagem do texto Foucault e Pêcheux na análise do
discurso - diálogos e duelos (GREGOLIN, 2004): (...)
o ponto de vista sincrônico não é a-histórico e muito menos anti-histórico,
não é escolher o imóvel contra o evolutivo por algumas razões: 1) não
se deve identificar a História com o sucessivo pois é preciso admitir
que ela é tanto simultaneidade quanto sucessividade; 2) a perspectiva
sincrônica procura entender as condições da mudança, isto é, quais são
as transformações que toda língua deveria sofrer para que um só dos
elementos seja modificado. (...) A concepção de “história” da Lingüística
estrutural está ligada à renovação das disciplinas históricas, que
introduziram as noções de descontínuo e de transformação; (2004,
pg. 29). O trecho supracitado vai ao encontro das teses foucaultianas a respeito da história, a partir de então, considerada como descontínuo, como ruptura. Trata-se não mais de história, mas de histórias (FOUCAULT, 2004): Da mobilidade política às lentidões próprias da “civilização material”, os níveis de análises se multiplicaram: cada um tem suas rupturas específicas, cada um permite um recorte que só a ele pertence; e, à medida que se desce para bases mais profundas, as escansões se tornam cada vez maiores. Por trás da história desordenada dos governos, das guerras e da fome, desenham-se histórias, quase imóveis ao olhar - histórias com um suave declive: história dos caminhos marítimos, história do trigo ou das minas de ouro, história da seca e da irrigação, história da rotação das culturas, história do equilíbrio obtido pela espécie humana entre a fome e a proliferação (2004, pg. 3). Acreditamos que essas noções teóricas são importantes para a realização da análise discursiva proposta por nós. Trata-se, sob esse prisma teórico, de entender o sujeito discursivo de “Construção” – posicionado socialmente e interativo com o outro – como inserido numa conjuntura histórica dada - a ditadura militar; numa dada organização de poder - repressivo, exclusivo, ditador. Atentemos para a canção:
Construção Amou
daquela vez como se fosse a última Beijou
sua mulher como se fosse a última E
cada filho seu como se fosse o único E
atravessou a rua com seu passo tímido Subiu
a construção como se fosse máquina Ergueu
no patamar quatro paredes sólidas Tijolo
com tijolo num desenho mágico Seus
olhos embotados de cimento e lágrima Sentou
pra descansar como se fosse sábado Comeu
feijão com arroz como se fosse um príncipe Bebeu
e soluçou como se fosse um náufrago Dançou
e gargalhou como se ouvisse música E
tropeçou no céu como se fosse um bêbado E
flutuou no ar como se fosse um pássaro E
se acabou no chão feito um pacote flácido Agonizou
no meio do passeio público Morreu
na contramão atrapalhando o tráfego Amou
daquela vez como se fosse o último Beijou
sua mulher como se fosse a única E
cada filho seu como se fosse o pródigo E
atravessou a rua com seu passo bêbado Subiu
a construção como se fosse sólido Ergueu
no patamar quatro paredes mágicas Tijolo
como tijolo num desenho lógico Seus
olhos embotados de cimento e tráfego Sentou
pra descansar como se fosse um príncipe Comeu
feijão com arroz como se fosse o máximo Bebeu
e soluçou como se fosse máquina Dançou
e gargalhou como se fosse o próximo E
tropeçou no céu como se ouvisse música E
flutuou no ar como se fosse sábado E
se acabou no chão feito um pacote tímido Agonizou
no meio do passeio público Morreu
na contramão atrapalhando o público Amou
daquela vez como se fosse máquina Beijou
sua mulher como se fosse lógico Ergueu
no patamar quatro paredes flácidas Sentou
pra descansar como se fosse um pássaro E
flutuou no ar como se fosse um príncipe E
se acabou no chão feito um pacote bêbado Morreu
na contramão atrapalhando o sábado. Percebemos
que se trata de um gênero textual, com marcas narrativas (típicas da
obra buarqueana), enunciado em terceira
pessoa. Afirmamos isso porque percebemos que a canção narra o percurso
de um sujeito ou, a ação de um sujeito num espaço e num tempo.
Comprovamos isso ao atentarmos para ações – realizadas pelo sujeito
– como: “Subiu a construção
como se fosse sólido/Ergueu no patamar quatro paredes mágicas”. Entendemos
que o sujeito que sobe a construção, ergue quatro paredes e senta pra
descansar é um outro no discurso. É alguém a respeito do qual se contará
algo. Como trabalhamos com o conceito foucaultiano e bakhtiniano de
sujeito, não há necessidade de sabermos qual é o nome dele –
inclusive não encontramos marcas no texto que nos permitam saber o nome
dele. Sob essa ótica, consideramos a indeterminação desse sujeito –
no sentido de que não sabemos seu nome –, como uma maneira de nos fazer
pensar a respeito de uma função social. Mais que isso, trata-se, em
nossa leitura, de um operário da construção civil. O trecho: “Subiu
a construção como se fosse máquina/Ergueu no patamar quatro paredes sólidas/Tijolo
com tijolo num desenho num desenho mágico”; nos transmite essa idéia
e nos permite pensar no sujeito de “Construção” como um operário.
Os elementos “construção”, “quatro paredes” e
“tijolo” convergem para a formação discursiva do campo da construção
civil. Inclusive são esses elementos que justificam o título da canção.
Além disso, o momento histórico de produção da canção foi marcado
por acidentes de trabalho, baixos salários e longas jornadas de trabalho
na sociedade brasileira. Não descartamos que esses versos podem adquirir,
numa outra leitura, um caráter metafórico. Contudo, a título de
delineamento de nossa análise, não nos ateremos a esse aspecto. Mas, esse sujeito, a nosso ver, não pode ser entendido apenas por sua função social, mas também pelas interações que ele realiza. Sob essa perspectiva, incluímos, na rede de relações que o sujeito faz, a figura dos filhos e da mulher, marcadas no texto por “Beijou sua mulher como se fosse a última”; “E cada filho seu como se fosse o pródigo”. Ressaltamos que existe mais de um filho. Isso fica patente pela expressão “E cada filho”, que inicia o verso. Percebemos, a partir dessa marca lingüística, um apontamento para uma possível “realidade” brasileira daquela época e da atual: “a do trabalhador com mulher e filhos para cuidar”. Além dessas interações subjetivas, marcadas no texto, existem outras pressupostas. Citamos, por exemplo, a figura do encarregado de obras, que, provavelmente, fiscalizava o trabalho do operário, do dono da construção, que certamente pagava o salário do sujeito operário, entre outros. O sujeito dessa canção identifica-se com vários outros que, por sua vez, conferem sentido - ou não - à sua existência, ou seja, permitem que ele se constitua como sujeito. Sob esse duplo aspecto - posicional e interativo - podemos entender as regras que o poder impõe ao sujeito operário. Atentemos para o seguinte trecho: “Subiu a construção como se fosse máquina/Ergueu no patamar quatro paredes sólidas”. Ao ser comparado à máquina, o sujeito recebe uma definição que nos permite pensar o operário da construção. Nesse sentido, ele deve realizar suas funções mecanicamente, sem pensar ou questionar. Os passos devem ser seguidos metodicamente para que não se perca tempo nem dinheiro. Notamos aqui, a profunda disciplinarização existente para que o operário produza de maneira eficaz. Essa é uma das marcas da sociedade capitalista contemporânea. Em Vigiar e Punir (FOUCAULT, 2003: 184), há a seguinte passagem: As disciplinas ínfimas, os panoptismos de todos os dias podem muito bem estar abaixo do nível de emergência dos grandes aparelhos e das grandes lutas políticas. Elas foram, na genealogia da sociedade moderna, com a dominação de classe que a atravessa, a contrapartida política das normas jurídicas segundo as quais era redistribuído o poder. Daí sem dúvida a importância que se dá há tanto tempo aos pequenos processos da disciplina, a essas espertezas à toa que ela inventou, ou ainda aos saberes que lhe emprestam uma face confessável; daí o receio de se desfazer delas se não lhes encontramos substituto; daí a afirmação de que estão no próprio fundamento da sociedade, e de seu equilíbrio, enquanto são uma série de mecanismos para desequilibrar definitivamente e em toda a parte as relações de poder; daí o fato de nos obstinarmos a faze-las passar pela forma humilde mas concreta de qualquer moral, enquanto elas são um fixe de técnicas físico-políticas. É isso que percebemos no sujeito de “Construção”. Ele internalizou de tal forma os mecanismos disciplinares impostos pelo poder, que a realização de suas atitudes, suas ações, tornaram-se mecanizadas. Entretanto, abriremos um parêntese: no sistema ditatorial, a não internalização das regras implica a tortura física. O questionamento aciona o dispositivo punitivo que age diretamente sobre os corpos in-dóceis. No trecho citado, percebemos que Foucault enuncia sua concepção de micro-poder. Nesse sentido, o sujeito de “Construção”, ao interagir com os demais, está inserido numa rede de poderes da qual não pode se desprender. Com relação aos membros da família, ele é o chefe. Com relação aos superiores no trabalho – pressupostos pela função social ocupada – ele é chefiado. Sob a ótica foucaultiana, entendemos que a análise do sujeito re-criado nos discursos-canções de Chico permite a compreensão de uma das marcas do discurso buarqueano: a crítica a um poder. Mais que isso, a crítica a um poder que impede que o sujeito constitua-se como tal. Nesse sentido, compreendemos que o poder ditatorial, “refletido e refratado” pelo sujeito operário de “Construção”, torna os sujeitos objetos. Ao representar esse sujeito em seu discurso, Chico confere voz a esse marginal. Se, no cotidiano, o sujeito-operário da construção civil tem que ir automaticamente de casa para o trabalho e vive-versa. No discurso-canção há uma crítica sutil a esse comportamento-típico de um período de repressão política. Aparentemente, “Construção” reproduz uma situação corriqueira de trabalho. Essencialmente, o percurso realizado pelo operário é algo a não ser seguido. Percebemos o tom crítico pela sanção dada ao sujeito e pela indiferença do sistema quanto à morte dele, como fica explícito no seguinte trecho: “Morreu na contramão atrapalhando o público”. A morte do sujeito é a sanção negativa que atrapalha o trânsito, ou seja, que impede o funcionamento da engrenagem. É importante ressaltar que essa era a “realidade” de muitos brasileiros naquela época. Muitos cidadãos mantinham-se por meio do trabalho na construção civil. Se efetuarmos uma reflexão sócio-histórica do período em que “Construção” foi composta, entenderemos as possíveis influências das condições de produção. O setor industrial no Brasil tomava grandes proporções. Diríamos que o setor industrial inchava. O crescimento das indústrias e o incentivo dado às multinacionais traziam benefícios “reais” apenas às classes média e alta. A classe trabalhadora era explorada e submetida a longas jornadas de trabalho devido aos baixos salários. Trabalhava-se mais para compensar a baixa salarial. Dentre
as indústrias, uma das que mais crescia era a de construção civil,
devido aos incentivos do BNH (Banco Nacional de Habitação) (HABERT,
2003). Os empréstimos feitos pelo BNH eram destinados àqueles que
desejassem construir sua casa própria. Entretanto, as classes que mais se
beneficiaram com os empréstimos foram a média e a alta. De acordo com
Nadine Habert, “A indústria da
construção foi alimentada pelos imensos recursos do BNH provenientes do
FGTS. Em tese, o BNH destinaria os recursos para a construção de casas
populares, mas, na prática, a maior parte serviu para financiar imóveis
para os setores de renda alta e média” (2003, pg.16). Além disso, o número de acidentes de trabalho era muito elevado. Essa é outra marca contextual que nos permite realizar uma leitura crítica de “Construção”. O sujeito da canção cai do andaime – fator que o leva à morte. Para o cidadão que vivia e sabia dos acontecimentos, a crítica era patente. Ainda de acordo com Habert: Em meados da década, o Brasil foi considerado campeão mundial em acidentes de trabalho. Os números são sempre imprecisos, pois boa parte dos acidentes de trabalho não é registrada pelas empresas. Estima-se que dos 36 milhões de pessoas que compunham a PEA (População Economicamente Ativa), dois milhões foram vítimas de acidentes de trabalho. Só no ano de 1974, no Estado de São Paulo, região mais industrializada do País, um quarto da força de trabalho registrada foi atingida, considerando-se apenas os números dos acidentes de trabalho que foram registrados (780 mil casos) (2003, pg.12-13). Ao
analisarmos “Construção”, notamos uma marca do discurso de
Chico, com relação à criação de seus sujeitos excluídos: por meio de
um processo de identificação, o discurso pode causar, nos cidadãos
“reais”, um sentimento de inquietação; a canção, enquanto gênero
artístico, tem o poder de despertar nos cidadãos, a consciência crítica
e a sensação de revolta[1].
Nesse sentido, entendemos o discurso buarqueano como uma prática que, por
uma espécie de empatia, gera, nos cidadãos “reais” que ouvem a canção,
uma revolta. O sujeito de “Construção”
representa uma classe de sujeitos “reais” que compõem a sociedade
brasileira. Assim, entendemos que o sujeito da canção passa a ser o
outro, com quem os sujeitos excluídos brasileiros podem se identificar e
re-pensar sua condição social. Como observamos em Estética da criação
verbal: “(...) porque de dentro de mim mesmo existe apenas a minha auto-afirmação
interna, que eu não posso projetar sobre minha expressividade externa
separada da minha auto-sensação interna, porque ela se contrapõe a mim
no vazio axiológico, na impossibilidade de afirmação” (2003,
p. 29). Sob
esse prisma, entendemos o poder do discurso para excluir os sujeitos do
poder ou dar voz àqueles que são excluídos. Por meio do discurso, a
ordem pode ser mantida ou “destruída”. Percebemos que o discurso não
se resume a uma série de enunciados que representam uma expressão
verbal, mas que ele se constitui como uma prática de poder. Por um lado,
pode ser considerada a grande arma reacionária utilizada pelo poder. Por
outro, é a possibilidade de se propor uma mudança na organização do
poder. O discurso é aquilo de que queremos nos apoderar para que tenhamos
poder. Nesse sentido é que Foucault relaciona saber e poder. O saber
institucionalizado, enquanto discurso reconhecido socialmente, é que
confere poder aos sujeitos. Os excluídos, nessa perspectiva, não possuem
saber legitimado e ficam desprestigiados na rede de poder, como enunciado
em A ordem do discurso (FOUCAULT, 1996): (...) o discurso (...) não é simplesmente aquilo que manifesta (ou oculta) o desejo; é, também, aquilo que é o objeto do desejo; e visto que - isto a história não cessa de nos ensinar - o discurso não é apenas aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar (1996, pg.10). Entendemos, dessa forma, que a canção de Chico Buarque representa a voz daqueles que estão marginalizados pelo poder. Por meio da obra artística, a canção mais especificamente, realiza-se a construção de um sujeito que, por meio de suas ações, mostra-nos um modelo a não ser seguido. A crítica a esse tipo de posicionamento social – a posição que apenas reproduz as regras do sistema – fica patente se atentarmos para o seguinte trecho: “Morreu na contramão atrapalhando o público”. Ao observarmos a morte do sujeito e a indiferença com que o sistema trata esse fato, notamos que o agir do sujeito não é valorizado como tal, mas como a ação de um objeto. O sujeito, nesse sentido, torna-se apenas uma peça na engrenagem da estrutura. Ao refletirmos a respeito da construção de seus sujeitos excluídos, notamos uma marca importante do discurso de Chico Buarque: a inversão dos valores e papéis sociais. O sujeito excluído socialmente ganha voz no discurso de Chico. A valoração dada a esse sujeito permite-nos pensar a organização da estrutura social brasileira - naquele momento, cerceada por disparidades econômicas, sociais e políticas. Percebemos que, ao construir uma canção que coloca no centro da cena um operário de construção civil, o discurso buarqueano propõe uma reflexão àqueles que se mostram alienados às condições sociais em que vivem. Conforme já observamos, o Brasil, passava por um processo de expansão industrial – em termos numéricos. Destacamos o impulso que ganhou a construção civil. Sob essa ótica, podemos entender que o número de operários nesse setor da economia era grande. Sob esse aspecto, compreendemos que o discurso de Chico Buarque tomou grandes proporções, pois, de certa forma, os cidadãos “reais”, podiam identificar-se com os sujeitos das canções. Não podemos esquecer que essa canção foi censurada. Há quem diga que o fim da ditadura ocorreu devido à decisão dos próprios políticos. Não descartamos isso. Contudo, propomos o seguinte questionamento: Por que os ditadores optaram pelo fim da ditadura? Será que a impopularidade não foi um dos fatores que pôs fim ao regime? O que teria levado a população a perceber que estava inserida em um ferrenho esquema de repressão física, política, entre outras? A isso, podemos responder que, naquele momento histórico, canções como as de Chico Buarque desempenharam um papel fundamental para a reflexão crítica da nação. Os sujeitos re-criados pelo discurso buarqueano, representaram, de alguma forma, os outros – no sentido bakhtiniano – com os quais a população identificava-se e repensava sua condição de vida. Não fosse assim, por qual motivo a censura proibiria a divulgação das canções? Sem dúvida a arte – de Chico especificamente – representou um papel importante na formação da consciência crítica da população. Não queremos afirmar que o final da ditadura deve-se às canções de Chico Buarque ou que todos os cidadãos brasileiros ouviram e se identificaram com as canções. Não descartamos que muitas pessoas sequer tomaram conhecimento da obra de Chico. O que propomos é que, dentro da série de fatores que contribuíram para o fim do regime, a arte de Chico não pode passar desapercebida. A arte brasileira não pode ser ignorada. Sabemos que o Brasil não é um país de tradição intelectual como a Grécia, a Alemanha ou a França. Mas isso não quer dizer que aqui não se produz conhecimento ou que em nosso país não há consciência crítica. O Brasil é mais que o país do futebol ou do carnaval - no sentido pejorativo que esses epítetos adquiriram. A obra de Chico Buarque é um dos acontecimentos que “refletem e refratam” a história brasileira. O fim da ditadura pode ser entendido como resultado de uma série de manifestações populares, provocadas pela tomada de consciência proposta pela arte. Segundo Pound: “Os artistas são as antenas da raça” (POUND, 1970, pg. 13). Marshal McLuhan (apud POUND, 1970) define a afirmação do poeta da seguinte maneira: O poder das artes de antecipar, de uma ou mais gerações, os futuros desenvolvimentos sociais e técnicos foi reconhecido há muito tempo. A arte, como radar, atua como se fosse um verdadeiro ‘sistema de alarme premonitório’, capacitando-nos a descobrir e a enfrentar objetivos sociais e psíquicos, com grande antecedência. (1970, pg. 13) Com isso, concluímos que a arte de Chico propõe a mudança de um sistema - o sistema ditatorial - por meio da criação de sujeitos que “refletem e refratam” a “realidade” social brasileira com o propósito de invertê-la. Sob essa ótica, ao abordarmos os conceitos de “sujeito”, “poder”, “história” e “discurso”, sob a ótica da AD, pudemos entender a organização de um aspecto do discurso de Chico: o aspecto crítico. Relacionamos, neste artigo, teoria lingüística e discurso literário-musical (canção) para realizarmos uma possível análise do discurso da canção “Construção”. Todavia, longe de querermos esgotar os vários sentidos e as várias leituras que podem ser apreendidos dessa canção, propusemos uma das leituras possíveis.
________
[1] Poderíamos falar no efeito catártico que a canção gera na população, mas, neste artigo, preferimos não retomar o conceito Aristotélico por uma questão de delineamento. Acreditamos que o conceito de catarse seria mais adequado sob uma perspectiva literária. Não mencionamos esse conceito por uma questão de opção teórica. |
|
|||
|
REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS BAKHTIN,
M. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2003. ___.
Marxismo e Filosofia da Linguagem. São Paulo: HUCITEC, 2004. FOUCAULT,
M. A arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Forense, 2004. ___.
A ordem do discurso. São Paulo: Edições Loyola, 1996. ___.
Vigiar e Punir. Petrópolis: Vozes, 2003. GREGOLIN,
M. R. V. Foucault e Pêcheux na análise do discurso - diálogos e
duelos. São Carlos, SP: Claraluz, 2004. HABERT,
N. A década de 70: apogeu e crise da ditadura militar brasileira.
São Paulo: Ática, 2003. HOLLANDA,
C. B. de. “Construção”. Construção. Cidade:
Gravadora, 1971. POUND, E. ABC da Literatura. São Paulo: Cultrix, 1970. |
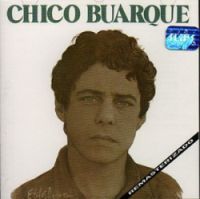 Este
artigo foi construído a partir de nosso projeto de iniciação científica,
denominado: Chico Buarque: Sobretudo Compositor, Contudo Denunciador.
No referido projeto, analisamos algumas canções de Chico Buarque por
meio da Análise do Discurso de linha francesa (AD), com o objetivo de
destacar as características político-críticas presentes nos
discursos-canções buarqueanos. Intentamos, portanto, neste artigo,
analisar discursivamente a canção “Construção”, composta
por Chico em 1971. Mais que isso, refletir a respeito do comportamento do
sujeito projetado nessa canção e a maneira como o poder o cerceia, no
sentido de anular qualquer tipo de atitude não programada. Pretendemos
compreender, a partir da análise subjetiva, um tipo identitário-cultural
brasileiro daquela época: o excluído pelo poder. Além disso,
relacionaremos alguns acontecimentos históricos que, possivelmente,
corroboraram com a composição literário-discursiva desse sujeito ou,
pelo menos, caracterizaram parte das condições de produção dos anos
70. Ressaltamos que o período de produção dessa
Este
artigo foi construído a partir de nosso projeto de iniciação científica,
denominado: Chico Buarque: Sobretudo Compositor, Contudo Denunciador.
No referido projeto, analisamos algumas canções de Chico Buarque por
meio da Análise do Discurso de linha francesa (AD), com o objetivo de
destacar as características político-críticas presentes nos
discursos-canções buarqueanos. Intentamos, portanto, neste artigo,
analisar discursivamente a canção “Construção”, composta
por Chico em 1971. Mais que isso, refletir a respeito do comportamento do
sujeito projetado nessa canção e a maneira como o poder o cerceia, no
sentido de anular qualquer tipo de atitude não programada. Pretendemos
compreender, a partir da análise subjetiva, um tipo identitário-cultural
brasileiro daquela época: o excluído pelo poder. Além disso,
relacionaremos alguns acontecimentos históricos que, possivelmente,
corroboraram com a composição literário-discursiva desse sujeito ou,
pelo menos, caracterizaram parte das condições de produção dos anos
70. Ressaltamos que o período de produção dessa 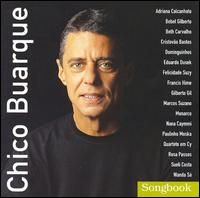 canção foi a ditadura
militar. Nesse momento histórico, canções como “Construção” eram
proibidas de serem tocadas e ouvidas no Brasil.
canção foi a ditadura
militar. Nesse momento histórico, canções como “Construção” eram
proibidas de serem tocadas e ouvidas no Brasil.