|
|
|
Mestre em História Social e Doutorando pelo PPGHIS-UFRJ
|
‘Absolutismo’:os limites de uso de um conceito liberal
Introdução Em artigo anterior nesta revista (VIANNA, 2006), afirmei que a escala[1] do Estado no Antigo Regime pressupõe a reorganização da estrutura jurídica dos corpos de privilégios advinda da Idade Média. Isso significa que tal estrutura foi reconfigurada à medida que se estreitaram os laços de dependência entre várias localidades e surgiu a demanda de um poder soberano estável que pudesse equilibrar os múltiplos interesses concorrentes entre si (dentro de uma região ou para além da mesma) numa nova simbiose sócio-política. Justamente por reconhecer esta singularidade estrutural, historiadores franceses, britânicos e alemães das décadas de 1980 e 1990 revisaram o uso do termo absolutismo (e suas derivações adjetivantes) como categoria analítica, chegando-se à conclusão de que tem gerado mais equívocos do que ajudado na análise da formação do Estado na Europa anterior ao liberalismo. (COSANDEY & DESCIMON, 2002; ASCH & DUCHHARDT, 2000). O termo absolutismo é tardio, difundindo-se no vocabulário político francês ao final do século XVIII e, na Inglaterra, em começos do século XIX, quando a noção de soberania já tinha mudado de sentido: o Estado, em vias de burocratização, esvaziava cada corpus societatis de imperio[2], criando progressivamente uma situação jurídica de igualdade civil (nesse sentido, uma societas civilis sine imperio). É frente a tal inovação institucional que surge um novo debate e uma nova sensibilidade política – agora numa perspectiva constitucionalista liberal – a respeito de como deveriam ser organizados os poderes políticos do Estado. Por este viés, para se contrapor aos “riscos de absolutismo” – i.e., a concentração do poder soberano de decisão numa autoridade executiva –, dever-se-ia formar um sistema cameral permanente (autoridade legislativa) e conferir independência institucional e poder fiscalizador para a justiça sobre os demais poderes, de modo que o poder limitasse o poder. Ora, tal tipo de debate só tem sentido quando o Estado de Antigo Regime não existe mais. As variações conceituais que proponho ao longo deste ensaio servem justamente para escaparmos do complexo civilizador – e metafísico – de definir uma configuração social a partir do que supostamente “falta”, pois isso tem como conseqüência imediata abordá-la como mera preparação de uma promessa de futuro. Obviamente, sei que não é fácil abrir mão de um hábito analítico consolidado por tanto tempo na historiografia nacional e, em certa medida, na estrangeira. Em todo caso, acredito que todo o esforço de variação conceitual e modelização teórica que desenvolvo neste ensaio permitirá que possamos pensar, alternativamente, uma legibilidade para alguns textos clássicos de teoria política no Antigo Regime, assim como, para os planos de enredo e personagens de peças do cânone editorial shakespeareano. 1. A Contribuição Analítica de António Manuel Hespanha Em muitos debates políticos durante o século XIX, absolutismo e absolutista tornaram-se termos pejorativos, sendo correlatos de tirania, ditadura, autocracia, autoritarismo, cesarismo, bonapartismo ou despotismo. No Brasil Império, por exemplo, D. Pedro I (1798-1834) seria, do ponto de vista de sua ação política, acusado pelos “liberais exaltados” de absolutista por fechar a Constituinte em 1823 e criar para si o Poder Moderador. No entanto, um Estado institucionalmente liberal não é necessariamente democrático. Portanto, a ação de D. Pedro I não foi democrática, mas autocrática, no sentido de dar corpo a uma ação cujos efeitos eram, por excelência, liberais em suas implicações institucionais: a outorga de uma Constituição em 1824. Nesse sentido, devemos sempre ter a clareza de diferenciar um conceito como termo a ser operado historiograficamente do conceito como parte do vocabulário político de uma época. Logicamente, abrir mão do conceito de absolutismo não significa esquecer que a configuração estatal de qualquer sociedade está historicamente ligada ao surgimento de um poder político soberano coercitivo e centralizador, mas tal fenômeno deve ser entendido por um viés analítico que não encare a estrutura patrimonial-estamental de poder como uma espécie de resíduo arcaico que deveria ser superado para que o Estado realizasse a sua “plena essência”: a racionalização burocrática. Os dispositivos patrimoniais-estamentais de poder da experiência de Estado anterior à burocracia seguem uma racionalidade própria quanto ao modo de configurar os vínculos sociais e políticos. Em larga medida, esta dimensão de minha análise apenas desdobra em novas implicações uma série de inferências analíticas de António Manuel Hespanha. Hespanha enfatiza que a forma patrimonial-estamental de organização política faz parte de uma lógica institucional cujos elementos principais são: dom, contra-dom, graça e punição. Tais fatores perpassam todo o corpo político como dispositivos constituidores de compromissos hierarquicamente definidos. Ora, se tal lógica não fosse comum a todo o corpo político, não haveria efeitos agregadores e a possibilidade de centralização política. Nesse sentido, a centralização política é o resultado da acomodação relativa de uma tensa concorrência de tipo senhorial-clientelar entre diferentes graus de forças centrípetas e centrífugas. Ocorre a acomodação entre as partes quando uma delas emerge com mais poder (militar e financeiro) e configura para si um território por onde estende sua preeminência política (auctoritas). No entanto, uma vez definido um centro, os seus meios de manter a auctoritas sobre um território continuam operando sob a forma patrimonial-estamental, ou seja, a centralização política não pressupõe a destruição dos corpos de privilégios ou a despatrimonialização do poder político. Portanto, não se pode confundir a noção de centralização política na Europa Moderna com a noção de soberania da forma burocrático-liberal de Estado, pois esta última pressupõe um nivelamento político-jurídico da sociedade (i.e., a igualdade civil ou uma societas civilis sine imperio). Em 1982, Hespanha fez uma série de considerações conceituais visando mostrar a especificidade político-institucional da Europa moderna, criticando a tendência de usar referências constitucionalistas liberais (para a lógica administrativa) e positivistas (para a lógica do direito) para se entender o fenômeno da centralização política.(HESPANHA, 1982: 7-89) As suas considerações teóricas e inferências de análise são ricas de conseqüências para se entender a lógica de funcionamento das instituições políticas na Europa Moderna (e suas extensões coloniais). No entanto, observando as suas conclusões em trabalho posterior (HESPANHA, 1994), podemos observar algumas limitações do próprio autor em explorar tais conseqüências, visto que, seguindo rigorosamente a tipologia weberiana, Hespanha pensa a experiência político-institucional da Europa Moderna como uma espécie de “proto-Estado” ou “pré-Estado”. Para ele, se não há burocracia – i.e., despatrimonialização (separação bem delineada dos meios administrativos em relação aos patrimônios dos agentes da administração) –, não há Estado plenamente formado. Entretanto, podemos tomar parte do quadro analítico de Hespanha e lembrar que, no Estado de Antigo Regime, o poder central não tem diante de si uma societas civilis sine imperio e, portanto, a sua autoridade é ratificada e acionada no território através dos corpos de privilégios, cuja aceitação é construída e transformada ao longo do tempo conforme costumes, tradições ou conveniências conjunturais. Como cada corpus tem “leis próprias” – que a autoridade soberana central confirma como se tivessem emergido de si, protegendo-as e jurando-as a cada sucessão dinástica –, o modelo de agir político ou de ação da autoridade política em todos os seus níveis é jurisdicionalista, ou seja, a ação política de qualquer autoridade constituída (central ou local) está definida pela imagem conceitual do Juiz-Deus acomodador e constituidor de acordo, consentimento, compromisso, harmonia e necessidade entre as partes de privilégios, em conformidade com as particularidades dos homens, lugares e tempo. Logicamente, o hábito de fazer analogias jurídico-teológicas cumpria um papel fundamental para flexibilizar os efeitos dos dispositivos legais de acordo com as circunstâncias de demanda de justiça num mundo cuja dinâmica de hierarquização social e de constituição de nexos políticos era estamental. Justamente porque esta racionalização analógica abria um espaço muito grande para o arbitrário das circunstâncias, havia nela um componente de insegurança que era contrabalançado, na ordem político-social de Antigo Regime, pelo periódico reforço dos deveres morais do papel de juiz em relação à eqüidade, ou seja, deliberar tendo por referências os momentos, lugares e pessoas sociais, de modo a haver uma boa acomodação das demandas por justiça. Portanto, no Antigo Regime, a eqüidade é o princípio ou virtude que é a raiz de um sistema jurídico que pretende organizar uma sociedade estratificada, porém móvel, em que convivem simultaneamente muitos sistemas normativos. Nesse sentido, é o princípio ou virtude fundamental para se construir uma sociedade de justiça entre desiguais. Ora, não há aqui nada que lembre o constitucionalismo liberal, pois, mesmo considerando que uma autoridade soberana central pudesse organizar as “leis fundamentais do reino” em ordenações gerais, tais leis são apenas um dos repertórios normativos de deliberações existentes no corpo político, sendo os seus efeitos ativados ou abandonados conforme cada caso ou circunstância. Há várias possibilidades de exemplificar isso na prática administrativa.(VIANNA, 2000) No entanto, podemos observar esta mesma expectativa de prática jurídico-política ser expressada em trabalhos literários que justamente afirmam a tese de que é necessário haver eqüidade para se evitar uma aplicação por demais rígida e inadequada das leis às pessoas sociais numa dada circunstância. Para demonstrar isso, valer-me-ei dos exemplos de duas peças do cânone editorial shakespeareano: “O Mercador de Veneza” e “Medida por Medida”. 2. Poder Preeminente e os riscos da Deformação Tirânica O plano dramático de “O Mercador de Veneza” torna moralmente condenável o modo como o personagem Shylock enrijece o uso das leis de Veneza ao cobrar uma dívida em carne humana – exorbitância de inveja, usura e avareza – contra um cidadão honrado: Antônio. Do ponto de vista estritamente legal, Shylock aciona as leis do contrato comercial, compartilhadas pelos demais habitantes e/ou comerciantes do fictício Estado de Veneza, para fazer valer os seus efeitos contra a vida de Antônio. Deste modo, por mais simpatia que o Duque de Veneza nutrisse por Antônio, havia algo maior a ser preservado: a credibilidade de Veneza. O dilema do Duque de Veneza era o seguinte: se, por razões de gostos e preferências pessoais, ele criasse uma exceção arbitrária para que os efeitos do contrato não fossem cumpridos, todas as instituições jurídicas e comerciais da fictícia Veneza poderiam perder credibilidade, pondo em risco a sua própria sobrevivência enquanto corporação política; por outro lado, o seu cumprimento representaria a morte de um homem honrado, em que uma circunstância atenuante (uma tempestade) fizera-o perder os seus bens empenhados numa empresa comercial, com que pretendia saldar a sua dívida com Shylock. Assim, como o duque não poderia salvar Antônio sem ser acusado de tirania, restava para Antônio o improvável: contar com a misericórdia do credor. A proposição dramática de tal dilema representa a exorbitância cômica do espírito usurário e da avareza anticavalheiresca personificados em Shylock, cujo contraponto cênico perfeito é o próprio Antônio – um homem honrado, socialmente reconhecido por seus pares na praça comercial de Veneza e que contraíra empréstimo com Shylock para ajudar o seu amigo Bassanio a casar com uma rica herdeira: Portia. Considerando a credibilidade social e respeito que Antônio tem na praça de Veneza, a atitude mais honrada de Shylock seria perdoar a dívida, abrindo mão de fazer cumprir os efeitos impiedosos de seu contrato. No entanto, a inveja e o ressentimento de Shylock em relação a Antônio – que humilhara Shylock publicamente algumas vezes – transformaram a sua desgraça comercial numa ótima oportunidade para vingança pessoal através de dispositivos institucionais de manutenção da ordem pública. Ora, considerando a teleologia moral da peça, o dilema que Shylock cria para o Estado de Veneza torna comicamente justificável que seja derrotado legalmente e dramaticamente pelo engenho jurídico de Portia (disfarçada de advogado) que, nesse sentido, salva simultaneamente as instituições de Veneza e o amigo de seu futuro marido. Antes de chegar à sua vitória jurídica sobre Shylock, há toda uma guerra de engenho entre Portia e o judeu, tornando mais aflorada a caracterização de Shylock como vilão dramático e ratificando a tese moral de Portia de que a “qualidade da misericórdia não pode ser forçada”. Por tal perspectiva moral, é mais do que merecido que Shylock seja derrotado por uma mulher rica e nobre travestida de advogado: Portia consegue criar um silogismo legal em que demonstra que o cumprimento do direito contratual de Shylock significaria derramar sangue – um ato criminoso que não poderia estar contido em nenhum contrato sem que colocasse em risco a própria estabilidade das instituições sociais. De qualquer forma, toda a situação criada por Shylock lembra ao “leitor/audiência” a dimensão pharmacon das instituições políticas e jurídicas: o seu potencial efeito de malignidade e benignidade depende da medida ou intenção de malignidade e benignidade de quem as aciona, pois a racionalização analógica, recorrente nas práticas jurídicas de Antigo Regime, abria um espaço muito grande para o arbitrário das circunstâncias. No caso de “Medida por Medida”, Yves-Marie Bercé nos fornece uma chave de leitura interessante: segundo tal autor, havia como ideal para o exercício do poder nos séculos XVI e XVII o dom da clarividência, que incidiria sobre a capacidade de o rei saber julgar os indivíduos, escolher os melhores conselheiros, escutá-los e tirar proveito de suas informações e opiniões. A freqüência deste argumento sugere uma verdadeira obsessão com o erro e o engano, que funda o mito positivo do “rei cauteloso”, dotado de um feliz discernimento e de um exato conhecimento das coisas. No fundo, tanta cautela apenas demonstrava que, no final das contas, um rei somente poderia estar bem informado por si mesmo e que não deveria confiar a ninguém as grandes decisões de seu governo. Tais princípios suscitam o uso imaginário – expresso nas peças teatrais e nas novelas exemplares – de passeios discretos, ou sob disfarce, através do reino, dando ao rei a ocasião de observar diretamente como o seu povo vive, de encontrar a amável ingenuidade ou a opinião sincera sobre seu governo ou sua pessoa, sem prevenções ou afetações cortesãs.(BERCÉ, 2003: 249-285). Na literatura, a figura do “rei cauteloso” ou “oculto” mistura (em sua eqüidade zombeteira) os papéis de comediante astucioso e justiceiro soberano. O “rei cauteloso” ideal é aquele que é apaixonado pela verdade e pela justiça. No entanto, para ele mesmo ter a verdade e fazer a justiça com eqüidade, terá de figurar uma farsa de si mesmo – eis o paradoxo que funda as relações de poder na “sociedade de corte” e os seus mecanismos de disputa por distinção social.(ELIAS, 2001) Em certa medida, como notara Michel de Montaigne (1533-1592), o rei sofre os efeitos inconvenientes da própria grandeza de sua dignidade régia e da dinâmica configurativa de seu poder curializado, que o afasta das práticas de franqueza e da opinião sincera, de modo que sempre corre o risco de práticas desmedidas à medida que não tem com quem se medir.(MONTAIGNE, 1972: 419-421). Nos séculos XVI e XVII, em termos de escolhas e ação administrativa (i.e., potestas), o príncipe ideal é aquele capaz de fazer justiça com eqüidade, o que exige prudência, clarividência e discernimento para saber medir bem as circunstâncias para fazer com que os efeitos das leis ou costumes se conformem a elas e à dignidade social ou política das partes envolvidas numa contenda qualquer. Em “Medida por Medida”, a tópica do “rei cauteloso” – que, no limite, deve “ocultar-se” para cotejar opiniões de seus súditos sobre a prática de sua autoridade – aparece através da farsa montada pelo duque Vicentio da fictícia Viena. No entanto, o seu ato de ocultar-se, fingindo ter abandonado a dignidade ducal, entregando-a a um “anjo substituto e vingador” (Angelo), segue uma estratégia de recuperação de autoridade – depois de tanto tempo de leniência – sem transfigurar-se em tirano. Ora, este tipo de estratégia era muito análoga àquela descrita por Maquiavel (1469-1527), em “O Príncipe”, sobre o modo como o duque César Bórgia se valeu de Ramiro de Orco em Romanha. Embora em “Medida por Medida” Angelo tenha sido poupado da sorte cruel que tivera Ramiro, é possível identificar o mesmo princípio de ação de ambos os duques em relação aos seus prepostos: “Como esta parte da ação do duque é digna de registro e de imitação, não quero silenciar a respeito. Logo que se apoderou da Romanha, tendo-a encontrado, em geral, sujeita a fracos senhores, que mais espoliavam do que governavam os seus súditos, dando-lhes apenas motivo de desunião (tanto que aquela província estava cheia de latrocínios, de tumultos e de toda sorte de violência), julgou o duque que era necessário, para torná-la pacífica e obediente ao braço régio, dar-lhe bom governo. Então, colocou ali Ramiro de Orco, homem cruel e expedito, ao qual outorgou plenos poderes. Este, em pouco tempo, conseguiu fazer com que a Romanha se tornasse pacífica e unida, tendo alcançado ele mesmo grande reputação. O duque julgou depois que já não era necessária tanta autoridade, pois temia que se tornasse odiosa. E constituiu um juízo civil no centro da província, com um presidente ilustre e benquisto, e onde cada cidade estava representada. Sabendo que os rigores passados haviam criado ódios contra ele próprio, para apagá-los do ânimo daqueles povos e conquistá-los a todos definitivamente em tudo, quis demonstrar que, se haviam sido cometidas crueldades, não procediam dele e sim da dureza de caráter do ministro. E, em vista disso, tendo ocasião, mandou exibi-lo certa manhã, em Cesena, em praça pública, cortado em dois pedaços, tendo ao lado um pedaço de pau e uma faca ensangüentada. A ferocidade desse espetáculo fez com que o povo ficasse satisfeito e espantado ao mesmo tempo” (MAQUIAVEL, 1973: 36) O exemplo do uso estratégico da personalidade cruel de Ramiro de Orco por César Bórgia também serviria para referendar, mais adiante, o argumento que Maquiavel desenvolve no capítulo XVII de “O Príncipe”: “... Não deve, portanto, importar ao príncipe a qualificação de cruel para manter os seus súditos unidos e com fé [i.e., empenhados na fidelidade ao soberano], porque... é ele mais piedoso do que aqueles que, por muita clemência, deixam acontecer desordens das quais podem nascer assassínios ou rapinagem...” (MAQUIAVEL, 1973: 75). Além disso, a continuação do argumento de Maquiavel no capítulo XVII de “O Príncipe” serviria também para moralizar, em “Medida por Medida”, o jogo dramático entre um Vicentio que, antes de “ocultar-se”, era excessivamente clemente nos efeitos práticos da lei, e um Angelo que, ao assumir a dignidade ducal, torna-se excessivamente preciso[3] nos efeitos práticos da lei: “[O príncipe] deve... proceder equilibradamente com prudência e humanidade, de modo que a confiança demasiada não o torne incauto e a desconfiança excessiva não o torne intolerável (...). Nasce daí esta questão debatida: se será melhor ser amado que temido ou vice-versa...Os... homens hesitam menos em ofender aos que se fazem amar do que aos que se fazem temer..., ao passo que o temor que se infunde é alimentado pelo receio de castigo, que é um sentimento que não se abandona nunca. Deve, portanto, o príncipe fazer-se temer de maneira que, se não se fizer amado, pelo menos evite o ódio, pois é fácil ser ao mesmo tempo temido e não odiado, o que sucederá uma vez que se abstenha de se apoderar dos bens e das mulheres dos seus cidadãos e dos seus súditos e, mesmo sendo obrigado a derramar sangue de alguém, poderá fazê-lo quando houver justificativa conveniente e causa manifesta. Deve-se, sobretudo, abster-se de se aproveitar dos bens dos outros, porque os homens esquecem mais depressa a morte do pai do que a perda de seu patrimônio... Concluo, pois,...que um príncipe sábio...deve somente procurar evitar ser odiado...” (MAQUIAVEL, 1973: 76-77) Em “Medida por Medida”, o duque Vicentio claramente expõe que algumas desordens morais e patrimoniais em Viena seriam o resultado do fato de ter negligenciado o uso eqüitativo de sua autoridade. No entanto, como ele próprio avalia, a sua falta foi o excesso de abrandamento nos efeitos da lei. Daí, se algumas desordens e abusos de seus súditos derivavam disso, seria incoerente que fosse ele o agente de punição, pois isso torná-lo-ia odioso e tirânico. Assim, ele se “oculta” para delegar temporariamente o papel punitivo a um “anjo vingador”, cuja marca dramática era o seu extremo oposto: o excesso de rigidez nos efeitos da lei. Deste modo, somente depois de os habitantes da fictícia Viena experimentarem “a dureza de caráter” de Angelo é que Vicentio pôde sentir-se respaldado para restaurar a sua preeminência ducal, mas agora em novas bases: fazendo valer com sabedoria (depois de observar “ocultamente” – disfarçado de frei – os seus súditos) o princípio da eqüidade. No entanto, a sua forma de desautorizar Angelo foi tornar público que o “anjo” ou “preciso” não poderia transformar toda forma de pecado em crime capital, pois seria odioso cobrar legalmente de alguém uma conduta moral a que ele próprio tivesse dificuldade de se submeter. Nesse sentido, as instituições políticas e jurídicas devem ter a medida certa para regularem a conduta de seres essencialmente paradoxais. (CROCKETT, 1995). Ora, se levássemos em conta uma perspectiva crítica calvinista não-puritana do período elizabetano, poderíamos afirmar que as formas legais rigoristas de Angelo exigem dos habitantes da fictícia Viena um grau de perfeição moral que chega ao extremo de negar o próprio paradoxo humano e, por extensão, o sentido da graça divina inscrita nas instituições sociais.(DIEHL, 1998) Portanto, o espírito do homem não pode ser medido sem serem consideradas as suas diferentes formas de corporificações no espaço e no tempo. E, fundamentalmente, tal como sistematizaria Thomas Hobbes (1588-1679) em meados do século XVII, era necessário distinguir juridicamente pecado de crime.(KOSELLECK, 1999: 19-47). Tudo isso nos serve para demonstrar que, no Estado de Antigo Regime, o seu conjunto de leis não era entendido como uma abstração legal que precede e configura as circunstâncias, mas como um dispositivo que se flexiona, em seus efeitos, às circunstâncias e às dignidades sociais e institucionais das partes envolvidas. Por isso, quando uma autoridade soberana inova em algum aspecto, a tendência é que a novidade se justaponha à realidade existente, em vez de substituí-la. Assim, nesta configuração social e política, qualquer esfera do poder soberano deve ser necessariamente jurisdicionalista e, por conseguinte, a sua prática administrativa deve ser casuística, de outro modo não haveria meios de acomodar as tensões potenciais dos corpos de privilégios que formam tal Estado. Como temos notado, as muitas inferências conceituais de Hespanha permitem evitar as seduções analíticas do constitucionalismo liberal quando tratamos do tema do poder preeminente (monárquico, colegiado ou misto). Elas nos permitem perceber que a dimensão prática do poder preeminente é bem diferente daquilo que a crítica liberal do final do século XVIII chamaria de absolutismo e que, no século XIX, seria tratado como sinônimo de despotismo – termo até então reservado pelos tratadistas políticos ao Império Otomano (o Outro civilizacional da Europa).(DIDEROT & D’ALEMBERT, 2006) Antes do liberalismo, a noção de poder preeminente monárquico, por exemplo, está ligada justamente à percepção de que um rei era legibus solutus, isto é, livre para decretar leis, o que não deve ser confundido com a idéia de tirania, pois não é como vontade privada ou particular que o rei é legibus solutus, mas como pessoa pública, como encarnação e instrumento da dignidade régia. Considerando isso, pensemos mais uma vez no exemplo do dilema que Shylock cria para o Duque de Veneza: este não pode alterar os efeitos do contrato da dívida de Antônio com Shylock sem transformar isso num ato privado, num capricho pessoal, cuja repercussão poderia criar uma sensação de insegurança em relação a todos os demais patrimônios e contratos existentes no fictício Ducado de Veneza. Assim, o ato de perdão da dívida de Antônio deveria partir de Shylock; ou o contrato deveria ser anulado por artifícios legais suficientemente convincentes que não gerassem a sensação de ameaça contra a credibilidade das instituições do ducado. Logo, tais instituições deveriam apresentar uma estabilidade de forma sucessiva no tempus que justamente gerasse uma sensação de segurança e previsibilidade. No entanto, dado o paradoxo de malignidade e benignidade que é o homem no tempus, dever-se-ia estar sempre atento quanto aos “riscos farmacológicos” de as instituições serem acionadas com propósitos vis, isto é, desviados do bem comum e da segurança particular. Em “Medida por Medida”, por outro lado, Angelo falha em realizar isso porque transforma a sua autoridade ducal (uma potestade pública) num instrumento privado para forçar Isabel a ceder-lhe sua castidade em troca da vida de seu irmão Cláudio, cujo pecado cometido – a gravidez de sua noiva Julieta, com quem nunca quebrara as promessas de casamento – era muito pequeno para justificar uma punição capital. Além disso, Angelo valeu-se de sua posição preeminente para constranger Isabel a não denunciá-lo publicamente por querer cometer com ela o mesmo tipo de ato ilícito a partir do qual pretendia condenar o seu irmão à morte. Ora, se considerarmos as expectativas dos muitos tratadistas políticos dos séculos XVI e XVII, que afirmavam que a dignidade régia deveria ser serva da justiça e da eqüidade, as escolhas e ações de Angelo transformaram a sua potestade pública em tirania. Tal idéia fica mais evidenciada se considerarmos que, num universo de vínculos sociais e políticos configurados a partir de corpos de privilégios, o poder preeminente ideal é aquele que jamais se confunde com a dimensão particular de um corpo de privilégio, com caprichos pessoais ou com conveniências estritamente privadas. Daí, não paradoxalmente, para ser servo da justiça e da eqüidade, um Rei (dignitas regia) deve ser legibus solutus. Deste modo, qualquer ação, mesmo que cruel, por parte de uma potestade pública, é legítima se houver circunstância que a justifique em nome de manifesto interesse público. Eis a moral política da Razão de Estado. Como legibus solutus, um Rei é conceitualmente “livre” (solutus) porque é, em si, a “lei viva” (lex animata) que – agindo conforme as circunstâncias e considerando as dignidades das partes envolvidas numa demanda qualquer – equilibra as várias unidades corporatistas de “leis particulares” (privatae leges) no fiel da balança da “utilidade comum do reino”(utilitas totius regni) e, deste modo, preserva-o como Universitas.[4] Além disso, desde o século XV, um rei é denominado Ab solutus porque, como juiz supremo ou “imperador em seu reino”, não reconhece nenhuma autoridade política acima de si (Papa ou Sacro Imperador) e, por isso, figura como o primeiro em autoridade (Princeps ou Superanus) dentro de seu reino, relativizando (mas não eliminando) a autonomia dos corpos de privilégios que o compõem.(DAVID, 1954) Portanto, o absolutismo – tal como definido pelo debate constitucionalista liberal – jamais existiu nas práticas de governo e no debate jurídico durante o Antigo Regime. A relativização da autonomia dos corpos de privilégios deve ser entendida como o resultado de um diálogo tenso de acomodação de interesses locais com centros emergentes de poder político-militar e financeiro, que criaram em torno de si novos efeitos agregativos ao final da Idade Média; mas isso não significou alterar a forma patrimonial-estamental de conectar partes de interesse ao se constituir novos canais de ação administrativa (potestas). As compilações de costumes locais e as codificações de direitos são aspectos sintomáticos da relação de interdependência dos centros emergentes de poder com as localidades de poder, visto que não responderam apenas a iniciativas do poder central, mas também a necessidades das próprias localidades, que agora viviam sob a pressão de novos nexos sociais e espaciais que escapavam de seu controle imediato. Como bem lembra Norbert Elias, qualquer configuração estatal de sociedade é historicamente indissociável de uma certa consciência de que o mundo tornou-se algo mais amplo, alterando a própria natureza dos nexos que conformam os interesses locais.(ELIAS, 1994) Por isso, é digno de nota perceber que os poderes do centro instrumentalizaram as localidades em seu favor, vencendo os casos mais notórios de resistência, mas não se tratou de uma ação unilateral.(PUJOL, 1991). Aliás, desde o século XV, podemos observar de uma forma mais sistemática a progressiva incorporação à jurisdição régia dos direitos jurisdicionais das cidades e dos feudos de diferentes categorias de nobres (condes, barões, marqueses, etc). Isso criou uma gama de “oficiais” locais que, falando em nome de uma autoridade soberana supralocal estável no tempo, reconfiguraram os seus papéis para darem conta desse novo campo de experiência social que é o Estado. De modo geral, tais “oficiais” não dependeram materialmente da figura pessoal de seus soberanos, mas da estrutura institucional que a Coroa representava – o que é mais um medidor importante do quanto a despersonificação das instituições políticas coaduna-se com as estruturas patrimoniais de poder. Não é à toa que categorias teológicas vinculadas à figura de Cristo (em si mesmo, um paradoxo de aeternitas e tempus), associadas a categorias do Direito Romano (Universitas, Fiscus, Dignitas, Imperio, Usucapione, etc), foram operadas no debate jurídico do século XV para distinguirem a dignidade régia (e a Coroa) da pessoa privada do soberano.(KANTOROWICZ, 1998: 193-272). 3. O sentido recorrente de Absolutismo nos campos historiográficos No campo disciplinar da História do Pensamento Político e do Direito, o termo absolutismo foi habitualmente utilizado em oposição ao termo constitucionalismo, conformando campos classificativos para autores que legitimariam, respectivamente, uma autoridade política incondicional (em nome de Deus, a dignidade régia é a origem, proprietária e usufruturária dos direitos de soberania) e uma autoridade política condicional (inspirado por Deus, o conjunto dos corpora do reino é a origem, proprietário e usufruturário dos direitos de soberania, cabendo ao rei um papel de supervisor ou administrador)[5]. Este tipo de esquematização analítica não dá conta de uma série de nuanças teóricas dos séculos XVI e XVII que, mesmo assentando a origem do direito nos corpora societatum, recorriam igualmente a noções como usucapione e alienação incondicional – em favor da dignidade régia – dos direitos de soberania. Ora, particularmente depois das guerras confessionais inglesas do século XVII, este tipo de nuança visava impedir qualquer legitimação doutrinal (católica ou protestante) ao “tiranicídio”, para além do recurso doutrinal, cada vez mais desgastado, ao mistério da providência divina dos reis. Na História Social das Instituições, aquilo que se vai chamar de absolutismo servia para definir a menor disposição de uma autoridade soberana em dividir suas decisões com corpos políticos do reino organizados em assembléias consultivas estamentais (gerais ou provinciais), quando se tratava de uma situação de utilitas totius regni. Durante o século XVII, devido à intensidade e longevidade das guerras na Europa e seus efeitos fiscais, revoltas antifiscais afloraram com mais recorrência e vigor, pois algumas cobranças de impostos – particularmente aquelas que eram consideradas novidades e feriam direitos estabelecidos de isenção – deveriam ser feitas, em princípio, somente depois de consulta ao reino. Equivocadamente, o dispositivo tradicional de consulta ao reino foi focado, a posteriori, por uma perspectiva analítica constitucionalista e, por isso mesmo, a maior ou menor disposição do poder soberano central em usar estes dispositivos de consulta foi interpretada pela maioria dos historiadores e cientistas políticos como uma espécie de patamar de medida para definir se uma monarquia, monarca ou governo era mais ou menos autocrático (portanto, “absolutista”). Não sem sentido, desde a década de 1960, em muitos estudos sobre as ditas revoltas antifiscais (camponesas ou citadinas), assim como sobre a organização da estrutura financeira dos Estados na Idade Moderna, tornou-se recorrente o uso do termo absolutismo fiscal. Deste modo, focadas por uma perspectiva constitucionalista liberal, as análises sobre a organização administrativa das “finanças do Estado” ignoraram o fato de que os éditos régios de cobrança de impostos, mesmo quando não tinham como causa motor uma consulta ao reino, tinham, no entanto, os seus efeitos casuisticamente configurados por eventualidades locais ou pelos privilégios dos lugares ou dos grupos sociais dentro deles. No limite, os éditos simplesmente não eram cumpridos, mas se ratificava o respeito à autoridade da Coroa e se justificava a desobediência, seja pela evocação respeitosa dos privilégios locais, seja por meio do relato de alguma eventualidade local que impedisse o cumprimento das demandas da Coroa. Tais justificativas poderiam ser verdadeiras, exageradas ou simplesmente mentirosas. Em todo caso, isso explica o ritual administrativo de os reis pedirem notícias de um mesmo assunto a diversas autoridades locais, confrontando os relatos do presente entre si e com aqueles do passado recente. Tratava-se de um jogo tenso de negociação de interesses que as partes envolvidas sabiam muito bem as regras, mas estava sempre perpassado pelo princípio do compromisso e acomodação das partes, de modo a não desfigurar o corpo místico do Estado[6]. Certamente, havia nisso tudo um jogo de decifração recíproca, uma espécie de “como se fazer ver” e “como se deixar ver” – mote comum na tratadística política dos séculos XVI e XVII. Portanto, numa estrutura de governo de Antigo Regime, é anacrônico enfocar analiticamente as leis régias como se fossem protótipos de leis universais ao modo de uma Constituição. Além disso, estudos mais recentes revelaram que as ditas revoltas antifiscais dos séculos XVI e XVII não tinham necessariamente o caráter de “resistência contra um poder soberano opressivo”: percebeu-se que não era a cobrança em si o foco de descontentamento – por vezes, em algumas regiões, os efeitos do fisco da Coroa eram menos rigorosos sobre os ganhos das pessoas do que as obrigações com as rendas senhoriais –, mas sim os agentes envolvidos em sua cobrança, que poderiam ser mandatários locais ou extra-locais, atuantes em nome da Coroa, cujas atitudes não pareciam representar as expectativas de proteção e familiaridade projetadas na figura do soberano.(CORNETTE, 1996; BERCÉ, 1996; BERCÉ, 2003) De qualquer forma, a estrutura patrimonial do fisco régio compunha uma rede de interesses financeiros, de modo que não se pode falar em ação necessariamente unilateral dos poderes do centro em relação aos poderes locais.(CORNETTE, 1994: 201-204). Durante a Guerra dos Trinta Anos (1618-1648), por exemplo, as regiões de Provence e Languedoc converteram-se em retaguarda e lugar de passagem das tropas para as frentes das penínsulas ibérica e itálica. Logicamente, os efeitos materiais e fiscais desta situação eram enormes para as populações locais, mas não menos propensos a entrelaçar na malha fiscal os interesses locais com aqueles do centro: durante as décadas centrais do século XVII, as receitas fiscais para a Coroa francesa que saíram de Languedoc correspondiam a um terço do total arrecadado na região, ou seja, por diferentes vias consolidadas de interesses, o restante do fisco ia parar nas mãos da elite dirigente local, que correspondia a 10% da população.(PUJOL, 1991) Além disso, metade do arrecadado era gasto dentro da própria região, o que significa dizer que a estrutura vertical de demanda fiscal oriunda da guerra impulsionava um mecanismo redistributivo de rendas em nível local que muito interessava às suas elites tomar parte, comportando-se, pois, como uma pequena engrenagem tradicional do grande relógio do Estado[7]. Conclusão No vocabulário político dos séculos XVI e XVII, a lógica e a prática do poder preeminente (monárquico, colegiado ou misto) não guardam nenhuma correspondência com aquilo que é habitualmente chamado de absolutismo. Certamente, a partir do século XVII – tão marcado por intensas guerras civis religiosas e/ou interdinásticas de longo alcance –, o poder preeminente (central ou local) também expressou uma tendência à unilateralidade, mas isso deve ser enxergado como inscrito numa prática de governo que segue uma lógica de deliberação jurisdicionalista. Nesse sentido, quanto maiores fossem as circunstâncias extraordinárias (casus necessitas) num governo, como era comum num contexto de guerras contínuas, maiores seriam as chances de um representante do poder preeminente agir de forma mais unilateral na reconfiguração de privilégios, pois, em tais casos, a necessidade não reconhece a lei (necessitas legem nom habet), ou seja, de acordo com as circunstâncias, um particular (inclusive, o próprio rei como pessoa privada) poderia vir a ser sacrificado em nome daquilo que fosse considerado de utilitas totius regni. No entanto, deve-se notar que uma maior capacidade conjuntural de manipular ou suprimir casuisticamente privilégios não significou que o poder político preeminente pretendesse deliberadamente acabar com a dinâmica estrutural dos privilégios como fatores funcionais de agregação das partes constitutivas do corpo político. Na dinâmica institucional da monarquia no Antigo Regime, quando um privilégio era suprimido, outro era posto em seu lugar como meio de se reconstituir periodicamente os laços de fidelidade com a Coroa. Em todo caso, independentemente de ser monárquico ou republicano, o Estado no Antigo Regime estava existencialmente implicado com uma noção de poder preeminente cujos sentidos prático e conceitual não pressupõem o fim dos privilégios corporatistas ou a imposição de um dualismo concêntrico Rei/indivíduo. Os corpora simplesmente passaram a depender ou estar referidos à preeminência estrutural e estável de um poder político centralizador que era simultaneamente supra legem (ou lex solutus) – para tratar de questões que afetavam a vida local mas que estavam implicadas em nexos (causais ou conseqüenciais) extra-locais, tais como conflitos de jurisdições, proteção do comércio a longa distância, perpetuidade do fisco, guerras, garantia jurídica de contratos e do valor fiduciário das moedas – e infra legem (ou Iustitia Mediatrix) – para assuntos que poderiam ser resolvidos pelos repertórios locais de leis e costumes. Portanto, o sentido prático do poder político preeminente no Antigo Regime era bem claro: subordinar, preservar, confirmar ou adaptar as diferentes instâncias corporatistas de privilégios às novas demandas políticas, financeiras e sociais da abertura do mundo das experiências durante a Idade Moderna. Em outras palavras, a configuração estatal dos vínculos sociais e políticos no Antigo Regime exigia um tipo de poder soberano – pouco importando a justificativa jurídico-teológica de sua origem – que fosse simultaneamente solutus e servum das leis existentes na corporação política. Por isso mesmo, não saber criar efeitos práticos adequados para este paradoxo do poder político soberano era o que mais poderia suscitar contra ele o ódio – assim como, justificativas doutrinais de resistência ativa ou passiva por parte dos súditos. Considerando isso, posso afirmar que o Estado no Antigo Regime possui uma dinâmica estrutural que denota uma forma específica de “ser moderno”. Ser moderno nesta configuração implica num exercício de flexibilidade voltado para a conquista periódica do presente, ou seja, uma abertura de mente para um horizonte expansivo de experiências, de modo que se possa dominar o imprevisto, empurrar o herdado – reconfigurado – para frente e, assim, evitar qualquer atitude radicalmente ruptiva com o passado. Nesse sentido, frente a um horizonte expansivo de experiências, tanto para a ação administrativa preeminente (potestas absoluta), a partir dos corpos de privilégios e costumes, quanto para a ação artística de conceber formas (poiesis), a partir dos referenciais da Antigüidade (pagã ou cristã), o lema é adaptação ou variação em relação às leis e significados recebidos de uma tradição. Ora, esta forma de pensar é completamente diferente de “ser moderno” na modernidade (século XVIII e depois), em que não há submissão a priori a qualquer tradição autorizadora, mas sim ruptura permanente entre passado e futuro.(GRADY, 1999) Não sem razão, penso que “ser moderno” no Antigo Regime é operar com uma lógica cultural marcada pela flexibilidade pendular. Chamo-a assim por ter em mente a seguinte imagem conceitual: um pêndulo em movimento semicircular preso com uma roldana numa corda na parte superior; a partir das novas experiências vividas no presente (ponto inercial), o pêndulo é empurrado para trás (passado/tradição) em busca de exemplos de estilos de ação (consolidados ao longo do tempo) para a resolução de casos do presente tipologicamente similares; no movimento de retorno/adaptação ao ponto inercial de demandas do presente, todo o conjunto é impulsionado para frente, avançando sem ruptura[8].(VIANNA, 2001: 186-194). Eis uma lógica cultural bastante adequada ao modo casuístico como as diferentes instâncias jurisdicionais de autoridade no Antigo Regime lidam com as demandas e tensões advindas das diferentes unidades corporatistas de privatae leges que fazem do Estado na Idade Moderna uma Universitas.
Referências bibliográficas: ASCH, Ronald; DUCHHARDT, Heinz (eds.). El Absolutismo: Un Mito? Barcelona: Idea Books, 2000. BARTH, Fredrik. Scale and Social Organization. Oslo/Bergen/Tromso: Universitetsfoglaget, 1972. BERCÉ, Yves-Marie. O Rei Oculto: Salvadores e Impostores – Mitos Políticos e Populares na Europa Moderna. São Paulo: Imprensa Oficial de São Paulo/EDUSC, 2003. BERCÉ, Yves-Marie. Paysans en Révolte. Revue l’Histoire, n.196. Paris, 1996. pp.36-39. BERRY, Hebert. Shylock, Robert Miles, and events at the Theatre. Shakespeare Quartely, volume 44, 1993(2): pp.183-201. BURKE, Peter. A Invenção da Biografia e o Individualismo Renascentista. Estudos Históricos, n.19. Rio de Janeiro: FGV-CPDOC, 1997. CAVALCANTE, Berenice (org.). Modernas Tradições. Rio de Janeiro: Access, 2002. CORNETTE, Joël. L’affirmation de l’État Absolu, 1515-1652. Paris: Hachette, 1994. CORNETTE, Joël. Voyage au Coeur de L’État de Finances. Revue l’Histoire, n.196. Paris, 1996. pp.26-35. COSANDEY, Fanny; DESCIMON, Robert. L’Absolutisme en France: Histoire et Historiographie. Paris: Seuil, 2002. CROCKETT, Bryan. The Play of Paradox: Stage and Sermon in Renaissance England. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1995. DAVID, Marcel. La Souveraineté et les Limites Juridiques du Pouvoir Monarchique du IXe au XVe Siècle. Paris: Librairie Dalloz, 1954. DIDEROT, Denis; D’ALEMBERT, Jean. Verbetes Políticos da Enciclopédia. São Paulo: UNESP, 2006. DIEHL, Huston. Infinite Space: Representation and Reformation in Measure for Measure. Shakespeare Quartely, volume 49, 1998(4): pp.393-410. ELIAS, Norbert. Sociedade de Corte. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. ELIAS, Norbert. O Processo Civilizador, 2 vols.. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994. GRADY, Hugh. Renewing Modernity: Changing Contexts and Contents of a nearly Invisible Concept. Shakespeare Quartely, volume 50, 1999(3):pp.268-284 HANSEN, João Adolfo. A Sátira e o Engenho: Gregório de Matos e a Bahia do Século XVII. São Paulo: Ateliê Editorial/UNICAMP, 2004. HAYNE, Victoria. Performing Social Practice: The exemple of Measure for Measure. Shakespeare Quartely, volume 44, 1993(1): pp.1-29 HESPANHA, António Manuel. Às vésperas do Leviathan: instituições e poder político, Portugal - séc. XVII. Coimbra: Almedina, 1994. HESPANHA, António Manuel. Para uma teoria da história institucional do Antigo Regime. In: Poder e Instituições na Europa do Antigo Regime. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1982. pp. 7-89. HIRSCHMAN, Albert O.. As Paixões e os Interesses. Rio de Janeiro: Record, 2002. KOSELLECK, Reinhardt. Futuro passado. Rio de Janeiro: Contraponto, 2006. KOSELLECK, Reinhart. Crítica e Crise. Rio de Janeiro: UERJ/Contraponto, 1999.pp. 19-47. MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe. São Paulo: Abril Cultural, 1973. MONTAIGNE, Michel. Dos Inconvenientes das Grandezas. In: Ensaios, liv. III. São Paulo: Abril Cultural, 1972. pp. 419-421 PUJOL, Xavier Gil. Centralismo e Localismo: Sobre as Relações políticas e culturais entre capital e territórios nas Monarquias Européias dos séculos XVI e XVII. Penélope, nº6. Lisboa: Cosmos, 1991. pp. 119-144 SKINNER, Quentin. As fundações do pensamento político moderno. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. VIANNA, Alexander Martins. Individuação e Estado sem Modernidade. Urutágua, n.10. Maringá: UEM, 2006. VIANNA, Alexander Martins. O Ideal e a Prática de Governar: o Antigo Regime no Brasil Colonial. Rio de Janeiro: UFRJ/IFCS/PPGHIS, 2000.(Diss.mimeo.). VIANNA, Alexander Martins. Poder Político da Europa Moderna, sécs. XV-XVIII. In: Escritos sobre História e Educação: Homenagem a Maria Yedda Linhares. Rio de Janeiro: Mauad, 2001. pp.186-194 WELLS, Stanley; TAYLOR, Gary (eds.). The Oxford Shakespeare: The Complete Works. Oxford: Claredon Press, 1998. |
||||||
|
[1]Uso aqui o conceito no sentido de F. Barth, ou seja, trata-se de uma extensão quantitativa e qualitativa, tanto em diversidade social quanto espacial, da interconexão ou interação de pessoas sociais. (BARTH, 1972: 253-272) [2]Aqui, o sentido do termo imperio é domínio eterno e soberano de direitos próprios, aplicado não apenas aos agregados políticos extensos formados ao final da Idade Média, mas também às suas unidades constitutivas internas. Isso dera aos antigos domínios e reinos feudais uma nova corporidade política, pois distinguia a transitoriedade física daqueles que comandam da continuidade transtemporal dos vários corpos de direitos e prerrogativas de poder existentes no Estado. Logicamente, ao final da Idade Média, a maior difusão de imperio com tal sentido nos debates políticos, teológicos e jurídicos já sinalizava para um patamar mais alto de despersonificação das instituições sociais e políticas, característico da configuração estatal dos vínculos sociais. [3]Vicentio chama Angelo de “precise” que, no vocabulário elizabetano, era uma forma pejorativa e estereotipadora de se referir ao rigorismo moral e político dos puritanos, que criticavam ferrenhamente os procedimentos dos tribunais eclesiásticos anglicanos, assim como os rituais da Igreja Anglicana. Termos como “precise” ou “seemer” podem ter o sentido de “puritano hipócrita”, o que é exatamente a forma como Angelo é caracterizado no enredo.(DIEHL, 1998; HAYNE, 1993) [4]O sentido aqui é: agregado coletivo de vários corpos de direitos que adquiriram perpetuidade sucessiva no tempus. Herdada do pensamento antigo e baixo-medieval, a noção de Estado como Universitas (i.e., como um todo orgânico de corpora de privatae leges) jamais se extinguiu completamente na Idade Moderna, mesmo sob o impacto da filosofia política mecanicista a partir do século XVII, pois era muito difícil dispensar a metáfora orgânica quando se queria considerar o corpo social e político como uma unidade que, para existir, pressupunha a desigualdade estamental de suas partes como condição para o nexo efetivo dos indivíduos às corporações políticas e sociais. [5]Um exemplo eloqüente disso é a própria disposição que Quentin Skinner dá às matérias de seu “As fundações do pensamento político moderno” (SKINNER, 2000). [6]Sobre isso, ver a discussão sobre “murmuração do corpo místico” em “A Sátira e o Engenho: Gregório de Matos e a Bahia do Século XVII” (HANSEN, 2004) [7]Tive oportunidade de observar tal lógica nos múltiplos pedidos chegados ao Conselho Ultramatino que solicitavam a flexibilização de usos e contratos de tributos vinculados à “Paz da Holanda e dote da Rainha de Inglaterra”, tendo sido feitos por gentis-homens do Nordeste do Brasil nas décadas posteriores à desocupação holandesa. (VIANNA, 2000: 168-208) [8]Uma imagem medieval equivalente a esta e revalorada na época do Renascimento é aquela do “anão no ombro do gigante” (CAVALCANTE, 2002: 3-20). Seria interessante associar tal discussão com a retórica histórica do Renascimento (BURKE, 1997) e com a história da transformação conceitual da relação entre passado e futuro (KOSELLECK, 2006: 21-94). |
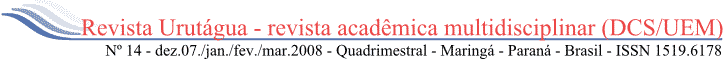
 por
por