|
|
Discente do curso de Letras – DLA / UESC. Pesquisadora de Iniciação Científica UESC / FAPESB. Orientadora: Sandra Maria Pereira do Sacramento. Grupo de Pesquisa: Representações Identitárias Híbridas da nação; Coordenadora do Mestrado em Cultura e Turismo.
|
Culinária sul-baiana: mulher e diversidade culturalSuellen Thomaz de Aquino Martins Santana
Considerações iniciais A história do sul da Bahia está diretamente ligada à cultura do Cacau. História de um povo que surgiu literalmente no "meio do mato", lutou contra o poder dos "coronéis" e as mulheres, contra o patriarcalismo da época. A história do cacau se confunde com a própria história da região. Este poderoso fruto fez surgir cidades e patrimônios. A criação de uma identidade regional também foi fruto desta monocultura, sua implementação determinou a História dos habitantes que se aglomeraram à volta das plantações. Desde a Colônia até o século XIX, a produção sul-baiana estava baseada na exploração de madeira e na produção de farinha, açúcar e cachaça. Segundo Barbosa (2003), além do cultivo da cana-de-açúcar, outros produtos de subsistência eram cultivados como arroz, milho, mandioca e algodão. Com a chegada do cacau, trazido para o sul da Bahia pelo colono francês Frederico Warneau, por volta de 1700, o florescimento econômico voltou, pois aqui ele encontrou condições climáticas favoráveis, semelhantes às da sua região de origem. (ANDRADE, 2003). Junto com o desenvolvimento, chegaram imigrantes de diversos lugares do mundo, principalmente turcos, que fundaram as primeiras casas de comércio de venda e compra de cacau. Aqui se inicia a grande luta pela terra tão cobiçada. Além disso, o coronelismo, tão citado na história brasileira, veio atrelado a esta cultura. Depois de ter passado por um ciclo de cana-de-açúcar, a região vivia a opulência do ciclo do cacau, formando milionários e coronéis da noite para o dia. Esse momento colaborou para um intenso movimento de ocupação e povoamento, pois os colonos de diversas partes migraram para a região. (COELHO FILHO, 2000). Esses grupos, em sua maioria, eram formados por descendentes dos colonos europeus chegados nas primeiras décadas do século XIX. Vinhaes (2001) afirma que esse episódio transformou Ilhéus e as cidades vizinhas num verdadeiro “eldorado”, despertando, ainda, em outras regiões do estado e do país (Sergipe, Ceará e Alagoas) o interesse em busca das riquezas geradas pelo cacau, criando uma corrente migratória intensa. Esses fatos vão compondo uma nova paisagem nesse espaço do sul da Bahia e definindo aí uma nova estrutura social, no corpo de uma fase de prosperidade econômica ainda desconhecida na região. A presença desses imigrantes foi fundamental no processo da formação da região o qual possibilitou o desenvolvimento de uma sociedade que começava a instituir uma estrutura própria. No Brasil, as relações entre os brancos e as raças de cor foram desde a primeira metade do século XVI condicionadas, de um lado pelo sistema de produção econômica – a monocultura latifundiária; do outro, pela escassez de mulheres brancas, entre os conquistadores. (Freyre, 2005, p.32-3). Com a imigração e a migração de muitos povos, porém, a sociedade sofreu muitas influências em seu cotidiano e neste contexto, a mulher sul baiana. Por meio dessas influências, principalmente vindas da Europa, as mulheres de classe alta que habitavam a região eram vistas, muitas vezes, como mãe, santa, deusa e rainha do lar. Segundo Sacramento (2000), “a mística do patriarcalismo povoa [o] universo de uma atmosfera de sacralidade cristã, em que a mulher espelha, metafisicamente, o modelo virtuoso da mãe de Cristo” (p.64). Esta visão de cunho místico e mítico define a função das mulheres, identificado-as e aproximando-as à Maria, mãe de Cristo, a mãe-esposa dessexualizada. Assim, afirma-se a missão sagrada das mulheres, a sua vocação natural, a sua procriação como centro disseminado de sentido. Diante disso, busca-se, neste texto, levantar alguns pontos para reflexão acerca da figura da mulher sul-baiana levando em consideração a sua inserção na sociedade. A análise dar-se-á através de receitas, muitas delas, constantes em obras de Jorge Amado centradas em torno da cultura cacaueira, especificamente em Tocaia Grande, a face obscura e Gabriela, cravo e canela. Há que se destacar que os títulos das receitas fazem menção a um papel complementar da mulher na sociedade Assim, procura-se perceber as possibilidades para a produção do conhecimento pelas discussões que circundam em torno do gênero, da classe e das relações étnicas existentes na região. O papel atribuído à mulher sul-baiana O modelo de recato feminino não tem origem na obra artística, mas sim na sociedade que lhe deu origem, e as metas-narrativas da sociedade ocidental encarregaram-se de “gendrar” este ser. (Sacramento, 2000, p. 59). Em primeiro lugar, a sociedade definia como características femininas a fragilidade, o predomínio da afetividade sobre a racionalidade e o recato. Desta forma, era exigida das mulheres a submissão. Aquelas dedicadas à função doméstica, de classe média, desobrigadas de qualquer trabalho produtivo, representam o ideal de proibição social imposto. “(...) a ela[s] não se destinava[m] a esfera pública (...). A mulher não era considerada cidadã política” (FALCI, 1007, p.251). Elas eram excluídas de uma participação efetiva na sociedade, de ocupar cargos públicos, de assegurar sua própria sobrevivência, e até mesmo, impedidas do acesso à educação. Segundo Rossi-Doria (1995), a concepção de esfera pública no Ocidente foi criada tendo como alicerce a exclusão feminina, não representando seu esquecimento, mas seu encerramento nas funções domiciliares, vistas como seu dever e destino. Diante disso, a dicotomia entre esfera pública e privada estribava a representação de papéis do masculino/feminino, com a exclusão da mulher da esfera pública e sua opressão na esfera privada. Ao se casarem, elas se vestiam de preto, não se perfumavam mais, não amarravam mais os cabelos com laços ou fitas etc. A função delas era ser “mulher casada” para serem vistas somente pelos seus maridos (PRIORE, 2005). Seu valor perante a sociedade estava ligado à honestidade, expressa pelo recato, pelo exercício de suas funções dentro do lar e pelo número de filhos que daria ao marido, sem mais poder passear, já que lugar de mulher honesta é no lar. “Percebe-se o endosso desse papel por parte dos meios médicos, educativos e da imprensa na formulação de uma série de propostas que visavam ‘educar’ a mulher para seu papel de guardiã do lar e da família” (D’INCAO, 1997, p. 230). Essas viviam ocupadas com afazeres domésticos e não davam muita atenção à instrução. Além disso, nos casamentos das famílias ricas, o matrimônio significava a transmissão do patrimônio, sendo sua origem fruto de acordos familiares e não da escolha da pessoa pelo cônjuge, principalmente, da mulher. Segundo D’Incao (1997) o casamento de pessoas ricas era usado como um degrau de ascensão social ou uma forma de manutenção do status. Em outras palavras, os casamentos eram realizados, na maioria das vezes, sem amor por parte dos cônjuges. O amor era excluído dessas transações, pois a paixão era tida como algo fatal. O casamento movido por sentimento era coibido entre pessoas que não estivessem dentro dos mesmos grupos mantenedores de poder, uma vez que, dessa forma, garantia-se a sucessão patriarcal entre os envolvidos. (Sacramento, 2006.). Dessa maneira, por imposição dos pais, muitos casamentos eram arranjados e as mulheres se submetiam à união muito cedo, ainda adolescentes. Elas se casavam entre os doze e os quinze anos com homens muito mais velhos (FREYRE, 2005). Logo, havia meninas, que, casadas, manifestavam repugnância em consumar o matrimônio. Em conseqüência disto, (...) ocorriam casamentos após o rapto da donzela, reforçando a tendência de as uniões ocorrerem pura e simplesmente por afeição e não em obediência aos pais. E 'o escolhido' pela noiva era sempre alguém de fora da família ou da oligarquia. (...) no Nordeste, os casamentos estabeleciam-se normalmente entre integrantes da mesma classe social, tanto entre os da elite branca, quanto entre os pobres e libertos. (GILBERTO FREYRE APUD SACRAMENTO, 2006). Outro problema dos casamentos arranjados é que raramente davam alegria às mulheres. Poucos anos depois do casamento, muitas vezes, os maridos separavam-se delas, despediam-se da casa e as substituíam por mulheres moças que estavam dispostas a suprir-lhes o lugar sem se prenderem pelos vínculos matrimoniais (PRIORE, 2005). Por outro lado, o casamento das mulheres pobres e das escravas não envolvia dote, nem acerto familiar, mas representava um valor social. As jovens, sem bens e que não tinham conseguido casamento no “estreito mercado matrimonial”, encontravam no homem mais velho, casado, o amparo financeiro de que precisavam. Existiam, no entanto, enormes discrepâncias no que diz respeito à realidade feminina quando se comparam diferentes classes sociais e étnicas no Brasil, tanto no que diz respeito às funções domésticas e administrativas, quanto à maternidade. Diferentemente das mulheres de elite, na maioria das vezes, correspondentes ao estereótipo de mulher submissa e mãe dedicada (seguindo as normas de conduta difundidas pela Igreja), as mulheres mais pobres, por outro lado, pertencentes às camadas populares, eram mães solteiras, que foram vítimas de exploração sexual e doméstica, traduzindo-se em humilhações, abandono e violência por parte do homem progenitor da criança. Assim, caracterizadas “como auto-sacrificadas, submissas sexualmente e materialmente reclusas, a imagem da mulher de elite se opõe à promiscuidade e à lascívia da mulher de classe subalterna, em regra mulata ou índia” (DEL PRIORE, 1993. p. 46). Nesse contexto, o que se notou é que às mulheres brancas e de elite era reservado o ambiente doméstico, o cuidar da casa, dos filhos, do marido. A essas, eram dirigidos os discursos da Igreja que as apresentavam como mulheres ideais para constituir família e perpetuar a moral. Em contrapartida, as pobres, as negras ou mestiças eram depreciadas, e os seus relacionamentos eram vistos como um problema para a moral vigente. A moral conservadora da época exigira a conservação da virgindade nas mulheres até o casamento vista, nesta época, como fator essencial para a manutenção da ordem social, sendo um dever da família, da sociedade e do Estado zelar pela honra feminina. Em outras palavras, nos casamentos das classes altas, a respeito dos quais temos documentos e informações, a virgindade feminina era um requisito fundamental. Independente de ter sido ou não praticada como um valor ético propriamente dito, a virgindade funcionava como um dispositivo para manter o status (...). (D’INCAO, 1997, p. 235). Embora os abusos sexuais fossem definidos como um crime, uma ameaça a toda a sociedade, muitos casos de estupros eram praticados contra as mulheres das camadas populares, uma vez que não possuíam outros mediadores a não ser a lei e o poder público para ajudá-las na reparação da ofensa sofrida. As mulheres pobres, em conseqüência de suas condições sócio-econômicas, tornavam-se mais suscetíveis às investidas masculinas, seja pelo seu trânsito maior no espaço público das ruas, na luta pela sobrevivência, ou mesmo no espaço doméstico, trabalhando como criadas, que as tornavam alvo dos assédios dos patrões (DEL PRIORE, 2005). No universo discursivo masculino da época, as mulheres negras e mestiças eram consideradas ideais para as práticas sexuais, mas não para o casamento. Segundo Freyre (2005) as negras mais bonitas eram objeto dos desejos sádicos dos homens e como se sabe, desde o descobrimento do Brasil, por não haver muitas mulheres brancas, era comum a prática sexual de portugueses, aqui instalados, com mulheres negras e índias. Diante disso, os luso-brasileiros usaram e abusaram integralmente dos corpos de sua escravaria, inclusive como objetos sexuais, convivendo desde o nascimento com amas de leite e serviçais negras. Encontrariam os brancos nas mulheres de cor a possibilidade fácil de realizarem suas fantasias, dada à prostituição praticada nas casas e fazendas do Brasil antigo. Na sociedade cacaueira as mulheres brancas eram as ideais para o casamento. Às de classe alta eram obrigadas a se casarem por imposição dos pais, já que o casamento significava a transmissão do patrimônio e a manutenção do status. O casamento de mulheres pobres e escravas, por sua vez, não envolviam dote, porém representava um valor social. As que não encontravam casamento terminavam, muitas vezes, com homens casados que financiavam seus “gastos”. Muitas mulheres, em sua maioria negra e mestiça, tentaram trabalhar, conviver em sociedade, porém eram desprezadas e mal vistas perante a mesma, já que a igreja condenava esse tipo de atitude. As mulheres, no geral, não eram consideradas cidadãs, deveriam estar presas ao lar e eram vistas como seres inferiores aos homens, impedidas de assegurar sua sobrevivência. É a partir desse lugar periférico que as mulheres se encontravam. Localizadas nos limites da sociedade, entre outros grupos de minorias, elas nos falam através de documentos e receitas difundidas através da história, contando-nos sobre as violências e humilhações que sofreram, sobre seus prazeres de ontem e também sobre suas decepções e sentimentos mais profundos. Assim fica notado que muitas mulheres educavam seus filhos, cuidavam deles nas suas doenças, que algumas conseguiram ganhar a vida com costura, com o fabrico de doces, trabalhos manuais em geral, que eram vendidos, muitas vezes, em tabuleiros pelas ruas (DEL PRIORE 2005). Houve ainda aquelas, que, por pobreza, se alternavam entre fazer renda, roçar ou carregar água e ainda cuidar dos filhos e ainda aquelas que buscavam a valorização do seu gênero. Mas afinal, ver a história das mulheres através de receitas e de escritos antigos serve para entendê-las? Sim, porque pode-se perceber de que modo existiam, viviam, e mais do que tudo, como eram, isto é, como se formava uma individualidade em seres cercados e “castrados”. As receitas culinárias ligadas ao gênero, ao hibridismo e à classe social. Como se vem discutindo, a mulher da região, desde pequena, devido a influências externas, foi criada para o lar, educada para cuidar dos filhos, costurar e, principalmente, cozer, o que significava distinção e fator de endosso da arquitetura social, sustentada no modus vivendi do coronelismo. Diante disso, noções de higiene e puericultura, aula de corte e costura, trabalhos manuais variados, aula de moral e religião, além de cozer, era o que a mulher deveria saber. A partir da análise de receitas, muitas vezes, originárias dos velhos cadernos com as quais as famílias transmitiam de geração à geração a arte de cozinhar, observou-se que os títulos dessas receitas revelam questões relativas ao papel da mulher e ao hibridismo étnico cultural. Como cozer era uma das principais tarefas doméstica designada a mulher, a partir da leitura e observação de registros culinários, ou seja, das receitas feitas durante muito tempo por mulheres, notou-se que alguns de seus títulos fazem menção a uma imagem feminina construída na sociedade. Receitas da região do cacau como “engorda marido”, “bolo casamenteiro”, “bolo de mãe Benta”, “compotas de banana à moda da vovó”, “Bolachinhas da vovó”, “Espera marido” foram preparadas durante anos por senhoras da sociedade, marcando o apogeu do ciclo do cacau. Essas receitas marcaram a vida da mulher pela extrema dedicação à família e aos afazeres domésticos e mostram-na presa ao lar, ao marido e ao estereótipo do sexo frágil, sempre à procura de um protetor, através do casamento. Essa era treinada para desempenhar o papel de mãe e esposa respeitada, ou seja, orientar os filhos, costurar, cuidar e cozinhar para o marido, com sua sexualidade subordinada à maternidade. Tais receitas eram passadas para filhas e netas como garantia da perpetuação de uma tradição. Na obra Tocaia Grande, a face obscura, de Jorge Amado, percebe-se esse mesmo comportamento da personagem Aruza. Dedicada à família e aos aspectos domiciliares, ela prepara uma grande refeição para seu pai e o seu convidado: “Apesar dos convidados serem apenas eles dois, Álvaro e Fadul, o jantar teve aspecto de banquete, tal a variedade de pratos árabes e brasileiros e a categoria das sobremesas. (1984, p. 34)” Essa comezaina foi elaborada e servida por ela, única filha dos donos da casa, quem também preparou e organizou o jantar. “Cozinheira emérita, de forno e fogão” (1984, p. 34). Nota-se que as mulheres estavam ligadas aos trabalhos domésticos e eram elogiadas, normalmente, pelos seus dotes culinários, pré-condição para o casamento. Na Obra Gabriela, cravo e canela, a personagem principal serve ao seu marido com muito gosto e dedicação: “Gabriela acabava de pôr na mesa os bules fumegantes de café e leite. Sobre a alva toalha, cuscuz de milho com leite de coco, banana-da-terra frita, inhame, aipim.” (1958, p. 33) Em relação às receitas relativas ao hibridismo étnico-cultural, percebe-se que a Bahia recebeu influências, em suas receitas, de países europeus como Portugal, Inglaterra, França e Espanha. Estes trouxeram para a nossa culinária comidas como roupa velha, feita a partir de restos de lombo assado, de carne de cozido ou de almoço fresco, ensopados e rosbife, prato típico inglês roast beef abrasileirado por nós. É uma carne mal assada, porém as cozinheiras baianas, como ocorreram com outras receitas, aperfeiçoaram-no e deram-lhe outro cheiro e sabor. Enfim, aprimoraram o prato muito baianamente e fizeram a carne mal passada com molho ferrugem. Não apenas o roast beef, mas também as moquecas de bacalhau e o peixe salgado podem então servir como exemplo da culinária da mulher branca. O bacalhau seco, de Portugal e da Espanha era abundante e foi se incorporando à culinária baiana. Em outras palavras, a região cacaueira é uma mistura de raças e povos formada de índios, negros, árabes, mulatos, espanhóis e outras contribuições, que se completam numa junção que proporcionou uma amplitude de receitas que compõem a culinária sul-baiana. Diante disso, pode-se encontrar, ainda, em receitas do final do século XIX e início do XX, do ciclo do cacau, a influência da cultura Árabe e Síria na culinária Sul-baiana. Como exemplo desta influência, apresenta-se as receitas “Pão árabe” e “Pastel sírio”. Essas receitas exemplificam uma identidade híbrida em nossa sociedade, valores e comportamentos incutidos em nossas vidas, enquanto representantes da diferença cultural, absorção e digestão destas influências. Nas literaturas regionais encontramos receitas que fazem menção à influência árabe na culinária Sul-baiana. Ainda em Tocaia Grande, por exemplo, alguns pratos árabes são apresentados e degustados pelo turco Fadul como pode ser visto no excerto a seguir: “o sublime sabor do araife, pastel de amêndoa com calda de mel, seu doce predileto” (1986, p.34), e ainda os quibes crus que são servidos no decorrer da obra. Da mesma forma, em Gabriela cravo e canela, a personagem principal usa especiarias como pimenta do reino e pimenta malagueta, típicas da culinária árabe, para fazer os seus famosos bolinhos de carne: “os bolinhos da carne, picantes, eram cantados em prosa e verso - em verso, porque o professor Josué a eles dedicara uma quadra, onde rimava frigideira com abrideira, cozinheira com faceira” (1975, p.154). O Manjericão e o hortelã também são muito utilizados nos pratos árabes feitos por Gabriela, talvez por influência de Nacib: “esse brasileiro nascido na Síria, sentia-se estrangeiro ante qualquer prato não baiano, à exceção de quibe.” (1975, p. 32). Esses servem de exemplo da forte presença árabe na região, apontando a miscigenação grapiúna. A partir dessas receitas, então, pôde-se unir e criar pratos diversificados pelo saber de outras culturas quer indígena, européia, quer africana, sendo talvez esse o motivo pelos quais as receitas da região têm sabores diferentes, únicos, porque pode-se encontrar nelas o passado e cultura do povo grapiúna. A Bahia encerra superioridade, a excelência, a primazia, na arte culinária do país, pois que o elemento africano, com a sua condimentação requintada de exóticos adubos, alterou profundamente as iguarias portuguesas, resultando daí um produto todo nacional, saboroso, agradável ao paladar mais exigente, o que excede a justificada fama que precede a cozinha baiana. (QUERINO, 1922, p. 23). Através dessas receitas, pode-se resgatar a identidade cultural local, portanto o resgate das raízes culturais, o conhecimento dos elementos fundadores da cultura à que o povo pertence. Sendo assim, a partir do conhecimento dessa cultura, através das receitas culinárias, pôde haver o intercâmbio, o comércio, uma relação respeitosa com a cultura do outro. Além da contribuição indígena e de outros países colonizadores, a Bahia vem transmitindo, durante anos, como se cozinha desde a era do descobrimento. Tais pratos são mais comuns, triviais e os mais numerosos e exóticos. Neles, são nítidas as influências estrangeiras e é, muitas vezes, o que constitui o comum da comida do cotidiano baiano. Para mais uma vez exemplificar esta identidade híbrida adquirida pelos baianos, pode-se citar receitas como o caruru, o efó, o vatapá e o quindim de Iaiá, que mostram tal influência cultural. Estes pratos constituem uma trilogia culinária da Bahia. São pratos criados por africanos na Bahia, à base de dois ingredientes, o azeite de dendê e o camarão seco. O xinxim, guisado africanizado na Bahia, bobó de camarão, eguedé, bobó de feijão, entre outros, por mais uma influência nitidamente africana, também foram introduzidos na culinária regional e fez com que o baiano começasse a se deliciar com essas refeições, feitas com feijão, com consistência de pirão e angu, usando para isto a farinha de mandioca, ou seja, um verdadeiro bobó de feijão, preparado no prato. Assim, teve início o processo de criação da famosíssima culinária baiana. Em Gabriela Cravo e Canela, de Jorge Amado, vê-se nitidamente essa influência africana. A personagem principal, muitas vezes, no decorrer da narrativa, faz uso de diversas especiarias típicas africanas e que hoje já fazem parte da culinária regional. O azeite de dendê, por exemplo, condimento tipicamente baiano, evidencia a origem negra da região e está presente nos pratos típicos de Gabriela: acarajés de cobre, abarás de prata, o mistério de ouro do vatapá, etc: “Seus acarajés, as fritadas envoltas em folhas de bananeira, os bolinhos de carne (...); os acarajés apimentados, os bolinhos salgados de bacalhau.” (1975, p. 154) Então, dessas diversas influências, a culinária Sul-baiana surge através das cozinheiras da Bahia, sendo as receitas passadas de geração em geração. Porém, a tradição da culinária vai além do cozimento dos pratos. São importantes também os acompanhamentos, a maneira de servir e a de comer. Tudo isto consistindo em hábitos que compõem a culinária tradicional, convergem para o entrelaçamento entre a culinária e a mulher e marcam um traço específico de uma comunidade. Traço este, que, com certeza, sofreu influências diretas e indiretas, de outras culturas e fez com que fossem criadas receitas que caracterizam a comida típica e regional do Sul da Bahia. Em resumo, é notório que o Sul da Bahia encerra a excelência, a primazia na arte culinária do país, pois os elementos africanos, indígenas e europeus alteraram as iguarias portuguesas, resultando num produto saboroso, celebrado e reconhecido em todo o mundo. Essas receitas, ou seja, seus títulos mais especificamente, dizem respeito a questões relativas ao hibridismo étnico cultural, como também ao papel atribuído à mulher pela sociedade, já que essas eram criadas para cuidar do lar, do marido e dos filhos e ainda cozinhar significava um fator de distinção, sustentada pelo coronelismo. Através dessas receitas, pode-se perceber como as mulheres existiam e viviam em sociedade, além de servir de referência para entender como se relacionavam. Considerações finais Pensar o papel da mulher, sua sensibilidade e vivência, remete a uma visão intrinsecamente ligada ao aspecto familiar e doméstico. A história da mulher, durante muito tempo, encontrava-se praticamente ausente da historiografia brasileira. Atualmente, entretanto, poucos são os estudos sobre a mulher nos espaços brasileiros entre os séculos XVII e XX, principalmente do Sul da Bahia. Não existem estudos sobre as mulheres do sul da Bahia no tripé classe, gênero e etnia, que constituem ancoragens identitárias, hoje reivindicadas pelo pós-feminismo (BUTLER, 1999) que se, por um lado, constituíram fator de assujeitamento das mulheres, por outro abrem como zonas de escape para que essas se assumam enquanto seres sociais produtivos. Assim, o estudo dessas mulheres, através de receitas culinárias, serve para mostrar como elas estiveram presas a estereótipos, como o título dessas receitas serve de referencial cultural para entender o que passaram e como viveram. A partir de receitas culinárias também é possível ver a influência étnica e social que formou a mulher Sul-Baiana. Logo, trata-se de desvendar as complexas relações entre as mulheres e seu meio; mostrando como esse ser social se articulava e tecia relações estreitas como parte integrante de um todo social.
|
||||||
|
Referências bibliográficas AMADO, Jorge. [1958] Gabriela, Cravo e Canela. 51ª ed. Rio de Janeiro: Record; São Paulo: Martins, 1975. __________. [1984] Tocaia Grande: a face obscura. 8ªed. Rio de Janeiro: Record, 1986. BUTLER, J. Corpos que pensam: sobre os limites discursivos do “sexo”, In: LOPES LOURO, G. (org.) O corpo educado. Pedagogia da sexualidade. Belo Horizonte: Autêntico, 1999. COSTA P. Netto, Joaquim. Caderno de comidas baianas. Rio de Janeiro. Tempo brasileiro; Salvador: Fundação Cultural de Estado da Bahia, 1986. D’INCAO, Marta Ângela. Mulher e Família Burguesa. In: DEL PRIORE. História das mulheres no Brasil. São Paulo: contexto, 1997. P. 235 DEL PRIORE, Mary. Ao sul do corpo: condição feminina, maternidades e mentalidades no Brasil colônia. Rio de Janeiro: José Olympo, 1993. _________. História do amor no Brasil. São Paulo: Contexto, 2005. CARMELITA, Dona. Receitas de dona Carmelita. 5. ed. São Paulo: T.A. Queiroz, 1993. FALCI, M. Knox. Mulheres do sertão Nordestino. In: DEL PRIORE. História das mulheres no Brasil. São Paulo: contexto, 1997. P. 251 FREYRE, G. Casa grande & senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal. 50.ed. revista. São Paulo: Global, 2005. QUERINO, Manoel. A arte culinária na Bahia. Salvador. Livraria Editora Progresso, 1922. SACRAMENTO, Sandra M. P. O perfil feminino Na Obra de José Lins do Rego: Opressão e discernimento. 2000. 120. Tese (Doutorado em Literatura Brasileira – Letras Vernáculas). Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. 2000 _________ O amor em terras brasileiras. Revista Estudos feministas. Florianópolis, v. 14, nº1, jan/abril 2006. Resenha. |
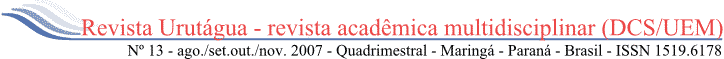
 por
por