|
|
Mestrando em Educação na Universidade de Brasília. Professor da Universidade Estadual de Goiás (UEG) e Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA)
|
Marxismo e a produção do conhecimento
Esse artigo se insere no contexto das problemáticas a respeito dos métodos de pesquisa, respeitando suas adversidades[1], limites teóricos e principalmente se colocando na direção de compor uma reflexão séria a respeito do marxismo naquilo que se refere à produção do conhecimento científico. A produção do conhecimento, classicamente, é entendida na relação entre o sujeito que conhece (cognoscente) e o objeto que pode ser conhecido (cognoscível). A interpretação se dar por modelos teóricos: “esta tipologia não é de maneira nenhuma especulativa, pois que cada um destes modelos[2] encontrou a sua ilustração concreta em correntes filosóficas historicamente existentes” (SCHAFF, 1986, p.73) O objetivo deste artigo é refletir sobre o método dialético na compreensão de suas particularidades e na busca pela revelação da realidade contemporânea. Materialismo Dialético A dialética marxista se insere na tentativa de superação da dialética hegeliana. Segundo Ianni (2003) a dialética hegeliana foi desenvolvida por Marx e outros pensadores na filosofia e ciências sociais onde se reabriu os contrapontos: indivíduo e história, classes sociais e grupos sociais, sociedade civil e Estado, estruturas e dominação e apropriação, soberania e hegemonia, classes subalternas e classes dominantes, reforma e revolução, capitalismo e socialismo. Alguns momentos lógicos da reflexão dialética compreendem contrapontos e articulações tais como: aparência e essência, parte e todo, presente e passado, singular e universal. O seu princípio explicativo fundamental é o da “contradição”. A par desses contrapontos reavivados pelas idéias de Marx, algumas mais diretas caracterizam o pensamento marxista. Segundo Meksenas (2002, p. 84), pode-se caracterizar como elementos pertencentes à tipologia marxista: a) “a ciência é produto da história e continuará a sê-lo enquanto houver relações dos indivíduos entre si e com a natureza. Isto é, só posso conhecer, conceituar e pesquisar o mundo quando admito que o indivíduo age socialmente com ou contra seus semelhantes”; b) “o conhecimento da natureza e do ser humano realiza-se por meio da influência que os indivíduos recebem das relações sociais tornadas econômicas [...]. Faz-se necessário o conhecimento das relações sociais de produção e de sua distribuição, isto é, das condições produtoras da riqueza e da miséria.” Essas idéias radicalizam a forma de pensar. A título de exemplo, pode-se tratar da questão da relação entre a consciência e a realidade. Esse ponto foi decisivo no contraponto entre o marxismo e o idealismo (fenomenologia[3]). Para o idealismo é a consciência que produz a realidade. Para Marx é justamente o contrário: a realidade, ao contrário, invés de produto é a produtora da consciência. Com isso, o marxismo inaugura um método que se sustenta pela concreticidade do real a partir da ordem material das coisas e não pela especulação direcionada à consciência do espírito como no método fenomenológico. A discussão sobre o método dialético envolve diferentes categorias que paulatinamente foram se desenvolvendo a partir dos escritos de Karl Marx. Dentre essas categorias, destacam-se: O Concreto e suas Mediações Em “Para a Crítica da Economia Política” Marx trata do Método da Economia Política. Ele é enfático: O
último método [dialético] é manifestamente o método cientificamente
exato. O concreto é concreto porque é síntese de muitas determinações,
isto é, unidade do diverso. Por isso o concreto aparece no pensamento
como o processo de síntese, como resultado, não como ponto de partida,
ainda que seja o ponto de partida efetivo e, portanto, o ponto de partida
também da intuição e da representação. No primeiro método
(hegeliano), a representação plena volatiliza-se em determinações
abstratas, no segundo, as determinações abstratas conduzem à reprodução
do concreto por meio do pensamento. (MARX, 1985, p.14). Nesse instante, Marx expõe suas críticas ao pensamento hegeliano que, segundo ele, não dar conta de pensar a realidade como esta de fato é. Com isso, Marx desenvolve a idéia de unidade no diverso como desafio do pensamento e não um amontoado de idéias, fragmentadas e desenvolvidas linearmente como o faz o pensamento positivista, menos ainda uma lógica que valoriza uma totalidade abstrata como no idealismo. Ao contrário, ele baliza a realidade na própria realidade, na concretude do real. O
dinheiro pode existir, e existiu historicamente, antes que existisse o
capital, antes que existissem os Bancos, antes que existisse o trabalho
assalariado. Desse ponto de vista, pode-se dizer que a categoria mais
simples pode exprimir relações dominantes de um todo menos desenvolvido,
ou relações subordinadas de um todo mais desenvolvido, relações que já
existiam antes que o todo tivesse se desenvolvido, no sentido que se
expressa em uma categoria mais concreta. Nessa medida, o curso do
pensamento abstrato que se eleva do mais simples ao complexo corresponde
ao processo histórico efetivo. (MARX, 1985, p.15). É do mais simples que se chega ao mais complexo. Isso significa dizer que o desafio de toda pesquisa é confrontar o real no seu particular. É do particular que se chega à totalidade. Dos “nossos” objetos de pesquisa, recortados na sua particularidade e investigados em suas peculiaridades que podemos chegar ao mais complexo, isto é, à totalidade da realidade. Esse é o desafio dos trabalhos de pesquisa na Universidade. O processo inverso também se realiza, do mais desenvolvido que se encontra o menos desenvolvido e com isso pode-se dar luz e vida ao passado enterrado em nossa memória. Nesse sentido, Marx é contundente: A
sociedade burguesa é a organização histórica mais desenvolvida, mais
diferenciada da produção. As categorias que exprimem suas relações, a
compreensão de sua própria articulação, permitem penetrar na articulação
e nas relações de produção de todas as formas de sociedade
desaparecidas, sobre cujas ruínas e elementos se acha edificada, e cujos
vestígios, não ultrapassados ainda, leva de arrastão desenvolvendo tudo
que fora antes apenas indicado que toma assim toda a sua significação
etc. A anatomia do homem é a chave da anatomia do macaco. O que nas espécies
animais inferiores indica uma forma superior não pode, ao contrário, ser
compreendido senão quando se conhece a forma superior. A Economia
burguesa fornece a chave da Economia da Antigüidade etc. Porém, não
conforme o método dos economistas que fazem desaparecer todas as diferenças
históricas e vêem a forma burguesa em todas as formas de sociedade.
Pode-se compreender o tributo, o dízimo, quando se compreende a renda da
terra. Mas não se deve identificá-los. (MARX, 1985, p.17). É do homem que se chega no macaco e não o contrário. A consciência humana faz parte da etapa mais desenvolvida do homem e ela é que permite compreender, explicar e “inventar” a história. Nesse sentido, as teorias e idéias até podem ser especulações, mas são produtos da consciência do homem. Quem diz que tal espécie de macaco é X ou Y não é o macaco e sim o homem. O macaco, na verdade, nem sabe. É o homem quem diz que o macaco faz tal e tal coisa, diz qual é a espécie do macaco e até inventa outras formas de pensamento, não apenas acerca do reino animal, mas tudo que permita dar significação aos homens como a arte, tecnologia, amor, política, economia, ciência, religião, filosofia, etc. Portanto, as produções da consciência humana, na dialética com a realidade produzem novas teorias, e dessa forma se compreende a realidade de maneira histórica e lógica, conforme a conhecemos. Toda a realidade significada pelo homem é parte da produção de sua própria consciência. Não se está aqui dizendo que a realidade é produto da consciência humana. Ao contrário, a realidade é produto da atividade humana. E esta mesma realidade é incorporada na consciência do homem não passivamente, mas pelo esforço que os homens (na passagem até o homem evoluído de hoje) fizeram ao longo de sua história para possuir a consciência tal qual a conhecemos. Esclarecendo essa questão do mais complexo e do menos complexo, pode-se dizer que o todo é necessário pela parte. Mas também da parte se chega ao todo. A particularidade e totalidade estão em conexão íntima numa tensão e jogo dialético em que não podem ser identificadas nem podem ser separadas. Aqui está o germe da discussão dialética. Parte e todo não são diferentes e nem são somente iguais. Ao contrário, são iguais e diferentes ao mesmo tempo, pois não podem ser separadas e nem identificadas. O que a faz existirem é a tensão constante de ambos. Nesse sentido, a teoria e a prática não se separam e nem são a mesma coisa[4]. Segundo Ciavatta (2001) uma questão comum é o equívoco acerca do papel da totalidade na produção do conhecimento. Outra
dificuldade é a compreensão equivocada de que totalidade tem o sentido
de tudo, o que inviabiliza um processo sério de conhecimento. No sentido
marxiano, a totalidade é um conjunto de fatos articulados ou o contexto
de um objeto com suas múltiplas relações ou, ainda, um todo estruturado
que se desenvolve e se cria como produção social do homem [...]. Estudar
um objeto é concebê-lo na totalidade de relações que o determinam,
sejam elas de nível econômico, social, cultural, etc. (CIAVATTA, 2001,
p.132). O objeto de pesquisa deve ser situado no contexto histórico entendido num processo e não estaticamente e visto a partir de sua gênese nos processos sociais mais amplos, independente de qual seja a área do conhecimento. Esse é o verdadeiro sentido do que se chama de objeto complexo, isto é, que necessita ser investigado à luz de diferentes mediações apanhadas nas suas diferentes formas, para, na construção do objeto de pesquisa se ir revelando as peculiaridades que constituem este objeto. Destacamos
até aqui os aspectos epistemológicos da reconstrução histórica do
conhecimento. Concebemos a realidade não como um sistema estruturado em
si mesmo, mas como uma totalidade histórica, socialmente construída
[...]. Totalidade não significa todos os fatos, e todos os fatos reunidos
não constituem uma totalidade. O conhecimento dos fatos isolados, mesmo
quantificados, é insuficiente para explicar o todo [...] (CIAVATTA, 2001,
p.138). Consciência e Realidade Uma
outra questão típica do método dialético e que radicaliza a noção de
método dialético em contraposição aos demais é a relação entre a
consciência e a realidade, conforme apontado anteriormente. Marx (1985,
p.25) afirma: “O modo de produção da vida material condiciona o
processo em geral de vida social, político e espiritual. Não é a consciência
dos homens que determina o seu ser, mas ao contrário, é o seu ser social
que determina sua consciência”. Com essa idéia Marx produz uma nova
forma de interpretar o mundo não mais na abstração mental da consciência
como no idealismo hegeliano, mas na própria materialidade da realidade.
Kosik (2002) esclarece: A
dialética não considera os produtos fixados, as configurações e os
objetos, todo o conjunto do mundo material reificado, como algo originário
e independente. Do mesmo modo como assim não considera o mundo das
representações e do pensamento comum, não os aceita sob o seu aspecto
imediato: submete-os a um exame em que as formas reificadas do mundo
objetivo e ideal se diluem, perdem a sua fixidez, naturalidade e pretensa
originalidade, para se mostrarem como fenômenos derivados e mediatos, com
sedimentos e produtos da praxis social da humanidade. (KOSIK, 2002, p.21). O pensamento dialético coloca o homem no “centro da vida”, da produção, como é sua condição ontológica. Marx e Engels (1984) afirmam em A Ideologia Alemã: Podemos
distinguir os homens dos animais pela consciência, pela religião, por
tudo o que se quiser. Mas eles começam a distinguir-se dos animais assim
que começam a produzir os seus meios de vida, passo este que é
condicionado pela sua organização física. Ao produzirem os seus meios
de vida, os homens produzem indiretamente a sua própria vida material.
(MARX e ENGELS, 1984, p.15). Em outro ponto eles destacam: “a consciência é, pois, logo desde o começo, um produto social, e continuará a sê-lo enquanto existirem os homens” (MARX, 1985, p.34). As relações sociais são produto das relações humanas e estas são também produtos da consciência humana que por sua vez é intrinsecamente dependente da produção material dos homens. O Papel da Ciência na Produção do Conhecimento A partir das considerações do método dialético a ciência toma um novo rumo, o de esclarecer o real. Como afirma Kosik (2002): Como
a essência – ao contrário dos fenômenos – não se manifesta
diretamente, e desde que o fundamento oculto das coisas deve ser
descoberto mediante uma atividade peculiar, tem de existir a ciência e a
filosofia. Se a aparência fenomênica e a essência das coisas
coincidissem diretamente, a ciência e a filosofia seriam inúteis.
(KOSIK, 2002, p.17). A produção do conhecimento tem sentido enquanto sua função de revelar a realidade na contradição desta, no contraponto aparência e essência e na tensão entre representação e conceito. Dito de outra forma, por Kosik (2002): O
conhecimento se realiza como separação de fenômeno e essência, do que
é secundário e do que é essencial, já que só através dessa separação
se pode mostrar a sua coerência interna, e com isso, o caráter específico
da coisa. Neste processo, o secundário não é deixado de lado como
irreal ou menos real, mas revela seu caráter fenomênico ou secundário
mediante a demonstração de sua verdade na essência da coisa. Esta
decomposição do todo, que é elemento constitutivo do conhecimento filosófico
– com efeito, sem decomposição não há conhecimento – demonstra uma
estrutura análoga à do agir humano: também a ação se baseia na
decomposição do todo. (KOSIK, 2002, p.18). A Noção de Verdade Dentro desta perspectiva o conceito de verdade é repensado: a verdade é então absoluta ou relativa? Essa é uma questão que desafiou muitos intelectuais durante os séculos XVIII e XIX. A partir do movimento de quebra da estrutura tradicional do pensamento positivista a idéia de verdade relativa se impôs. À luz do pensamento marxista é possível ir mais longe e afirmar: a verdade é relativa, mas é relativa à história. Ela não é de todo relativa como defendem os relativistas e como se tem visto hoje na corrente pós-moderna. Se
não devemos nos iludir com a tentação do absoluto – risco político e
cognitivo – podemos construir uma verdade em processo. Considerar a
verdade como processo é admitir que tendemos a ela, mas que ela jamais
será terminada. Significa também admitir que o contraditório exige
discussão e debate, e não imposição unilateral. (FONTES, 2001, p.129). A verdade deve ser vista num processo situado no contexto histórico em que esta vigora. Este é o desafio da verdade, nas pesquisas científicas à luz do marxismo. __________ [1] A discussão sobre os métodos de pesquisa é tema complexo e multifacetado. Classicamente, as epistemologias, positivismo, fenomenologia e dialética tem balizado a discussão no campo das ciências humanas. Nesse artigo, no entanto, será objeto de análise, apenas aquilo que se refere à produção do conhecimento científico sistematizada no método marxiano. [2] Adam Schaff está se referindo aos diferentes modelos teóricos que concebem a relação sujeito e objeto de estudo na pesquisa, conforme será visto neste artigo suas características. [3] A fenomenologia tem múltiplas formas de pensar. Há tendências objetivas e subjetivas no interior desse método. Para o presente trabalho uma noção mais ampla e geral nos serve. [4] Essa questão exigiria maior discussão a fim de que se esclarecesse seus fundamentos, coisa que não será feita neste trabalho pois não constitui o objeto direto desta exposição. Há um texto escrito por Adorno em que ele situa essa discussão. Ver: ADORNO. Notas Marginais sobre Teoria e Práxis. In: Palavras e Sinais: Modelos Críticos 2. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995. |
|
|||||
|
Referências
Bibliográficas ADORNO, T. W. e HORKHEIMER, M. Dialética do Esclarecimento. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1985. ________. Introdução à Controvérsia sobre o Positivismo na Sociologia Alemã. In: ADORNO, T. W. Os Pensadores. Consultoria: Paulo Arantes. São Paulo: Abril Cultural, 1992. ________. Palavras e Sinais: Modelos Críticos 2. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995. CIAVATTA, M. O conhecimento histórico e o problema teórico-metodológico das mediações. In: CIAVATTA, M. e FRIGOTTO, G. Teoria e Educação no Labirinto do Capital. Petrópolis, RJ: Vozes, 2º Edição, 2001. FONTES, V. História e Verdade. In: CHIAVATTA, M. e FRIGOTTO, G. (orgs). Teoria e Educação no Labirinto do Capital. Petrópolis, RJ: Vozes, 2º Edição, 2001. FRIGOTTO, G. Educação, crise do trabalho assalariado e do desenvolvimento: teorias em conflito. In: FRIGOTTO, G. (org.). Educação e Crise do Trabalho: Perspectivas de Final de Século. Petrópolis, RJ: Vozes, 3º Edição, 1999; HOBSBAWM, E (org.). História do Marxismo. Vol.1. São Paulo: Paz e Terra, 1985. ____________. HORKHEIMER, M. Eclipse da Razão. São Paulo: Centauro, 2000. IANNI, O. A Polêmica sobre Ciências e Humanidades. Seminários Unicamp, 2003 (mimeo). KONDER, L. Marx. São Paulo: Paz e Terra, 1982. KOSIK, K. Dialética do Concreto. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 7º Edição, 2002. LOWY, M. Ideologias e Ciência Social: elementos para uma análise marxista. São Paulo: Cortez, 16º Edição, 2003. ______. As Aventuras de Karl Marx contra o Barão de Munchaussen: marxismo e positivismo na sociologia do conhecimento. São Paulo: Cortez, 6º Edição, 2001. MARX,
K. Para a Crítica da Economia Política. São Paulo: Abril
Cultural. Coleção os Economistas, 1982. ______.
O Capital. São Paulo: Abril Cultural. Coleção os Economistas,
1985. ______.
O Dezoito Brumário. São Paulo: Moraes, 2004. ______. & ENGELS, F. A Ideologia Alemã: teses sobre Feuerbach. São Paulo: Moraes, 1984. |
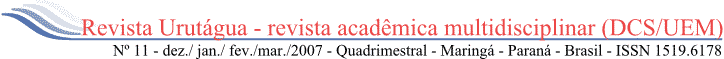
 por
por 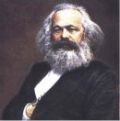 Introdução
Introdução