|
|
|
Graduanda do curso de Direito da Universidade Católica de Goiás.
|
J. Habermas e M. Weber:dois modelos de racionalidade jurídica*
O presente artigo vem para configurar os problemas que, segundo Jürgen Habermas, envolvem os conceitos de positividade e legalidade em Weber; mapear as diferenças entre direito revelado e direito positivo à luz da doutrina weberiana e esclarecer a noção habermasiana e a noção weberiana de racionalidade jurídica. As análises de temas éticos e morais ocupam um
lugar central no pensamento de Jürgen Habermas, que vem exercendo
significativa influência entre teóricos e profissionais das Ciências
Humanas. Habermas
sobressai como um dos grandes defensores do projeto moderno na atualidade.
Para ele, os grandes trunfos da modernidade são a idéia de
racionalidade, de controle do homem sobre seu futuro e de possibilidade de
construção de um projeto universal de liberdade, idéias-força que o
homem ainda não deve abandonar. Ele pretende, em diálogo permanente com
a problemática pós-moderna, sustentar a atualidade de um projeto moderno
renovado, atento a seu tempo e aos desafios que o mundo apresenta.
Temos em análise a primeira fase de
Habermas fazendo críticas a pontos de vista de Max Weber no que toca o
direito e a moral, a racionalidade jurídica e fatos que envolvem
legitimidade e legalidade da norma jurídica. Eis que serão analisadas as
contradições que envolvem Weber e Habermas. Em rápidas pinceladas, para
aquele, a legalidade se legitima a partir de si mesma, transferindo os
problemas de fundamentação para os de procedimento, porém, não
conseguiu ultrapassar a discussão do conceito de Direito como
legitimidade racional, por estar circunscrito pelas suas densas preocupações
com a sociologia do poder. Um
acordo normativo para ser racional, segundo Weber se orienta de forma
“racional conforme fins” (teleológico), enquanto Habermas defende a
idéia de “racionalidade segundo valores” (deontológico). Weber ainda
menciona a moral como sendo autônoma em relação ao direito, enquanto
que Habermas caracteriza a moral de modo complementar em relação ao
direito. Legalidade
e Legitimidade
Weber interpreta as ordens estatais das sociedades ocidentais modernas como desdobramentos da “dominação legal”. Sua legitimidade depende da fé na legalidade do exercício do poder. Não se pode considerá-lo como alguém que aceitasse a submissão do político ao jurídico, porque o fundamento da legitimidade weberiana oscila entre norma e decisão. Para Weber, seria ilusório reduzir a política a uma discussão racional em uma esfera pública dada. Admite ainda, que a força e a violência são fundamentais nos processos políticos, mas nem por isso seria legítimo classificá-lo simplesmente como um apologista da violência e da coerção. O poder é vontade de potência, mas os sistemas políticos como sistema de dominação têm necessidade da legitimação para serem duráveis: não existe dominação sem legitimação; é necessário dosar coerção e consentimento. Sua sociologia política estabelece a relação entre a dominação e os termos correspondentes: a obediência, as razões normativas que motivam a subordinação dos submissos e os tipos de legitimidade que fundam as pretensões dos dominadores. Além disso, a dominação não é tão facilmente abolida; mesmo a democracia a pressupõe, afirma. Nesse sentido, a sociologia weberiana tem em comum como a filosofia política moderna a inquietação em desvelar a maneira pela qual se é levado a reconhecer a legitimidade de um poder e poder fazer da obediência um dever. Importante
apontar que, para Weber, há três tipos de dominação: a dominação
carismática que funda sua legitimidade na crença no caráter
sagrado, heróico do chefe ou do profeta; a dominação tradicional
que baseia sua crença na santidade na tradição; e a dominação
legal, em que há inexistência extrapositiva na qual os que obedecem
a essa dominação possam fundar sua validade. Eis um problema engendrado
por um tipo de dominação característica da modernidade, no qual a
legitimidade coincide com a sua legalidade. Segundo ele, a dominação
legal adquire um caráter racional, pois a fé na legalidade das ordens
prescritas e na competência dos que foram chamados a exercer o poder tem
a ver com a racionalidade que habita na forma do direito e que legitima o
poder exercido nas formas legais. Uma das características mais importantes de uma forma de dominação fundada na crença da legitimidade da ordem jurídica e política é o seu caráter impessoal, uma vez que a obediência não está ligada àquele que detém o poder, mas é condicionada unicamente pelo conteúdo obrigatório do direito. Outro aspecto importante é o caráter objetivo das competências juridicamente delimitadas. A dominação legal tem ainda duas características particulares: a burocratização da direção administrativa e a preeminência da ordem jurídica estatal. O fundamento da legitimidade de uma ordem estatal não poderia escapar à decisão, momento especificamente político. A concepção weberiana de dominação racional decorre da relação de força com os interesses complexos e com as ações destinadas a dar forma a tais interesses e a lhes promover. Em razão desse ponto de partida, o que importa, antes de tudo, é mostrar que a dominação é diferente dos princípios de legitimação que a lei reivindica, mas não se trata de uma discussão sobre a justiça ou injustiça de uma determinada construção política. Para Weber cabe a visualização do problema da legitimidade, como meio de estabilização e racionalização da disputa do poder, e também como fim a ser perseguido por qualquer tipo de dominação. Habermas, por sua vez, afirma que “as ordens estatais da sociedade moderna não podem tirar sua legitimação senão da idéia de autodeterminação, com efeito, é necessário que os cidadãos possam conceber-se a qualquer momento como os autores do direito ao qual estão submetidos enquanto destinatários” (HABERMAS, 1997, p. 479). A tese defendida por Habermas é a de que não se pode supor que a fé na legalidade de um procedimento legitime-se por si mesma, como afirma Weber, pois o que dá força à legalidade é justamente a certeza de um fundamento racional, a partir de uma aceitabilidade consensual e dialógica, que transforma em válido todo ordenamento jurídico. Avulta-se a importância de se evidenciar a participação popular nos juízos de justificação das normas jurídicas. O direito, para se legitimar, ou seja, a busca pela fundamentação racional da base de validade do Direito, deverá contar com o assentimento de seus destinatários, que são ao mesmo tempo, seus autores. Isso acontece segundo Habermas, a partir da conexão entre soberania popular (exige o entendimento mútuo) e os direitos subjetivos ou direitos humanos (permitem o agir orientado pelo interesse privado) e, portanto, entre autonomia pública e privada. O princípio da soberania do povo estabelece um procedimento que, a partir de suas características democráticas, fundamenta a suposição de resultados legítimos. Esse princípio expressa-se nos direitos à comunicação e à participação que garantem a autonomia pública dos cidadãos. Em contraposição a isso, aqueles direitos humanos clássicos que garantem aos membros da comunidade jurídica vida e liberdade privada para seguir os seus projetos pessoais, fundamentam uma soberania das leis que as torna legítimas a partir de si mesmas. Sob esses dois pontos de vista normativos deverá legitimar-se o Direito codificado, portanto, modificável, como um meio de garantir uniformemente a autonomia privada e pública do indivíduo. A autonomia privada e a pública pressupõem-se mutuamente. O nexo interno entre democracia e Estado de direito consiste em que se, por um lado, os cidadãos só podem fazer uso adequado da sua autonomia pública se forem suficientemente independentes em virtude de uma autonomia privada que seja uniformemente assegurada; por outro, só podem usufruir uniformemente a autonomia privada se, como cidadãos, fizerem o emprego adequado dessa autonomia política. Não há Direito sem a autonomia privada dos cidadãos. Em um sentido político, os cidadãos só são autônomos quando eles mesmos criam suas próprias leis. Essa idéia de criação das próprias leis inspira também o processo de formação de uma vontade democrática, com o qual se consegue transferir uma dominação política para uma base ideologicamente neutra de legitimação. Mas para que a soberania política também seja garantida – para que os sujeitos se entendam não só como destinatários, mas também como autores das leis, é necessário aplicar o princípio do discurso, por ser necessário assegurar um espaço público discursivo procedimental para atuação da autonomia política dos cidadãos, para que possam participar do processo dialógico e discursivo do consenso. Ser necessária a institucionalização dos direitos fundamentais, como a quarta categoria de direito: direitos fundamentais à participação, em igualdade de chances, em processo de formação da opinião e da vontade nos quais os civis exercitam sua autonomia política e através dos quais eles criam direito legítimo. É necessário que a autonomia assuma uma figura concreta, utilizando-se para isso de um princípio de legislação concreto, usado factualmente pelos cidadãos. Este princípio que é decorrente da institucionalização jurídica do princípio do discurso é chamado por Habermas, de princípio da democracia. Nas palavras de Habermas, “o princípio da democracia destina-se a amarrar um procedimento de normatização legítima do direito. Ele significa, com efeito, que somente podem pretender validade legítima as leis jurídicas capazes de encontrar o assentimento de todos os parceiros do direito, num processo de normatização discursiva” (HABERMAS, 1997, p. 145). Esse nexo interno e essa problemática só podem ser equacionados através de uma racionalidade intersubjetiva ou comunicativa, com o que se deixa para trás essa tradição metafísica e subjetivista do Direito, ou seja, só através de uma concepção intersubjetiva ou comunicativa do Direito que leve em conta o agir comunicativo, orientado pelo entendimento, como fonte de integração social. A “Teoria do Discurso” de Habermas explica a legitimidade do direito com auxilio de processos e pressupostos de comunicação – que são institucionalizados juridicamente – os quais permitem levantar a suposição de que os processos de criação e de aplicação do direito levam a resultados racionais. Ora, para Habermas a linguagem serve como garantia da democracia, uma vez que a própria democracia pressupõe a compreensão de interesses mútuos e o alcance de um consenso. Assim o consenso social deriva da Ação Comunicativa, ou seja, uma orientação que responde ao interesse cognitivo por um entendimento recíproco e ao interesse prático pela manutenção de uma intersubjetividade permanentemente ameaçada. Em conseqüência o objetivo de uma Teoria Crítica da Democracia fundamentada normativamente, consiste em explicar se as sociedades complexas admitem a existência de uma opinião pública baseada na garantia de condições gerais de comunicação que assegurem uma formação discursiva da vontade. Ou seja, trata de analisar se as Democracias Contemporâneas contém a possibilidade de estruturar uma praxes argumentativa pública, que vincule as validades das normas de ação a uma justificação racional, oriunda da livre discussão dos cidadãos. Ainda de acordo com Habermas, a pergunta pela legitimidade da ordem legal não obtém resposta adequada quando se apela para uma racionalidade jurídica autônoma, isenta da moral. A validade, a legitimidade de um ordenamento jurídico se estabelece a partir de uma relação interna entre Direito e Moral. A legitimidade pode ser obtida através da legalidade, na medida em que os processos para a produção de normas jurídicas são racionais no sentido de uma razão prático-moral procedimental. É resultante do entrelaçamento entre processos jurídicos e uma argumentação moral que obedece à sua própria racionalidade procedimental. Assim, para Habermas, só tem sentido falar em legitimidade da legalidade à medida que a juridicidade se abre e incorpora a dimensão da moralidade, estabelecendo assim uma relação com o Direito que, ao mesmo tempo, é interna e normativa. Em síntese, só é legitima a legalidade circunscrita em uma racionalidade cujo procedimento se situa entre processos jurídicos e argumentos morais. O apelo weberiano ás instâncias formal e material não é suficiente para estabelecer a relação entre Direito e Moral, pois que, para Habermas, Weber confunde os aspectos estruturais com os aspectos de conteúdo; as qualidades formais de procedimento, que possibilita uma fundamentação pós-metafisica, com as orientações de conteúdo, isto é, com orientações valorativas materiais. Weber, segundo Habermas, não teria visto o cerne moral do direito, confundindo a preferência por valores (resultado de orientações de valores subjetivos e culturalmente contingentes) com a validade normativa (o dever ser das normas universais obrigatórias). O direito é um meio ambíguo, podendo mesmo conferir uma aparência de legitimidade a um poder não legitimo, uma vez que se nutre das fontes de integração social seguintes: mercado (dinheiro), Estado (poder) e solidariedade (comunicação). A legalidade funda-se em um forte conceito ético, que é a legitimidade. O poder que impõe a legalidade deve ser um poder legítimo. Modernamente não se aceita mais a legalidade como conceito meramente formal. Para que a limitação à esfera individual seja válida, deve ser o poder que a impõe legítimo. Exige-se legalidade do exercício e forma de aquisição do poder para que haja legitimidade do poder em si. O problema, aí, deixa de ser meramente jurídico para assumir conotação eminentemente ética. Nossa sociedade aceita a legitimidade só através da legalidade, sendo assim é preciso fundamentar esta legalidade. Já foram utilizados fundamentos como a metafísica e a religião, mas atualmente estes não são mais aceitos. Assim se buscou a razão como fundamento para nossa legalidade. Mas se de acordo com Max Weber a inserção da moral no direito retira sua razão e por sua vez sua legalidade, podemos questionar o fato de a razão estar baseada na moral; afinal não retiramos os padrões morais sociais do limbo. As normas jurídicas e as decisões políticas e judiciais só podem ganhar o status de normas válidas e legítimas quando baseadas e justificadas racionalmente no princípio do tratamento igualitário dos sujeitos de direitos que vivem numa comunidade jurídica. O Estado Democrático de Direito representa um processo de construção de uma sociedade livre, autônoma e emancipada. Projeto este que só sobrevive e se atualiza ação cultural críticas, vigilante e criativa da sociedade civil. O paradigma procedimentalista reconhece o processo democrático de manifestação da soberania do povo, como a fonte do poder comunicativo que fornece, em última análise, validade e legitimidade ao direito. Tal situação representa a contínua relação de tensão entre as dimensões da positividade ou vigência formal (facticidade) e validade material do direito (legitimidade). Numa sociedade democrática, somente o público de cidadãos pode validar crítica e discursivamente as normas jurídicas, emprestando, assim, legitimidade ás decisões estatais. De
fato, a legitimação do direito deixou de ser “decisiva no processo de
integração social” e perdeu muito de sua “eficácia ideológica”,
nesse sentido, pode-se aferir que talvez estejamos condenados a alguma
forma de “positivismo”. O trabalho profissional da doutrina jurídica
pode dar uma contribuição para a legitimação somente quando e na
medida em que ajudar a satisfazer a necessidade de fundamentação, a qual
surge na medida em que o direito como um todo se transforma em direito
positivo. Assim, no direito positivo as normas perderam, em princípio, a
validade consuetudinária, visto que, as contribuições de sistematização
dos juristas profissionais chamaram a atenção para o modo pós-tradicional
da validade do direito. Direito PositivoO direito positivo tem por base o ordenamento jurídico, o qual será determinado nas suas características. O direito positivo determina o direito como um fato e não como um valor, tem uma abordagem valorativa do direito. A norma não mais considerada dentro de uma estrutura isoladamente, mas um conjunto de normas jurídicas vigentes numa sociedade. É o direito institucionalizado pelo Estado, é a legitimidade racional do Estado moderno que se reveste em formalismo. O tipo mais puro de uma racionalidade em valor, o direito natural, cai em descrédito e não pode mais ser retomado como fundamento do direito, não somente em razão do conflito insolúvel entre o direito natural material e direito natural formal das teorias evolucionistas, mas também em razão da desagregação e da relativização dos axiomas metajurídicos: de um lado, sob a influência do ceticismo e do intelectualismo modernos e, de outro, sob a influência do racionalismo jurídico. Dessa forma, Weber estabelece o que pode ser considerado com um diagnóstico sobre o destino inelutável do direito em nossos dias: o positivismo faz grandes progressos; ele afirma “o desaparecimento das velhas concepções do direito natural anulou qualquer possibilidade de dotar o direito de uma dignidade supra-empírica em virtude de suas qualidades imanentes. Em muitas de suas disposições, as mais importantes, o direito é desvelado como produto e meio técnico de um compromisso de interesses” (WEBER, 1922, p. 502). A interpretação weberiana do direito constata a dificuldade de ordem racional própria a modernidade ocidental, representada pela tensão entre racionalidade em valor e racionalidade em finalidade, uma vez que esta última é hegemônica e produzida pela dinâmica mesma da racionalidade material, ou seja, o direito, como instituição moderna, retira sua origem dos ideais racionalistas, mas desenvolve pouco a pouco uma lógica cada vez mais funcional. Em seu conceito de direito, de caráter positivista, afirma que o direito é aquilo que o legislador, democraticamente legitimado ou não, estabelece como direito, seguindo um processo institucionalizado juridicamente. Isto significa que o direito moderno tem que legitimar o poder exercido conforme o direito, apoiando-se exclusivamente em qualidades formais próprias, sendo que a força legitimadora da forma jurídica não teria ligação com a moral. Weber baseia sua interpretação sobre qualidades formais do Direito em dois indicadores empíricos:
Weber
afirma que as qualidades formais descritas podem ser tidas como
“racionais” num sentido moralmente neutro. Habermas questiona se tais
qualidades formais são suficientes para garantir ao Direito fundamento
razoável que possibilita ao poder estatal manifestar-se legitimamente
através da legalidade. Eis que são seus argumentos:
Para Habermas, “as qualidades formais do direito, pesquisadas por Weber, sob condições sociais especiais, só poderiam ter garantido legitimidade a legalidade na medida em que se tivessem comprovado como “racionais” num sentido prático-moral. Weber não reconheceu esse núcleo moral do direito formal enquanto tal, porque entendeu sempre as idéias morais como orientações valorativas subjetivas, e os valores eram tidos como conteúdos não racionalizáveis, inconciliáveis com o caráter formal do direito” (HABERMAS, 1997, p. 200-201). Habermas alerta que Weber interpreta as qualidades formais do direito na perspectiva interna do desenvolvimento do direito, como resultado de um processo de racionalização. Argumenta que, a forma do direito moderno não pode ser descrita como “racional”, num sentido moralmente neutro, mesmo quando nessa abordagem leva-se em conta as premissas do formalismo jurídico. As qualidades formais desse tipo de direito só oferecem argumentos legitimadores à luz de princípios dotados de conteúdo moral e podem ser entendidas num sentido mais abstrato, tendo em vista a relação complementar que se estabelece entre o direito positivo e uma justiça entendida de modo procedimental. E as medidas de uma racionalidade procedimental extremamente exigentes emigram para o médium do direito, e não se prova que o direito materializado não possui qualidades formais das quais não se possa deduzir, pelo caminho da analogia, argumentos legitimadores. Sendo ainda que, a mudança que o direito sofre no Estado social não destrói necessariamente suas qualidades formais em sentido amplo. Ao contrário, a mudança da forma do direito exige uma radicalização da questão weberiana acerca da racionalidade que habita no medium do direito. Pois o direito formal e não-formal constituem, desde o início, variantes distintas, nas quais se manifesta o mesmo direito. Um poder exercido nas formas do direito positivo deve a sua legitimidade a um conteúdo moral implícito nas qualidades formais do direito. A evolução jurídica, segundo Weber, perpassa pelo Direito revelado, em seguida Direito tradicional e por fim, Direito moderno. No direito revelado das sociedades primitivas, não existe ainda o conceito de normas objetivas, isto é, não existe uma lei objetiva independente das ações. As ações e normas são interligadas. O que predomina são os usos e costumes; a ação não está ainda orientada para deveres legais reconhecidos como coercitivos. Isto somente ocorrerá na transição para o direito tradicional. “A passagem do consenso tradicional para o consenso racional da Modernidade é operada pelo Direito Natural com base no Contrato Social, mediante o qual indivíduos, em princípio livres e iguais, estabelecem por contrato um determinado modelo de elaboração e justificação das normas legais. Nos termos de Max Weber, a validade baseada no consenso tradicional é substituída pela validade fundada no consenso racional. Temos, assim, configurada a passagem do formalismo mágico para o formalismo lógico, correspondendo aos três tipos ideais de legitimidade, segundo Weber: carismática, tradicional e racional-legal. (Weber, 1964)” (VIEIRA, 2005). As características do Direito moderno (esferas onde ações estratégicas são institucionalizadas por meio de um padrão jurídico que tem como eixo as ações racionais conforme fins) são:
A partir da introdução das características do Direito moderno, fez-se uma exigência de fundamentação, que só pode efetuar-se quando a consciência moral atinge um nível pós-tradicional, onde as normas jurídicas são suscetíveis a críticas e são falíveis. O Direito não é um sistema fechado em si mesmo, o que possibilita uma abertura, inevitável, aos discursos morais. Dentre os princípios do Direito moderno, há em grande parte os princípios morais, que possuem uma dupla estrutura: ao mesmo tempo em que são morais, foram incorporados ao sistema jurídico por meio da positivação. Essa abertura do Direito á Moral significa que ela está incorporada à própria racionalidade procedimental. É o Direito encarregado de barrar os excessos do sistema econômico e político, porque ele, ao mesmo tempo que regulamenta o poder e a economia, também regulamenta as expectativas dos sujeitos no mundo da vida. Cumpre assim, uma função integradora(HABERMAS, 1997, p. 94-112). Se
o vazio deixado pelo conceito positivista da lei não pode mais ser
preenchido normativamente pelo interesse privilegiado de uma classe, as
condições de legitimação para a lei democrática têm que ser buscadas
na própria racionalidade do processo de legislação. Analisa-se a
racionalidade procedimental embutida no processo democrático da legislação,
a fim de verificar se é possível extrair dela argumentos para uma
legitimidade que se funda na legalidade. Discussão em torno da Racionalidade Jurídica.O que vem a ser racionalização? E qual a razão da ambigüidade de Weber com relação à universalidade do significado e do valor do racionalismo ocidental? As diretivas de Habermas são as de aclarar a primeira questão e de se posicionar diante da segunda. Para este autor, a racionalização é um fenômeno referente ao conjunto dos elementos constitutivos de uma sociedade e a via ocidental da racionalização representa, do ponto de vista formal, a via universal do referido processo de racionalização. Dada sua posição ambivalente em face do racionalismo ocidental, Max Weber se situa, segundo Habermas, entre as posições universalistas[1] e relativistas. Segundo Weber a racionalidade só existe devido ao caráter formal que está incutido no direito, ou seja, só pode existir a razão em decorrência da obediência aos procedimentos jurídicos, sua razão é prático-instrumental. Dessa forma moral e direito são dois campos separados, sendo a moral subjetiva e o direito objetivamente racional. Assim a interferência da moral no direito acabaria por retirar a racionalidade do mesmo. Mas Habermas nos mostra que o próprio ato de seguir os procedimentos jurídicos já implica na mistura entre moral e direito, afinal o direito é constituído de normas estabelecidas por um legislador e este possui uma moral que acaba sendo incorporada a lei, assim, sua razão é prático-moral. Sendo assim a teoria de Weber onde a legitimidade só pode ser alcançada pela legalidade puramente racional perde força. Para Weber o direito dispõe de uma racionalidade própria, que não depende da moral. Ao seu ver a ligação entre direito e moral pode até colocar em risco a racionalidade do direito, e conseqüentemente o fundamento da legitimidade da dominação legal. A dominação legal para Weber, legitima-se mediante um procedimento, o que afasta a legitimação do tipo prático-moral, considerado secundário. Reduz o direito à sua dimensão cognitivo-instrumental. Max Weber estabeleceu duas relações esclarecedoras:
Para Habermas, a racionalização material do Direito é um passo progressivo para a ética, enquanto Weber vê como um gradual desmantelamento da concepção de racionalidade cognitiva de que o Direito é portador, questionando o formalismo jurídico. Weber entende a racionalidade formal inerente ao direito, e se dá pelo trabalho sistemático dos doutrinadores especializados e com formação acadêmica, firmados sob as bases do princípio da positividade. Uma vez estabelecido o nexo entre racionalidade e formalidade, o Direito só pode ser racional à medida que em seu bojo não se encontram elementos morais. Para ser racional o Direito precisa afastar-se de quaisquer proposições ético-morais. A medida de racionalidade é determinada no Direito por elementos formais, há uma racionalidade neutra em relação à moral. Para ele a racionalidade é neutra no sentido moral. Em seu aspecto formal, as exigências weberianas para que o Direito seja classificado como racional são: os três tipos de racionalidade reunidas, através de seu aspecto formal á medida que o sistema jurídico é estruturado conforme etapas de racionalização. Assim, racionalização cientifica que lhe confere os juristas; á medida que o direito é configurado a partir de normas que garantem a liberdade negativa dos sujeitos de direito; da institucionalização de procedimentos que tornam calculáveis as relações que desenrolam no interior do sistema. Para Habermas, a racionalidade jurídica se dá através de um procedimento aberto à moralidade que se põe como esfera deontológica – racionalidade procedimental prático-moral. Segundo ele, o conceito de racionalidade, com o qual trabalha, diz respeito a um sistema de pretensões de validez. Tem em mente a idéia de que em um Estado de direito, que separa os poderes, apóia sua legitimidade na racionalidade de processos de legislação e de jurisdição, capazes de garantir a imparcialidade. Afirma que as normas jurídicas elaboradas conforme o processo, pretendem legitimidade, sendo que o modo de validade do direito aponta não somente para a expectativa política de submissão à decisão e coerção, mas também para a expectativa moral do reconhecimento racionalmente motivado de uma pretensão de validade normativa, a qual só pode ser resgatada através da argumentação. Habermas coloca a seguinte posição: “No processo de legislação, pode emergir uma moralidade que emigrara para o direito positivo, de tal modo que os discursos políticos se encontram sob as limitações do ponto de vista moral, que temos que respeitar ao fundamentar as normas” (HABERMAS, 1997, p. 245-246). A norma jurídica é a garante de sua liberdade e tem um sentido deontológico para a ação. Essas duas dimensões da validade jurídica implicam a exigência racional da legitimação para o Direito, e que, somente podem pretender validade aquelas normas capazes de obter assentimento de todos os indivíduos envolvidos como participantes de um discurso prático. Uma norma ética é válida, quando puder ser consensualmente justificada, sem coação, e todas as conseqüências que advirão para os interesses concretos dos indivíduos que pautarem o seu comportamento por ela. Depreende-se
da idéia então, que é justamente esse consenso, racionalmente alcançado,
que dará força factual à pretensão de validade do que é de fato tido
e instituído como Direito. Conclusão.Normas jurídicas devem ter uma qualidade tal que possam ser simultaneamente consideradas em seus aspectos como leis de obrigatoriedade e leis de liberdade. Ao menos, deve ser possível cumprir normas jurídicas, não porque obrigam, mas porque são legítimas. A validade de uma norma jurídica significa que a autoridade estatal garante simultaneamente tanto a positivação legítima quanto a sua efetivação. O Estado de Direito precisa garantir ambas as possibilidades: por um lado, a legalidade do comportamento, no sentido de um cumprimento generalizado das normas, mas, se necessário, um cumprimento compelido por sanções, e, por outro lado, uma legitimidade das regras que, a qualquer momento, possibilita o cumprimento de uma norma, motivado pelo respeito à lei. Enquanto desempenha um papel de gerador de direitos positivos, o princípio da democracia é ele mesmo institucionalizado através de um sistema que garante a igualdade de participação no processo de legitimação dos direitos. A aplicação desse princípio, no discurso de legitimação dos direitos, pressupõe, portanto, um sistema no qual todos os indivíduos – enquanto autores e endereçados do direito – possuam igualdades de condições. Esta é uma aplicação do princípio de democracia, enquanto um princípio do discurso. Habermas já indica o princípio moral como condição do próprio princípio de democracia. A implementação democrática dos direitos é um processo no qual os indivíduos, com base na igualdade de participação, chegam a um consenso acerca das regras que desejam institucionalizar. É justamente esse consenso, racionalmente alcançado, que dará força factual à pretensão de validade do que é fato tido e instituído como Direito. Surgem, assim, os chamados direitos positivos. A democracia, nesse contexto, é pensada como princípio jurídico que permite a formação discursiva da opinião e da vontade política, na qual a norma válida é a que pode encontrar assentimento de todos os potencialmente na medida que estes participam de discursos racionais. O procedimento de normatização legítima é estabelecido por direitos intersubjetivamente argumentados, a partir da institucionalização de direitos fundamentais, por meio dos quais é exercida a autonomia política. Assim, o Devido processo Legislativo, que garante o processo de formação das normas será aberto a toda comunidade jurídica. Somente uma deliberação autônoma de sujeitos livres e iguais é que poderá dar validar a norma jurídica de forma democrática. As
leis, as decisões políticas e judiciais dependem de aprovação pública
da sociedade. Decisões racionais são, pois, aquelas que preenchem as
condições e pressupostos essenciais do discurso, fundamentado em
argumentos sérios e relevantes e que se submetem ao processo de validade
democrática e aceitação social das normas. __________ Referências ARGUELLO,
Kátie. As aporias da democracia: uma (re) leitura possível a partir de Max
Weber e Jürgen Habermas. Revista
Jurídica da Unirondon, n° 4, 2002/02, Cuiabá - MT;
HABERMAS,
Jürgen. Direito
e Democracia: entre facticidade e validade, vol. I/ Jürgen
Habermas; Tradução:. Flávio Beno Siebeneichler, Rio de Janeiro: Ed.
Tempo Brasileiro, 1997; _________________.
Direito e Democracia: entre
facticidade e validade, vol. II/ Jürgen Habermas; Tradução:.
Flávio Beno Siebeneichler, Rio de Janeiro: Ed. Tempo Brasileiro, 1997; JÚNIOR,
Gilberto Pereira de Oliveira. O
Direito enquanto mecanismo de integração social, segundo Jürgen
Habermas, Revista da FADOM
(Faculdade do Oeste de Minas Gerais), n° II, 1° semestre/2001, Divinópolis
– MG; MERLE,
Jean- Christophe, MOREIRA, Luiz. Direito
e Legitimidade, São Paulo: Ed. Landy, 2003; MOREIRA,
Luiz. Fundamentação
do Direito em Habermas, 2ª ed., Belo Horizonte: Ed.
Mandamentos, 2002; __________.
Direito e Normatividade. In: Fundamentação
do Direito em Habermas, 3ª ed., Belo Horizonte: Ed.
Mandamentos, 2004; VIEIRA, Liszt. Direito, Cidadania, Democracia: Uma reflexão crítica, texto extraído do site: http://www.puc-rio.br/direito/revista/online/rev09_listz.html |
|
|||||||||||||||||||
|
__________ * O presente artigo é fruto do trabalho de Iniciação Científica referente ao projeto de pesquisa intitulado Moral e Direito em Jürgen Habermas, desenvolvido sob orientação do Professor Dr. José Nicolau Heck e fomentado pelo programa PIBIC/CNPq. [1] O universalismo refere-se, pois, às características estruturais necessárias do mundo vivido moderno em geral. [2] A tendência chamada de “materialização” é quando se toma como ponto de partida a compreensão formalista do direito, que se impôs na Alemanha através da jurisprudência e da ciência das pandectas. |
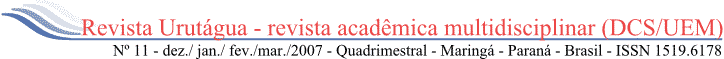
 Introdução
Introdução De
um lado, há Max Weber, cuja importante singularidade na pesquisa sociológica
sobre a dominação (bem como em seus escritos políticos) refere-se aos
modelos de democracia existentes. De outro, Jürgen Habermas, cuja
tentativa, sem dúvida a mais estimulante, de responder ao desafio
weberiano sobre a democracia, pretende demonstrar que o povo pode fazê-la
de modo justo e racional, malgrado as tensões do processo de racionalização
que marcam o mundo ocidental. A democracia, que ocupou um lugar
privilegiado no cenário político do século XX, continua a ser uma chave
da situação paradoxal de nosso presente.
De
um lado, há Max Weber, cuja importante singularidade na pesquisa sociológica
sobre a dominação (bem como em seus escritos políticos) refere-se aos
modelos de democracia existentes. De outro, Jürgen Habermas, cuja
tentativa, sem dúvida a mais estimulante, de responder ao desafio
weberiano sobre a democracia, pretende demonstrar que o povo pode fazê-la
de modo justo e racional, malgrado as tensões do processo de racionalização
que marcam o mundo ocidental. A democracia, que ocupou um lugar
privilegiado no cenário político do século XX, continua a ser uma chave
da situação paradoxal de nosso presente.