|
|
|
Mestre em História Social; Doutorando do Programa de Pós-Graduação de História Social da UFRJ
|
Individuação e Estado sem Modernidade
Introdução Nas
ciências humanas em geral, as categorias tradicional
e moderno são apresentadas como
intrinsecamente opostas. Em seus marcos, a idéia de uma sociedade de
corpos de privilégios, ou Ancien Régime,
seria incompatível com a noção de indivíduo, que geralmente é pensada
como algo que gradativamente, tal como o Estado, emergiria em contraponto
à sua dinâmica político-social. Por tal encaminhamento de análise,
contemporaneamente chamado de neotocquevilleanismo
filosófico (RENAUT, 1998: pp.19-21), indivíduo e Estado na Europa
Moderna são quase sempre apresentados como prelúdios de uma realidade
vindoura temporariamente impedida de se manifestar em sua plenitude. Entretanto,
tal modelo de pensamento não daria conta de uma realidade bastante
distinta quanto às concepções e práticas políticas como é a Europa
dos séculos XVI e XVII. O modelo de pensamento político que opõe a
tradição ao moderno – ou Antigo Regime a processo de individuação
– costuma também ver as experiências políticas, sociais e econômicas,
desde o Renascimento, como prelúdios ou preparações para o liberalismo.
Assim, o indivíduo – que indubitavelmente emerge em vários campos das
produções artísticas, filosóficas e políticas – foi geralmente
visto como uma antecipação circunscrita de valores da sociedade liberal,
que passaria a conter em si a condição
moderna. Em
contraponto a isso, considero que, entre os séculos XV e XVIII, vive-se
na Europa uma condição moderna sem modernidade, que se expressa politicamente com o advento da configuração
estatal da sociedade patrimonial-estamental. Tal configuração, ou Figuration (ELIAS, 1994), será aqui chamada de Estado de Antigo Regime, pois tal expressão permitir-me-á
distinguir a matriz conceptual que me serviu como ponto de partida (Nobert
Elias) da forma como a adequei ao debate mais atual sobre poder político
e instituições na Idade Moderna. É a partir desta chave interpretativa
que se poderá notar que o tipo de indivíduo que indiscutivelmente emerge
nas produções culturais e práticas políticas da Idade Moderna é o
marco de uma
condição moderna que é inseparável do surgimento de uma forma específica de
Estado. Nesses termos, é sabida que a emergência do Estado e do
indivíduo nos séculos XVI e XVII está contextualmente imbricada com a
transformação nas noções de homem, universo e razão, mas não poderá
ser entendida como mera antecipação do Iluminismo ou do Estado burocrático
contemporâneo.(VIANNA, 2005) Superação
de um Hábito Analítico Teleológico Pensar
a relação entre o surgimento do Estado e a emergência do indivíduo como valor não é propriamente uma novidade nas ciências sociais.
No entanto, categorias como Estado e indivíduo sofreram processos de
apropriação nas ciências sociais muito marcados pela lente liberal ou
pelo reformismo ilustrado, tratando-se quase sempre a singularidade sócio-política
da Europa dos séculos XVI e XVII como uma espécie de transição ou
preparação para a modernidade
(último terço do século XVIII e depois). É com esta perspectivas em
mente que, em 1978, em um artigo intitulado “Romeu
e Julieta e a Origem do Estado”, Viveiros de Castro e Ricardo
Benzaquen desenvolveram a sua análise sobre a peça “Romeu
e Julieta”, sobre a qual exercitaram o uso das categorias analíticas
de Louis Dumont (individualismo vs.
holismo) e de Radcliffe-Brown (amor vs.
esfera jural). (CASTRO & ARAÚJO, 1978: pp.132-134) Coerentemente
com tal plano de análise, Viveiros de Castro e Ricardo Benzaquen
interpretaram as mortes de Julieta e Romeu, o fim do faccionismo e a
estabilidade do governo do príncipe Escalo como o primado da lei
concentrando-se “no alto”, com as lealdades tornando-se unidirecionais
e homogêneas, ou seja, não mais mediadas por fronteiras internas de
unidades políticas “privadas”, sendo tudo substituído por um
dualismo concêntrico príncipe/indivíduo.(IDEM, Ibdem: pp.148-149)
Segundo tais autores, haveria uma complementaridade de sentido entre o
poder do príncipe desvinculado da tradição política estamental e a força
individualizante do amor de Romeu e Julieta – estes não apenas teriam
superado a obrigação de fidelidade às suas famílias, mas também se
submetido diretamente às leis de Escalo. Assim, os autores concluem
afirmando que o “psicológico aparece quando o social passa a ser visto
como o estatal, o oficial, o central, aquilo que é essencialmente
exterior à dimensão interna
dos indivíduos”. (IDEM, Ibdem: p.160) No entanto, este tipo de modelização sociológica que opõe indivíduo e sociedade tem implicações metodológicas que, desde a década de 1930, vinham sendo questionadas por Norbert Elias. É em contraponto a tais implicações – ainda muito presentes na sociologia norte-americana – que Elias propusera como alternativa conceptual Figuration, que traduzimos por figuração social ou configuração. No posfácio de 1968 à edição francesa de sua obra “Processo Civilizador”, Elias afirmaria que a imagem do homem como ‘personalidade fechada’ foi substituída em sua análise pela imagem de ‘personalidade aberta’, pressupondo-a como parte de uma rede de interdependência entre os seres humanos. Segundo a sua interpretação, as pessoas formam o nexo do que chama de configuração, ou seja, uma estrutura de pessoas mutuamente orientadas e dependentes. Nesses termos, se considerarmos que as pessoas são mais ou menos dependentes entre si – inicialmente por ação da natureza e mais tarde através da aprendizagem social, da educação, socialização e necessidades recíprocas socialmente geradas –, elas existem apenas como pluralidades, como nexos de uma figuração social. Portanto, o conceito de configuração foi introduzido por Elias exatamente porque expressaria mais clara e inequivocadamente o que chamamos de ‘sociedade’ do que os instrumentos conceptuais da sociologia que polarizavam individualismo e holismo metodológicos. Nesse sentido, uma configuração não é nem uma abstração de atributos de indivíduos que existem sem uma sociedade, nem um ‘sistema’ ou ‘totalidade’ para além dos indivíduos, mas a rede de interdependência formada por eles. (ELIAS, 1994: p.249) Algumas noções são centrais em todas as análises sociais de Elias: “interdependência”, “grupo central carismático” (parâmetro dos “jogos de distinção social”), “equilíbrio móvel de tensões”, “evolução da configuração social”, “grau de autocontrole de impulsos” e “patamar de pudor”. Os efeitos práticos de tais noções na análise social podem ser avaliados por sua conhecida metáfora da dança, pois reformula a própria idéia de “contexto social” para as manifestações culturais: (1) a dança não tem existência própria “fora” dos dançarinos – portanto, a dança não é uma “substância” externa aos sujeitos que a praticam, o que claramente nos afasta da idéia de “utensilagem mental” da História Social francesa, contra a qual, no começo da década de 1980, Chartier e Revel propuseram uma sociologia histórica das práticas e modelos culturais – ; (2) o comportamento individual de cada dançarino está orientado pela configuração das interdependências, o que se correlaciona com o modo como diferenciam e integram estrategicamente as suas posições – logo, cada “dança”/evento social é único e irrepetível. O
conceito de configuração
difundido nos trabalhos de Norbert Elias enfatiza as ligações entre
mudanças na estrutura da sociedade e mudanças na estrutura de
comportamento, pretendendo escapar do monismo sociológico que
dicotomizava indivíduo (encapsulado) e sociedade (ente externo), assim
como a tendência parsoniana de pensar a estrutura social como
“estado” em equilíbrio ou “sistema social”. Como contraponto à
noção de “estado/estase”, Elias pensa “processo” ou “evolução”,
mas não no sentido de uma necessidade mecânica ou de uma finalidade
teleológica, mas sim para lembrar que a sociedade está sempre em mudança
estrutural, o que significa um equilíbrio sempre tenso entre suas partes.
Ora, justamente por serem pensadas em termos de processo,
as estruturas de comportamento e as estruturas sociais não podem ser
analiticamente concebidas como se fossem fixas e mutuamente excludentes,
mas sim mutáveis, como aspectos interdependentes do mesmo desenvolvimento
de longo prazo. Nesse sentido, Elias define como ponto de partida para o
estudo da configuração estatal da sociedade as redes de interação e os
processos que tornam os homens interdependentes, pois tudo isso indica
como as estruturas de personalidade dos seres humanos mudam em conjunto
com as transformações sociais relacionadas ao surgimento do Estado.
(ELIAS, 1994: pp.213-223) No
entanto, uma questão de procedimento central para Elias era como
demonstrar, com evidências empíricas confiáveis, uma mudança estrutural específica no comportamento ligada à configuração
estatal da sociedade. Em larga medida, tanto em “Processo Civilizador” quanto em “Sociedade de Corte”, Elias usa o que hoje chamamos de “textos
literários” e manuais de etiqueta. Para o caso destes últimos, ao
longo de três séculos, Elias não fez séries homogêneas de documentos,
pelo contrário, centrou a sua atenção nas variações editoriais, pressupondo que as transformações dos
enunciados a respeito das regras de etiqueta eram indícios de transformações
nos patamares de pudor e controle dos impulsos e, portanto, do modo como
estavam configurados e eram vividos os nexos de interdependência humana. Ao
escolherem um “texto literário” para exercitarem dedutivamente as
suas categorias analíticas, Viveiros de Castro e Ricardo Benzaquen
estariam muito mais próximos das matrizes sociológicas norte-americanas.
(PEREIRA, 2004: pp.845-847) Em certo sentido, eles já antecipavam aquilo
que, na história das idéias, seria percebido por Alain Renaut como um
recuo do marxismo, durante a década de 1980, enquanto discurso
de modernidade. Em seu lugar, emergiu com força um certo neotocquevilleanismo
analítico. Por este viés, a modernidade deixa de ser enfocada
predominantemente a partir da lógica da alienação capitalista e do
progresso urbano-industrial para ser avaliada enquanto uma dinâmica
histórica de emancipação do indivíduo em relação ao fardo das tradições
e das hierarquias naturais. (RENAUT, 1998: pp.19-21) Porém,
em minha opinião, independentemente das classificações que se dê,
todos os discursos de modernidade tem em comum o fato de conceberem um processo
de expansão do indivíduo em
oposição às tradições e/ou às hierarquias naturais, cujo marco
institucional é a igualdade civil liberal. Por silogismo, este processo
de individuação está implicado com uma noção de Estado cujo sentido
histórico de sua ação seria forçar a sociedade arrinconada em seus nós
comunais e tradições a deixar de ter “vários tempos e lugares” para
ter um único “tempo e lugar”. Como notamos, é justamente esta relação
indivíduo/Estado que Viveiros de Castro e Ricardo Benzaquen projetam de
modo anacrônico para “Romeu e
Julieta”, desconsiderando a historicidade da teleologia moral da peça
e a caracterização social-moral e temática de seus personagens.(VIANNA,
2004) Em
termos filosóficos, o Estado do discurso neotocquevilleano
de modernidade reproduz em sua ação administrativa o império do sujeito iluminista – i.e., uma vontade autônoma
indiferente aos desafios de acomodação/comunicação com os tempos,
lugares e tradições – e, como tal, sempre voltado para um futuro
radiante em nome do qual o presente se subordinava. No entanto,
diferentemente do que poderíamos inferir do “neotocquevilleanismo
analítico” de Viveiros de Castro e Ricardo Benzaquen, constituir a
ordem pública na sociedade de Antigo Regime era um processo completamente
distinto: não significava eliminar,
mas sim acomodar e integrar os corpos de privilégios na direção de um fim comum
(segurança/bonança/integração duradoura). (VIANNA, 2001) Em
comparação com a figuração social medieval, o surgimento do Estado na
Idade Moderna está ligado ao fim da auto-referencialidade medieval dos
lugares, cujo marco temporal exemplar é o fenômeno das grandes navegações.
No entanto, isso não significou que as tradições
– no sentido de costumes e privilégios que ajudam a organizar as coisas
da vida e enquadrar os papéis políticos numa cadeia de direitos e obrigações
– perderam a sua funcionalidade; pelo contrário, renovaram o seu papel
como motores e guias da ação política e da vida social. Portanto, o fim
da auto-referencialidade medieval dos lugares representou o surgimento de
uma nova figuração (“dança”) social para as ações humanas, que
tiveram que dar conta da imensa variedade e integração das coisas do
mundo em redes sociais cada vez mais extensas e anônimas. Ora,
frente à expansão do mundo das experiências, para muitas mentes
tornou-se cada vez mais presente a sensação de que o mundo era movimento
e que o conhecimento de suas coisas era imperfeito, cobrando do indivíduo
mais engenho em sua ação de criar formas capazes de convergir o
“herdado” e o “novo”, o “lugar” e o “espaço”. Dentro
dessa nova configuração das ações humanas, o indivíduo não seria um estado
substancial (sujeito fundido com
predicativo estamental), mas ação
ou verbo animador de sua oração
existencial, ou seja, as suas potenciais identidades eram processos intersecivos de
interior-ação e posição estamental. Portanto, tal indivíduo não correspondia
ainda à noção neotocquevilleana
do sujeito encapsulado e radicalmente
cindindo com o mundo, ou contraposto ao “fardo” das tradições. Logo, Julieta e Romeu não
são moralizados na teleologia da peça num sentido de valor semelhante à
individuação do “Werther”
de Goethe em finais do século XVIII. (MORAES, 2005) Nos
séculos XVI e XVII, uma perspectiva imanentista de virtus
passou a estar no centro da ação
política, representando a capacidade de o governante adaptar,
ordenar, promover e hierarquizar
as proporções (das privatae
leges) configuradoras do Estado. Ora, ao afirmar isso, o que estou fazendo
é associar a noção renascentista de artifício
àquela de Estado, pois assim podemos entendê-lo como uma forma(Figuration)
que é criada a partir da convergência de meios
(tradições, costumes, corpos de privilégios),
visando uma ação eficiente no mundo que atenue ou evite nas empresas
humanas os efeitos negativos da fortuna.
Com esta perspectiva analítica em mente, saímos da chave interpretativa neotocquevilleana
e, deste modo, podemos pensar as noções de Estado e Individuação (e
suas correlações) fora de um discurso de modernidade. Como
notara Kantorowicz (1984: 31-57), não é por acaso que algumas metáforas
que surgem no campo da arte/ofício foram largamente empregadas em questões
políticas e jurídicas européias entre os séculos XV e XVII. Em tais
empregos, marcados pelos princípios da adaptação, proporção
e hierarquia, podemos
justamente observar uma relação
complementar entre as noções de artifício
e natureza ou entre lex e jus.
Tal inferência demonstra o quanto são anacrônicos os pressupostos analíticos
de Viveiros de Castro e Ricardo Benzaquen quando afirmam, por exemplo, que
a “progressiva espiritualização do amor de Romeu e Julieta” poderia
ser medido pela oposição entre corpo
e nome ou entre natureza e
arbitrário social (CASTRO & ARAÚJO, 1978: p.152), pois
claramente conotam tais conceitos por uma perspectiva romântico-liberal. Viveiros
de Castro e Ricardo Benzaquen (1978: pp.160-167) usam “O
Príncipe” de Maquiavel como referência modelar de uma concepção
de arbitrário social posto em
oposição à natureza. No
entanto, usando a mesma referência de fonte, mas considerando as indagações
de Kantorowicz, podemos tomar “O
Príncipe” como marco paradigmático para justamente afirmarmos que
a atitude voluntarista contida em sua noção de virtus
seria um esforço de imitar a
natureza em sua capacidade de produzir formas variadas e eficientes, a partir da convergência de meios adequados às circunstâncias de
experiência. Um correspondente estético e conjuntural deste ideal de
vir-virtutis na política é a
forma como Leonardo da Vinci concebeu a sua arte: a ação criativa humana
é algo consciente – nesse sentido, o seu resultado é arte/artifício
– que con-corre com a natureza em sua infinita capacidade de criar
formas. Daí ele afirmar que a natureza é freio e regra eterna do
artista, ou seja, guia e modelo para o magus-artifex,
seja ele um juiz, um príncipe, um pintor ou um poeta cênico. Portanto,
não há sentido em opor arbitrário
social à natureza no
universo cultural de Leonardo da Vinci, de Maquiavel ou, algumas décadas
depois, de Shakespeare, a menos que romanticamente se pense arbitrário
social como “artificialismo opressor do eu”,
e natureza como
“espontaneidade” ou “verdade interior” em contraponto às regras
de decoro e distinção social estamental. Estes sim, como notara Elias
(2001: 219-266), seriam os pares antitéticos caros ao universo romântico.
Ao procederem assim, Viveiros de Castro e Ricardo Benzaquen isolam
elementos parciais da peça e, na prática, fazem deles –
particularmente o amor –
totalidades autônomas que se inscreveriam no que teleologicamente
chamaram de “tradição cultural do Ocidente moderno”. A
Condição Moderna no Estado de
Antigo Regime Nesta
seção do artigo, dois conceitos-chave norteiam minha análise da relação
entre processo de individuação e Estado fora do campo habitual de
abordagem que a associa ao individualismo
e à configuração social e política da modernidade: artifício e flexibilidade
pendular. É a partir desta combinação que um terceiro conceito é
compreensível: Estado de Antigo
Regime. Assim, poderei pensar o indivíduo como um nexo participante
de uma configuração estatal de sociedade em que os poderes políticos e
as relações sociais fazem parte de uma dinâmica social
patrimonial-estamental. Uma
configuração estatal de sociedade é patrimonial
quando, partindo de um fundamento feudal-senhorial, concebe-se que muitos
cargos ou atribuições ligados à “coisa pública” ou ao “bem
comum” adquiriam ação
administrativa (potestas)
por meio de patrimônios
particulares (dominia).
E é estamental porque a
sociedade é concebida como organizada em três grandes estamentos: 1º
estado ou “aqueles que oram”; 2º estado ou “aqueles que
guerreiam”; 3º estado ou “aqueles que labutam”. Para
se evitar simplificações no entendimento desta figuração social, mas
ao mesmo tempo não perder de vista uma constante que norteia toda a sua
dinâmica de hierarquização social, deve-se considerar que cada
estamento está dividido internamente em corpus
de privatae leges. Por sua vez, no interior de cada corpus,
um sanior pars – definido, conforme as circunstâncias locais, pelo
nascimento, função, riqueza ou sabedoria – representaria os interesses
de seu corpus numa instância
externa e, internamente, o sanior
pars julgaria contendas, distribuiria encargos (fiscais ou não) e
atribuições, além de atuar como um nexo central configurador das relações
sociais. Em
1936, quando publicou pela primeira vez a sua obra “Processo
Civilizador”, Norbert Elias sabia que aquilo que chamava de Estado
Absolutista partia de uma figuração social patrimonial-estamental, mas
era um contraponto arquetípico ao fenômeno medieval da “feudalização”.
Considerando isso, pretendeu identificar o que chamou de “sociogênese
do absolutismo”, associando-a a um processo de controle social dos
costumes que desembocou num autocontrole
habitual (Zivilisation),
cujo exemplo maior é o sistema de etiquetas nas cortes que se formaram em
torno das realezas do período moderno. A
“sociogênese do absolutismo” (ou configuração estatal da sociedade
patrimonial-estamental) seria indissociável da melhoria da
conectibilidade e interdependência das diferentes partes de um território,
de forma que, gradativamente, cada agrupamento local de habitantes
passaria a sentir que muitas coisas de seu cotidiano eram afetadas por forças
anônimas extra-locais e, por isso, não poderiam mais ser resolvidas em
âmbito estritamente local. Ora, tal sociogênese demonstraria justamente
que o aumento de interdependência entre as partes de um território seria
a expressão geral de um processo específico que se expressaria, através
do indivíduo, com o aumento do controle social dos hábitos e costumes, o
que é indissociável da reconfiguração permanente dos parâmetros de
distinção social. O
argumento central de tal processo
de civilização pode ser resumido da seguinte forma: à medida
que aumenta a consciência da proximidade espacial e da dependência das
pessoas entre si, maior se torna a distância entre o que se pensa/deseja
(Ser-Interior)
e como se age (Parecer-Exterior) – sintoma evidente do processo de individuação
associado à configuração estatal da sociedade. A tensão entre Ser
e Parecer
é o fundo cultural da literatura cortesã e dos tratados políticos dos séculos
XVI e XVII, mas, neste período, tal tensão era moralmente resolvida em
favor da preservação do Parecer (Posição/Honra)
como condição para a ordem social. Nesse sentido, o processo
de civilização é inseparável de um certo mal-estar,
porém, não se trata ainda do mal-estar wertheriano.(MORAES, 2005) Desde
1936, uma pergunta fazia eco nas análises sociais de Norbert Elias: Que dinâmica de interdependência
humana pressiona para a integração de áreas cada vez mais extensas, sob
um aparelho governamental relativamente estável e centralizado? (ELIAS,
1994: p.16) Como Elias notara, tal dinâmica de interdependência que
configura o Estado (seja ele burocrático ou não) cria um fato novo no
comportamento dos indivíduos: cada vez mais, uma cadeia humana anônima
da qual dependem comprime a relação entre proximidade e distância –
tal como a técnica da perspectiva
na pintura –, criando uma situação ambígua de dependência sem familiaridade. Portanto, como observamos
anteriormente, a teoria de Elias sobre a “sociogênese do absolutismo”
é indissociável de sua teoria sobre o processo ocidental de individuação.
É
justamente a dependência em relação a forças anônimas – e a sensação
de insegurança relacionada a isso – que amplia a necessidade de rituais
de controle sobre os costumes (como as regras de etiqueta e vestuário),
de modo a se constituir habitualmente distância e fronteiras sociais que ajudassem a
restaurar, artificialmente, a
sensação de controle/segurança em face da mobilidade espacial e
estamental dos indivíduos. Ora, nas teorias políticas dos séculos XVI e
XVII, a noção de artifício
referia-se justamente às criações humanas que pudessem trazer barreiras
às forças
do acaso e do anonimato (representadas pelas imagens-conceito de destino
ou fortuna). Em
âmbito político ou não, um artifício
seria o resultado da ação
inteligente (ratio
ou cálculo) no sentido de convergir meios
para a constituição de uma forma (Figuration)
adequada para a redução ou controle dos efeitos negativos do imprevisível
na evolução das empresas/obras humanas. Se pensarmos o Estado dos séculos
XVI e XVII como um artifício, os meios
ou nexos para haver a sua figuração
social seriam as diversas unidades corporatistas de privilégios. É nesse
sentido que, partindo da noção de figuração social de Norbert Elias e
associando-a à noção de artifício, chego a um conceito condizente ao
campo de experiência de minha pesquisa: Estado
de Antigo Regime, ou configuração
estatal da sociedade patrimonial-estamental – em vez de falar em
“absolutismo” ou “Estado Absolutista”, que são conceitos ainda
muito afetados pelo paradigma burocrático de configuração estatal da
sociedade. Não
por acaso, é no contexto das Grandes Navegações que se expande o repertório
metafórico de imagens-conceito a respeito do embate entre a inteligência humana (engenho)
e as forças
da fortuna. Afinal, para seguir o ideal de príncipe moderno sistematizado por Maquiavel, todo governante
deveria ser capaz de reduzir as
discrepâncias, fazer adaptações
e associar os contrários para
adequar o herdado (tradição/privilégios) às novas circunstâncias. Se
deslocarmos tal discussão para a relação entre poder central e poderes
locais na Europa Moderna, a ação
administrativa (potestas)
que visa a adequação entre a
tradição e as novas experiências expressa politicamente a condição moderna na figuração social de Antigo Regime. Portanto,
diferentemente da condição moderna
na modernidade, a condição moderna
no Estado de Antigo Regime expressa-se no pressuposto de que, na ação administrativa do poder soberano (potestas absoluta), deve
existir a capacidade de adaptação
ou variação em relação às
leis e significados recebidos das tradições,
reduzindo ao máximo qualquer possibilidade de sensação de ruptura entre
passado e futuro nas consciências de seus membros (nexos
participantes). Por isso, podemos considerar o Estado de Antigo Regime
como uma figuração social em que ocorre a edificação de uma forma específica de indivíduo, cuja ação criativa em âmbito político
implica num exercício de conquista periódica do presente, no sentido de
dominar o imprevisto e empurrar o herdado para frente, sem pôr em risco a
dinâmica de hierarquização social em que está inserido. Para
definir a capacidade criativa dessa forma
específica de indivíduo, uso a expressão flexibilidade
pendular. Chamo-a assim por ter em mente a seguinte imagem: um pêndulo
em movimento semicircular preso com uma roldana numa corda; a partir do
campo de experiência do presente (ponto inercial), o pêndulo é
empurrado para trás (tradição como
repertório de exemplos de ações políticas passadas e de direitos
consolidados em forma de privilégios) e, no movimento de retorno ao ponto
inercial, impulsiona todo o conjunto para frente, avançando sem ruptura.
Tal imagem conceptual pode ser posta em correspondência metafóricos com
outra, que foi redimensionada pela cultura humanista do Renascimento: o
“anão no ombro do gigante”.
(CAVALCANTE, 2002) Eis, portanto, uma imagem aplicável à prática da
casuística administrativa do Estado de Antigo Regime e que circunscreve,
muito antes da modernidade e do Estado-Nação, uma forma específica de
edificação de indivíduo moderno. Uma
outra perspectiva de análise que se torna frutífera ao ser posta em
correspondência com Norbert Elias é aquela desenvolvida por José A.
Maravall em sua obra “Cultura del
Barroco”. No início da década de 1960, Maravall pensara o Barroco
como uma época (marcadamente século XVII) inscrita no moderno – em
contraponto às leituras medievalizantes até então correntes – e
afirmaria que, no centro de tensão do gesto dramático do homem barroco,
estaria justamente a situação ambígua de ter que conciliar, na teia
social, forças individualizantes
e enquadramento estamental.
Segundo Maravall, a noção política de artifício (ou Razão de Estado no século
XVII) pressupunha o Estado como engenho
mecânico a conter/controlar artificiosamente
as forças dispersivas de seu interior. Deste
modo, a metáfora volitiva do Estado como mecanismo
(ou artifício) somava-se à noção finalista de conciliação político-estamental
existente na metáfora orgânica da sociedade como
corpo. Daí, é perfeitamente conciliável a idéia de Elias sobre a relação entre formação do Estado,
processo de individuação e autocontrole dos impulsos com a idéia de Maravall de que há uma mudança de mentalidade
social associada ao surgimento do Estado, pois este, como novidade político-institucional,
teria reconfigurado as expectativas
de vinculação entre os diferentes agrupamentos sociais num território,
alterando aquilo que os indivíduos considerariam ser o seu viver pessoal e sua convivência
com as demais pessoas. (MARAVALL, 1986) Embora
Maravall visse uma tendência
burocratizante intrínseca ao Estado do Barroco, não considerava que
a formação de uma “burocracia de oficiais”, o controle estatal sobre
o fisco e o surgimento de uma “consciência burguesa” estivessem em
contraponto direto ou óbvio em relação ao fundamento senhorial da
sociedade. No máximo, percebe o surgimento de um “espírito burguês
sem burguesia”, ou seja, o emergir de forças individualizantes a partir
de bases tradicionais de poder. No entanto, tal como Elias, Maravall
encarava a tendência à burocratização
como um fator decisivo para se compreender a centralização
política, posto que ambos não a concebem como possível sem a
progressiva uniformização das cadeias de transmissão da autoridade política
do Estado – isto é, a superação da dinâmica estrutural
patrimonial-estamental de poder político e relações sociais. Por
isso, para se escapar deste tipo de conclusão, devemos encarar os
seguintes desafios teórico-analíticos: (1) que centralização política
não significa necessariamente burocratização; (2) que Estado não é
sinônimo de burocracia e, portanto, (3) que a configuração estatal da
sociedade patrimonial-estamental é uma experiência anterior, distinta e
não preparatória do fenômeno burocrático. A configuração estatal de
uma sociedade patrimonial-estamental representou, tal como percebemos
anteriormente ao falarmos de Estado como artifício,
o desafio de se constituir um efeito gregário entre partes de interesse
enquadradas em privatae leges
num momento em que se desenhou como topos
cultural que virtudes e vícios que norteiam as ações humanas eram mutáveis
e criavam uma pressão de mobilidade
transestamental – outro indício de um processo de individuação
que não representa ameaça à dinâmica tradicional de hierarquizações
sociais. Nesse
sentido, se há enquadramentos estamentais previamente estabelecidos para
a organização dos indivíduos em sociedade, perde força, entretanto, o
fixismo medieval (teologicamente justificado pela tradição aristotélica)
como referente para tratar das questões relativas à configuração dos vínculos
sociais e políticos (FIORAVANTI, 1999). Portanto, se o advento do Estado
confunde-se com o fenômeno da centralização
política, esta não significa necessariamente a anulação da forma
patrimonial-estamental de construção de vínculos sociais e políticos. Em
1982, António Manuel Hespanha fez uma série de considerações
conceptuais visando justamente mostrar a especificidade político-institucional
da Europa Moderna, criticando a tendência de usar referências
constitucionalistas liberais (para a lógica administrativa) e
positivistas (para a lógica do direito) na interpretação do fenômeno
histórico da centralização política, já que o poder soberano central
não teria diante de si uma societas
civilis sine imperio e a
sua autoridade seria ratificada
e atuada no território através
dos corpos de privilégios, que a aceitavam por costume, tradição ou
conveniência. (HESPANHA, 1982: pp.7-89) No
entanto, observando as conclusões de Hespanha (1994) em trabalho
posterior, podemos observar algumas limitações analíticas: seguindo
rigorosamente a tipologia weberiana, ele pensa a experiência político-institucional
da Europa Moderna como uma espécie de “proto-Estado” ou “pré-Estado”
porque não há uma burocracia, isto é, uma separação bem delineada dos
meios administrativos em relação aos patrimônios dos agentes da
administração. Portanto,
para Hespanha, só há propriamente Estado quando há burocracia. Porém,
podemos chegar a conclusões distintas daquelas de Hespanha e, ao mesmo
tempo, operar com suas inferências analíticas com o objetivo de se
evitar as seduções do constitucionalismo liberal quando se pensa na noção
de soberania associada à idéia de poder
absoluto e, assim, dar mais um passo diferencial na direção da noção
de Estado de Antigo Regime. Para tanto, o sentido de poder
absoluto deve ser colocado adequadamente em seu contexto histórico:
ele expressa a verticalização e tendência à unilateralidade do poder
político em sua prática jurisdicionalista, já que o tipo de societas
por onde se estende a autoridade do poder central demanda um agir político
voltado para a constante e tensa acomodação dos corpos de privilégios
numa direção vertical. Como cada corpus
tem “privatae leges”, o agir político em todos os níveis de governo
é jurisdicionalista. Ora,
isso significa que não há na ação política do poder
absoluto nada que lembre o constitucionalismo liberal: mesmo
considerando que uma autoridade central possa organizar as “leis do
reino”, estas são um repertório de soluções entre outros existentes
no território a ser usado conforme
cada caso ou circunstância, podendo-se criar soluções novas ou
voltar a repertórios antigos de acordo com as demandas do momento.
Portanto, pode-se dizer que o princípio do poder
absoluto tem como dimensão prática
a casuística administrativa,
que visa acomodar as tensões entre os corpos de privilégios de modo a
adaptá-los a novas expectativas de vínculo de interdependência próprios
da configuração estatal da sociedade. Geralmente,
as circunstâncias extraordinárias num governo (casus
necessitas), como é comum num contexto de guerras contínuas, dão
chances para uma autoridade soberana relativamente forte agir de forma
mais unilateral na manipulação dos privilégios, pois, em tais casos, a necessitas legem non habet (a necessidade não reconhece a
‘lei’), ou seja, de acordo com as circunstâncias, um particular pode
vir a ser sacrificado em seus privilégios. No entanto, deve-se considerar
que uma maior capacidade de manipular ou suprimir casuisticamente alguns
privilégios não significa uma tentativa deliberada de construir uma
burocracia ou de acabar com a lógica
funcional dos privilégios na dinâmica das relações políticas e
das hierarquizações dos vínculos sociais. O que observamos é a adequação
mais ou menos forçada das demandas políticas do centro em relação às
circunstâncias locais de poder, tal como demonstra o balanço historiográfico
de Xavier Gil Pujol (1991: pp.119-144), centrado na comparação dos
exemplos ibérico, francês e inglês. A partir do caso inglês, Pujol identificou um novo campo de abordagem generalizável para os demais exemplos: segundo ele, “nunca existiu uma clara separação entre Estado e localidades, mas antes e apenas que aquele e estas se ajudavam nas tarefas políticas e econômicas quotidianas, completando as suas respectivas e freqüentemente limitadas capacidades de ação”. (PUJOL, 1991: p.121) Tais considerações sobre a Inglaterra foram feitas com base em cinco “reparos” historiográficos: (1) não há um programa prévio de governo de supressão das localidades e nem estas estavam completamente fechadas sobre si mesmas – o governo e as localidades precisavam de colaboração recíproca –; (2) o Parlamento de Westminster era um canal de negociação para matérias que não envolviam a alta política, mas assuntos cotidianos vitais de segunda ordem; (3) o mundo municipal é um complexo de relações internas e externas, sendo, por isso, necessário analisá-lo também numa perspectiva extra-local; (4) diferentemente do que se tinha feito até então em alguns estudos sobre as localidades, percebeu-se a necessidade de focar os aspectos econômico e político de suas vidas que dependiam de forças exteriores; (5) entender de que forma se estabeleceram os enlaces tradicionais que deram origem ao Estado significava considerar que a guerra e os seus custos cada vez mais elevados foram os seus catalisadores. Portanto,
a centralização não
significou o esvaziamento do papel político (imperio)
dos corpos locais de poder e deve-se evitar entender que as intervenções
do Estado em nível local tenham sido sempre iniciativas do governo
central, já que muitas autoridades locais sabiam ajustar e chamar os
dispositivos centrais de poder favoravelmente a esta ou aquela demanda
local. Nesse sentido, na transição institucional do medieval ao moderno
na Europa, podemos observar a progressiva incorporação dos direitos
jurisdicionais sobre feudos e cidades à jurisdição régia, criando uma
gama de oficiais reais que não dependiam materialmente da figura pessoal
do rei, mas da estrutura institucional que sua persona
ficta representava. Não é à toa que categorias teológicas
vinculadas à figura de Cristo, combinadas ao Direito Romano, foram
trazidas ao debate jurídico para diferenciar a persona
ficta da pessoa física dos reis. (KANTOROWICZ, 1989) Assim,
se a figura institucional do Estado não é necessariamente burocrática
(ou tendente à burocracia), deve-se considerar que há um núcleo
conceptual que permite identificar a sua configuração em
diferentes contextos históricos. Em tal núcleo, identifico as noções
de impessoalidade (estabilidade
no espaço) e eternidade
(estabilidade no tempo) aplicadas à noção de autoridade
soberana (auctoritas).
Sem tais referências conceptuais, não poderíamos diferenciar a
configuração estatal de sociedade na Idade Moderna das figurações
sociais medievais. Nesses termos, o Estado seria uma das manifestações
históricas de configuração social num dado território. Na Europa, a
sua figuração prática e conceptual surge quando, no alvorecer da Idade
Moderna, as duas dimensões do poder
político (auctoritas e potestas)
aparecem definitivamente fundidas em um único corpo governativo. (DAVID,
1954: pp.13-86) A
auctoritas deve ser
entendida como o poder eminente de juiz entre as partes, ou seja, acima
dele não há outra instância. Isoladamente, a auctoritas
não tem efeito administrativo, posto que a ação
administrativa concentra-se na noção de potestas, que independe do
fato de ser baseada numa estrutura burocrática ou patrimonial-estamental.
Durante toda a Baixa Idade Média, a partir da Querela das Investiduras
(1057-1122), o conflito de precedência de prerrogativas de poder político entre o Papa (na sua dimensão auctoritas) e o Imperador
(na sua dimensão potestas) – numa atmosfera feudal de concorrência por domínios
entre dinastias locais e de crescimento econômico das cidades –
delineou o contexto em que se desenvolverá gradativamente a personalidade
jurídica dos Estados. O Imperador pretendia ter uma ligação direta com
o divino que fizesse recair sobre si os atributos de eternidade que
estabilizavam no tempo o corpus
mysticum eclesiástico, eliminando a necessidade da intermediação
papal na investidura de seu poder. Portanto,
um debate doutrinal de mais de seis décadas entre os juristas imperiais e
papais ocorreu num clima bastante mundano de disputas políticas, cujo
efeito foi a fusão de elementos do direito canônico ao Direito Romano,
alterando o sentido dos atributos que este último dava ao Imperador na
Roma Antiga: algo que era visto como provisório (ou politicamente extraordinário)
ganharia os atributos de eternidade antes exclusivos ao corpus
mysticum do Papa. O
fundamental a atermos desta discussão são duas implicações políticas
práticas: (1) o Imperador não poderia consolidar uma auctoritas
concorrente com aquela do Papa sem a construção jurídica de uma persona
ficta que estabilizasse no espaço
e no tempo a forma (Dignidade
ou Dignitas) de sua potestas
imperial, independentemente de sua mutabilidade física de conteúdo; (2)
a transferência da noção de corpus
mysticum do direito canônico para o plano secular reconfigurou
– para além da posição do Imperador – a personalidade jurídica de
outras instâncias de governo, trazendo também para elas os atributos de
eternidade, já que muitos poderes locais tomariam para si a nova noção
de imperio (i.e., domínio
eterno e soberano de direitos próprios) e aplicá-la-iam às
coisas concretas que representavam os nexos de interdependência humana
(i.e., fisco, muros, fortalezas, estradas etc), o que já demarcava a sua
distinção configurativa em relação à noção medieval de dominium. Portanto,
o passo diferencial para o surgimento da personalidade jurídica do Estado
na Idade Moderna ocorreu justamente quando, em face de um novo campo de
experiência de conectibilidades sociais e políticas num dado território,
a noção de corpus
mysticum tornou-se operativa em diferentes instâncias
governativas infra regno ou infra civitas, que adquiriram identidade
perpétua de forma (Dignitas).
Assim, em termos gerais, pode-se afirmar que tais transformações no
vocabulário político e jurídico do final da Idade Média se reportam a
um novo patamar de conectibilidade social e política num território, que
representa, tal como pensara Elias, uma inversão da tendência
centrifuguista dos antigos domínios medievais. No entanto, tal como
afirma Pujol e Hespanha, isso não significou o esvaziamento da lógica
dos privilégios como constituidora das
hierarquias de poderes e atribuições, assim como dos dispositivos administrativos e dos vínculos de obrigações e direitos entre os atores sociais. Desde
o final da Guerra dos Cem Anos (1337-1453), difundiu-se na Europa
ocidental a máxima jurídica de que o rei era “imperador em seu
reino”, ou seja, como poder soberano (potestas
absoluta=auctoritas+potestas)
não reconhecia nenhuma precedência de poder ou auctoritas acima de si
(Papa ou Imperador), ao mesmo tempo em que estava livre (solutus) para relativizar casuisticamente
o alcance da auctoritas
dos corpos de privilégios que constituíam o seu território e,
localmente, exercitavam potestas não mais em seu próprio nome (auto-referencialidade
medieval), mas sim em nome de um poder soberano extra-local, que tendeu a
convergir para si a justificativa ou a origem de todos os privilégios. Enfim,
a configuração estatal de uma sociedade não significa que seus meios de
ação administrativa (potestas)
devam ser necessariamente burocráticos, pois, uma vez que surge o Estado,
quem aciona a dignitas
de uma posição ou cargo em seu interior é fundamentalmente encarado
como instrumento dela (instrumentum Dignitatis),
mesmo que seja acionada através de patrimônios familiares. Ao final do século
XV, a dignitas de cargos ou posições de autoridade tornou-se mais
estável dentro de cada unidade política, assim como mais autônoma em
relação à mutabilidade errática dos interesses de indivíduos (e seus
patrimônios familiares) circunstancialmente envolvidos na ação administrativa. Por isso, dependendo do modo como
acionava tal dignitas, um indivíduo
era medido, podendo trazer para si a glória ou o infortúnio, o prêmio
ou a punição, mas não provocava, ainda, um questionamento de tal
dignidade como um fator de ordenamento social e paz pública. |
|
|||||
|
Referências
Bibliográficas: CASTRO,
E.B. Viveiros de; ARAÚJO, Ricardo Benzaquen de. Romeu
e Julieta e a Origem do Estado. In:
Arte e Sociedade: Ensaios de
Sociologia da Arte. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1978. pp.130-169 CAVALCANTE,
Berenice. “Antigos e Modernos: Histórias de uma Tradição”. In Modernas
Tradições: Percursos da Cultura Ocidental, séculos XV-XVII. Rio de
Janeiro: Access, 2002. pp.3-84 DA
VINCI, Leonardo. Obras literárias, filosóficas e morais. São Paulo:
Hucitec, 1997. DAVID,
Marcel. La Souveraineté et les Limites Juridiques du Pouvoir Monarchique
du IXe au XV e Siècle. Paris: Librairie Dalloz,
1954. ELIAS,
Norbert. Processo Civilizador, vol.I. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994. FIORAVANTI,
Gianfranco. La réception de la Politique d’Aristote au Moyen Age tardif.
In: Aspects
de la Pensée Médiévale dans la philosophie politique moderne.
Paris: PUF, 1999. pp.9-24 HESPANHA,
António Manuel (org.). Poder e Instituições na Europa do Antigo Regime.
Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1982. HESPANHA,
António Manuel. Às vésperas do Leviathan: instituições e poder político,
Portugal - séc. XVII. Coimbra: Almedina, 1994. HOBSBAWM,
Eric; RANGER, Terence. A Invenção das Tradições. São Paulo:
Paz e Terra, 1997. KANTOROWICZ,
Ernst. La souveraineté de l’artiste: Note sur quelques maximes
juridiques et les théorie de l’art à la Renaissance. In:
Mourir pour la Patrie. Paris:
PUF, 1984. pp.31-57 KANTOROWICZ,
Ernst. Les deux corps du roi. Paris: Gallimard, 1989. MARAVALL,
José Antonio. La cultura del barroco. Barcelona: Ariel, 1990. MARAVALL,
José Antonio. Estado Moderno y Mentalidad Social. Madrid: Alianza, 1986.
(2vols.) MORAES,
Aline de Jesus. Kultur versus Zivilisation:
Distinção Social e Desconforto Burguês em Werther.
Revista Espaço Acadêmico, n.49.
Maringá: UEM/Departamento de Sociologia, 2005. PEREIRA,
Bianca Cristina Vieira. Sociologia Norte-Americana. In:
Enciclopédia de Guerras e Revoluções
do Século XX – As Grandes Transformações do Mundo Contemporâneo:
Conflitos, Cultura e Comportamento. Rio de Janeiro: Campus, 2004.
pp.845-847 PUJOL,
Xavier Gil. Centralismo e Localismo: Sobre as relações políticas
e culturais entre capital e territórios nas Monarquias Européias dos séculos
XVI e XVII. Penélope, nº6.
Lisboa: Cosmos, 1991. pp.119-144 RENAUT,
Alain. O Indivíduo: Reflexão acerca da filosofia do sujeito. Rio de
Janeiro: DIFEL, 1998. REVEL,
Jacques. Entrevista. Topoi, n.
2. Rio de Janeiro: PPGHIS/Sete Letras, 2001. pp.197-215 TAYLOR,
Charles. As Fontes do Self: A
construção da identidade moderna. São Paulo: Loyola, 1997. VIANNA,
Alexander Martins. Liminaridade Indesejada: Por uma Leitura Anti-romântica
de ‘Romeu e Julieta’. Revista
Espaço Acadêmico, nº 39.
Maringá, agosto de 2004. VIANNA,
Alexander Martins. O Iluminismo como Conceito de Época – Parte II. Revista
Espaço Acadêmico, nº 53.
Maringá, outubro de 2005. VIANNA,
Alexander Martins. O poder político na Europa Moderna, sécs. XV-XVIII. In:
Escritos de História e Educação:
Homenagem a Maria Yedda Leite Linhares. Rio de Janeiro: Mauad, 2001.
pp.171-196 WATT,
Ian. A Ascensão do Romance. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. |
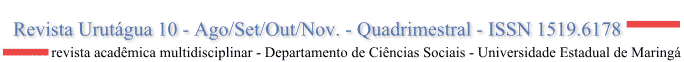
 por
por