|
|
|
Pós-graduanda do curso de Especialização em Formação em História e Cultura Africanas e Afro-Americanas da Universidade Estadual de Goiás. Especialista em História do Brasil pela Universidade Federal de Goiás. Licenciada em História pela Universidade Estadual de Goiás. Professora de História da rede privada de Goiânia
|
Um
exército invisível:
|
|
Resumo:
O objetivo deste trabalho é evidenciar e analisar a participação
de indígenas na guerra contra o Paraguai (1864-1870), a partir das
relações entre indígenas e homem branco, procurando destacar os
indígenas dentro da história do Brasil enquanto agentes
construtores e não como agentes passivos que apenas sofrem ou
reagem às políticas indigenistas do homem branco. Contudo, não se
trata de aprofundar exaustivamente o conhecimento a cerca deste
tema, mas sim buscar, a partir das evidências, indagar quais foram
as etnias envolvidas, como se deu esse envolvimento e por quê. A
abordagem da participação na guerra, a partir de uma visão
metodológica que enfoca o indígena como centro e como agente histórico,
é uma proposta de contribuição para o avanço das discussões em
torno da questão indígena para que estes sejam vistos a partir da
condição de seres racionais que fazem suas próprias escolhas e,
conseqüentemente, sua própria história... O
recorte temporal e espacial do tema que proponho é a região de
fronteira entre Brasil e Paraguai, especificamente a região do
estado do Mato Grosso do Sul, no período de 1864 – 1870; datas
limites para historiografia oficial como início e término da
guerra contra o Paraguai. Palavras Chaves: História do Brasil, Guerra do Paraguai, Brasil Império, Nações Indígenas, Conflito, Política Indigenista. Resumen:
El
objetivo de este trabajo es evidenciar y analizar la participación
de los indígenas en la guerra contra el Paraguay (1864-1870),
apartir de las relaciones entre indígenas y hombres blancos,
buscando resaltar los indígenas
dentro de la história do Brasil en cuanto agentes constructores y
no como agentes pasivos que apenas sufren o reaccionan a las políticas
indigenistas del hombre blanco. Sin embargo, no se trata de
profundizar exaustivamente el conocimiento sobre este tema, pero sí,
buscar, apartir de las evidencias, indagar cuales
fueron las etnias involucradas, como ocurrió y por qué. El
abordaje de la participación en la guerra, apartir de una visión
metodológica que enfoca el indígena como centro y como agente histórico,
es una propuesta de contribución para el avance de las discusiones
alrededor del tema del indígena para que estos
sean vistos apartir de la condición de seres racionales que
hace sus propias escojas y, consecuentemente, su própia história... El
recorte temporal y espacial del tema que proponemos es la región de
la frontera entre Brasil y Paraguay,
especificamente la región del estado de Mato Grosso do Sul,
en el período de 1864
– 1870; fechas límites para la
historiografia oficial como início y término de la guerra
contra el Paraguay. Palabras Claves: História de Brasil, Guerra del Paraguai, Brasil Império, Naciones Indígenas, Conflicto, Política Indigenista. |
A
guerra contra o Paraguai foi um dos temas cristalizados pela
historiografia tradicional e, conseqüentemente, ao ser considerado como
apenas mais um fato da História do Brasil, passou um longo período sem
ter sua real importância reconhecida dentro da história dos países que
formaram a “Tríplice Aliança”. E isto de torna evidente na forma
como este tema aparece nos livros didáticos: de forma superficial, que
trata das “glórias brasileiras nos campos de batalha a um Paraguai super-desenvolvido em pleno século XIX” (POMER,1982, p. 05).
A
partir do movimento Revisionista da História, na década de 20, iniciado
com os Annales, que tinha como bandeira rever e, principalmente, refazer a
história vista de cima, ou seja, a abordagem tradicional da história dos
heróis, datas e fatos que falam por si, a guerra contra o Paraguai passou
a ser revista, debatida e pensada sob outro prisma. De acordo com Peter
Burke, “uma maneira de descrever
as realizações do grupo dos Annales é dizer que eles mostraram que a
história econômica, social e cultural pode atingir exatamente os padrões
profissionais estabelecidos por Ranke para a história política”, e
ainda: “sua preocupação com toda a abrangência da atividade humana
os encoraja a ser interdisciplinares...” (Burke,1992, p. 16).
O
historiador argentino, Leon Pomer, justifica sua preocupação com este
fato histórico, “como uma forma de recuperar a identidade dos povos
que nela lutaram”, e ainda: “mostrar ao povo seu caráter de
agente, de construtor” (Pomer,1982, p. 05). Nesse sentido possuímos
as mesmas intenções ao abordar o tema “Guerra do Paraguai”, pois
também pretendo explicitar a posição de um povo enquanto agente,
enquanto construtor de sua própria história, só que falamos de povos diferentes...
Leon
Pomer, assim como José Chiavenato, Ricardo Salles, Francisco Daratioto, e
tantos outros autores que tratam da Guerra do Paraguai, consideram como
agente, como povo participante e imprescindível da guerra, apenas as nações
brancas, ou seja, argentinos e brasileiros; no caso de Leon Pomer,
principalmente argentinos. Não que os autores ignorem uruguaios e
paraguaios, mas, apesar da intenção de revisar a história oficial, eles
também não abordam a história da guerra contra o Paraguai a partir do
prisma da participação de povos indígenas que se reconhecem enquanto nações
indígenas e que não se enquadram nem como brasileiros, argentinos,
uruguaios ou paraguaios, sem deixar de considerar outras peculiaridades da
guerra evidenciadas nas discussões a respeito do papel das mulheres e dos
negros, mas que, no entanto não compõem objeto desse trabalho.
Apesar
de atualmente existir extensa bibliografia sobre a guerra contra o
Paraguai, a questão indígena ainda não chegou a ser debatido e
realmente abordado dentro do contexto desta guerra.
A participação de indígenas na guerra contra o Paraguai é fato reconhecido em nossos dias, sendo citado, inclusive, por vários autores, como por exemplo, Ribeiro (1996), Gomes (1991), Bertelli (1987), Campestrini e Guimarães (1995), entre outros. Apesar de tal constatação, apenas recentemente este tema passou a ser objeto de debates e pesquisas, uma vez que, até mesmo nos autores citados acima, encontramos apenas indicativos de tal fato, não havendo, assim, uma verdadeira discussão sobre o tema, o que acaba por refletir uma precariedade de bibliografias sobre o assunto, principalmente em Goiás.
Pesquisar
sobre um tema que ainda não se consolidou enquanto debate, seja na
historiografia, seja na própria Academia, não é tarefa fácil. E a
primeira dificuldade a ser superada é a própria identificação de qual,
ou quais etnias estiveram direta ou indiretamente envolvidas no conflito.
Isto porque as bibliografias até aqui consultadas fazem referências
principalmente à etnia Guaycurú, com destaque para os Kadiwéu, chegando
ao máximo a citar os Terena. No entanto, há indícios nos documentos
encontrados de que outras etnias estiveram envolvidas – o que não é
difícil de se imaginar. Ora, a então Província de Mato Grosso, região
fronteiriça com o Paraguai e onde se travou o conflito, ainda era, no período
da guerra, uma região caracterizada essencialmente pela presença indígena,
e cujo extermínio não havia se consolidado, como ocorreu, por exemplo,
na Província do Ceará (GOMES, 1991, p.23). Esta característica nos
deixa espaço para imaginarmos que as outras etnias (além de Guaycurú e
Terena) de tal região sofreram o impacto desta guerra, seja de forma
direta ou indireta. E digo de forma direta ou indireta porque nem todas as
etnias envolvidas neste cenário foram incorporadas às forças expedicionárias
que se formaram; além disso, muitos grupos indígenas procuraram proteção
em lugares distantes, o que significou abandonar suas terras correndo o
risco de perdê-las... E isso sem mencionar os que foram feitos
prisioneiros, como nos mostra Campestrini e Guimarães: “população
remanescente da vila de Corumbá, que não pôde tomar lugar nos vapores,
permaneceu entregue ao arbítrio do invasor. Os índios de Bom Conselho
tiveram suas choças incendiadas e foram feitos prisioneiros” (Campestrini
e Guimarães, 1995, p. 53).
Ainda sobre um envolvimento indireto, três documentos encontrados no
Arquivo Estadual de Cuiabá, chamam a atenção. No primeiro, datado de 18
de março de 1862, o então Diretor Geral dos Índios, João Batista de
Oliveira, informa ao Conselheiro Herculano Ferreira Pena, Presidente da
Província de Cuiabá, sobre a mudança de indígenas da etnia Chamococo
para o Forte Coimbra (medida esta proposta pelo Comandante do Forte):
(...)
julgo mui acertado a medida proposta pelo mencionado Commandante, por que
será mais um augmento de população, que pode vir a ser útil aos
Distritos do Baixo Paraguay, augmentando o numero de braços para a sua
lavoura tão definhada, logo que os mesmos adquirão o hábito do trabalho
pello exemplo dos que se achão aldeados na Aldea do Bom Conselho... (Arquivo
Público de Cuiabá, Livro 191).
Este documento nos mostra que a preocupação inicial das autoridades é
a utilização da mão de obra indígena, além de sua contribuição
populacional, o que é totalmente previsível em uma região de fronteira
onde a posse territorial ainda é tema de discussões entre vizinhos. Mas,
eis uma questão primordial: se em 1862, apenas dois anos antes do início
oficial do conflito, indígenas da Nação Chamococo foram aldeados as
margens do rio Paraguai, sobre a “proteção” do Forte Coimbra e tal
fato nos leva a questionar se existiu alguma possibilidade de não terem
sido envolvidos, mesmo que indiretamente, no conflito. Creio que uma
resposta positiva seja praticamente impossível, até mesmo porque a
imposição de uma fuga já significaria um impacto sobre eles, uma vez
que uma mudança de meio implica também em escolhas e adequações.
Outro ponto interessante no documento em questão é que
ele relata que foram ao Forte representantes Chamococos, em nome do Líder
desses indígenas, pedir transportes para que o próprio fosse tratar com
o Comandante do Forte sobre o aldeamento da tribo. Ou seja, é o Líder
indígena que convoca o Comandante do Forte Coimbra para tratar dos
interesses de seu povo. Como tal solicitação não foi atendida, é o
Comandante quem se desloca para o seu, e com detalhe de levar brindes para
agradar aos indígenas. Tal constatação vem reforçar a idéia de que não
devemos ter uma visão que reforce a tutela imposta aos assuntos indígenas,
que os reduz a seres inocentes e incapazes de articulações.
Outro indicativo encontramos no relatório do
vice-presidente da Província de Mato Grosso, o Barão de Aguapehy, na
abertura da sessão ordinária da Assembléia Legislativa provincial em três
de maio de 1868:
Desde
a invasão nada sem tem feito no sentido de chamar os Índios ao seio da
civilização, tendo sido aprisionados pelos paraguayos os missionários
encarregados da catechese no Baixo-Paraguay. O Districto de Serra acima
tem sido victima algumas vezes das correrias dos selvagens – Coroados,
que alli tem assassinado algumas pessoas, incendiando algumas casas.
(Arquivo Estadual de Cuiabá, Livro 3b).
Tal documento nos permite constatar, em primeiro lugar,
além do ataque paraguaio, que os brasileiros também sofriam com os
ataques dos indígenas – correrias, como a dos Coroados, citado
no documento. Mas além desta evidência, tal documento nos leva a
questionar se, por outro lado, essas correrias dos Coroados também
não chegaram a atingir os paraguaios, afinal, eles invadiram justamente a
mesma região em que aqueles indígenas atacavam. Logo, o ataque indígena,
ou a correria como chamavam, era na verdade uma faca de dois gumes,
uma vez que poderia atingir o Império, prejudicando-o, ou atingir os
paraguaios, beneficiando, assim os interesses imperiais. Ou seja, mesmo não
estando entre as fileiras do exército brasileiro que se formavam naquele
momento, os indígenas que viviam nessa região de fronteira ocupada pela
guerra poderiam defender os interesses do Império, quando, na verdade,
defendiam os seus interesses contra qualquer um que cruzasse o seu
caminho.
Ainda em relação a esta idéia de que ao defenderem seus interesses,
poderiam também estar defendendo os interesses do Império brasileiro,
mesmo que em determinados momentos isto significasse o ataque ao próprio
Império, encontramos o ofício de número 76, datado de 04 de abril de
1867, da Secretaria da Polícia em Cuiabá, onde o então Chefe de Polícia,
Firmino José de Mattos, informa ao Presidente da Província de Mato
Grosso, José Vieira Couto de Magalhães, sobre a chegada em Cuiabá de
Jacinta Pereira, em poder de indígenas
Guatós desde a invasão
paraguaia:
Vindo
ela para esta Cidade na occasião da invasão com a comitiva de seu pai e
em commpanhia de seu marido Justino de Godoy Moreira, forão accomettidos
pelos índios que assassinaram ao dito Justino e mais pessoas da comitiva
de seu pai e fizerão ferimentos em diversas outras, roubando todas as
suas bagagens, sendo ella conduzida nessa ocasião pelo índio de nome José
Maria.
(Arquivo Estadual de Cuiabá, Caixa 1867d).
Este documento é mais uma evidencia de que as etnias que
viviam na região de fronteira entre Brasil e Paraguai serviam de obstáculos
para qualquer um que por ali transitassem, e isso inclui, obviamente, os
paraguaios quando da invasão ao território brasileiro por ocasião da
guerra.
Mas as evidencias não param por aí; há outros documentos que informam
sobre a participação efetiva de indígenas na guerra contra o Paraguai.
No entanto, alguns documentos não especificam qual, ou quais etnias a que
se referem, afirmando apenas que tratava de índios, o que
evidencia uma visão influenciada pelo etnocentrismo europeu que designava
apenas como índios todos os habitantes deste território, hoje
denominado Brasil, muito antes da gloriosa chegada de Cabral. Como
exemplo, podemos destacar o ofício, Reservado,
de 22 de março de 1866:
Em
diversos offícios mostrei a V.S. quanto importava que procurasse obter
informações acerca das forças inimigas que occupão o Distrito de
Miranda, das posições que occupão e dos seus movimentos; e, outro sim,
relativamente aos Índios que no mesmo Distrito existem armados e cujo auxílio pode aproveitar-nos
(grifos meus) (Arquivo Estadual
de Cuiabá, Caixa 1867d).[1]
Outra evidencia encontramos em Ribeiro (1996), quando
este se refere aos Guaná:
Notícias
da primeira metade do século XIX indicam que alguns grupos foram aldeados
junto ao Paraguai; outros, mais a leste, no rio Miranda, viram-se envolvidos na guerra entre brasileiros e paraguaios e tiveram suas
aldeias invadidas. Finda as hostilidades, voltaram a instalar-se nos
antigos locais e entraram em competição com os criadores de gado que,
nesse período, começavam a ocupar a região
(grifos meus) (Ribeiro, 1996: 100).
Ribeiro (1996) ainda cita o impacto sofrido pelos Terena: “Outros,
como os Terena, foram obrigados a afastar-se das terras mais férteis à
margem do rio Miranda e a refugiar-se em terrenos áridos, onde se tornou
mais difícil sua vida de lavradores”(Ribeiro,
1996, p.101).
Taunay (1967) nos mostra que a fuga não foi o único envolvimento dos
Terena no conflito. Em diversos momentos o autor explicita o auxílio de
um grupo Terena, que ele descreve como tendo voluntariamente se
apresentado ao Coronel da expedição (p. 45/ 46), da qual o próprio
autor participou, aproveitando, inclusive, para desmoralizá-los em
determinados momentos:
Os auxiliares índios,
Guaicurus e Terenas não foram os últimos a se apresentar para o saque. Tão
pequena disposição para o combate haviam mostrado que, na nossa
carreira, ao lhes tomarmos a frente, lhes brandávamos: Vamos! Avante!
Valtentes camardas! Agora se lhes transmutara a indolência num ardor sem
limites para o saque
(Taunay, 1967, p. 57).
No entanto, em outros momentos o autor também reconhece a “bravura” destes mesmos indígenas; embora de forma determinista: "(...) mais longe, os índios Terenas e Guaicurus, que depois de se haverem comportado nesta refrega como bravos auxiliares”... (grifo meu) (TAUNAY, 1967, p.68).
Infelizmente, esta pesquisa ainda encontra-se em estagio inicial, não sendo possível, assim, um detalhamento concreto de todas as etnias que, de uma forma ou de outra, acabaram envolvidas na guerra contra o Paraguai, e, principalmente, qual o impacto deste conflito sobre elas. No entanto, a maior evidencia de uma participação direta e efetiva, tanto ao nível de fontes primarias quanto secundárias, que até agora foi possível encontrar, diz respeito à etnia Guaycurú. Tal fato não nos causa estranheza se considerarmos a política indigenista do Império, que o levou a firmar um acordo de paz com esses:
Ao contrário dos ingleses na América do Norte, os portugueses nunca trataram os índios como nações (embora o termo fosse corrente na época), e sim, como vassalos. Assim, apenas em duas ocasiões se tem notícias de acordos formais entre Coroa e os índios. A primeira foi quando uma das aldeias dos índios Janduís, que habitavam parte do Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará, se decidiu a enviar uma delegação à Bahia para firmar um acordo de paz que desse fim `a chamada ‘Guerra dos Bárbaros’.(...). A delegação foi a Salvador, em 1691, e firmou acordo, que não foi cumprido.
A
segunda ocasião de acordo se deu um século depois, em 1791. Desta vez
foi com os chamados ‘Índios Cavaleiros’ (ou Guaicurus ou Kadiwéu do
presente) e o governador-geral do Brasil, no Rio de Janeiro. (Gomes ,199,
p.47)
Diante de tal fato , podemos constatar que desde o inicio do conflito, a aliança com os Guaycurús foi de extrema importância, uma vez que, antes mesmo de se servirem como “soldados brasileiros”, revelaram-se leais informantes, configurando-se assim, como os “olhos do Império” naquele inóspito e desguarnecido território. Fato que podemos confirmar no Relatório dos Presidentes de 30 de agosto de 1865, que se refere ao relato da invasão paraguaia na província de Mato Grosso: “Pelo vapor – Jaurú – há noticias dadas por índios Guaicurus, de que os campos de Miranda tinham sido talados, e a mesma vila e povoação de Nioc incendiadas” (Arquivo Público de Cuiabá. Microfilme: Relatório dos Presidentes – 1865-1875).
Creio que a relevância e até mesmo a importância do
envolvimento dos Guaycurús na guerra contra o Paraguai, não poderia ser
melhor explicitado do que o foi em documento do Ministério dos Negócios
da Guerra, do Rio de Janeiro, datado de 8 de junho de 1867:
Fico inteirado, pelo seu
Officio de 28 de março ultimo, de que Lapagote, um dos Capitães da tribu
dos Canídeos que serve junto ás nossos forças em operações, em
Miranda, mandado em exploração sobre a fronteira do Apa, conseguio
sorprender e bateu um dos pontos fortificados que os Paraguayos conservão
sobre esse rio; cconvindo que se repitão taes explorações com o
concurso dos índios conhecedores d´aquellas passagens
(Arquivo Estadual de Cuiabá,
Caixa 1865a).
Algumas passagens em que Taunay (1967) registra a participação de
Terenas e Guaycurús no corpo do exército destinado a atuar, pelo norte,
sobre o alto Paraguai, foram citadas. No entanto, ainda gostaria de
destacar duas passagens em que este autor explicita a “utilidade” dos
indígenas para a coluna: “(...)
Haviam nossos índios Guaicurus avançado até ali, anteriormente, num
reconhecimento do tenente-coronel”(p.51).
E ainda: “Enterramos todos
os nossos cadáveres em covas que mandamos abrir pelos índios”(p.86).
Estas passagens demonstram claramente que a participação
de indígenas na guerra contra o Paraguai não restringiu-se as batalhas,
sendo os indígenas utilizados também como mão de obra para os trabalhos
braçais que se faziam necessários – aliás, como sempre foram
recrutados.
Apesar dos relatos de Taunay (1967), militar participante da guerra,
demonstrar a relevância da participação dos indígenas, existe uma
grande dificuldade de se encontrar fontes a respeito, o que pode ser
perfeitamente compreensível se considerarmos que, apesar de necessitar da
ajuda indígena naquele momento, o Império ainda os via como selvagens,
como seres que ainda precisavam ser conduzidos a civilização. Além do
mais, não registrá-los nos documentos oficiais era uma forma de se
prevenirem, por exemplo, de pagamentos de indenizações, pensões ou
qualquer tipo de gratificação pelos feitos na guerra.
Um leitor atento verificará que nenhum dos documentos
citados até agora, se referia a assuntos militares, mas sim a ofícios
destinados apenas a manter o Império informado dos meandros da guerra. O
que por sua vez não se tornava público, o que podemos perceber no
pronunciamento de Dom Pedro II do dia 23 de setembro de 1867, ao encerrar
a Primeira Sessão da Décima Terceira Legislatura da Assembléia Geral,
Rio de Janeiro, cujo objetivo era informar sobre a situação da guerra e
nenhuma menção aos feitos indígenas foi relatado, sendo os elogios
direcionados apenas à “coluna expedicionária de Mato Grosso que
restituíram à liberdade grande número de famílias brasileiras”
(Arquivo Público de Cuiabá, Caixa 1867a). Tal fato nos leva a pensar
que, na verdade, a participação de indígenas na guerra contra o
Paraguai acabou se confirmando num trunfo do Império brasileiro, uma vez
que esses acabaram configurando-se num verdadeiro “exército invisível”...
Fontes
Manuscritas:
CUIABÁ.
Palácio Paiaguás. Arquivo estadual. Mato Grosso, 2003. Livro 191. Assunto: Província
de Mato Grosso. Registro de correspondência oficial da Diretoria Geral
dos Índios com a Presidência da Provícia. Ano 1860 – 1873.
CUIABÁ.
Palácio Paiaguás. Arquivo estadual. Mato Grosso, 2003. Caixa 1865 – A. Assunto: Rio
de Janeiro. Ministério dos Negócios da Guerra.
CUIABÁ.
Palácio Paiaguás. Arquivo estadual. Mato Grosso, 2003. Caixa 1867 – D. Assunto:
Secretaria do Governo da Província. Ofício nº 76.
CUIABÁ.
Palácio Paiaguás. Arquivo estadual. Mato Grosso, 2003. Caixa 1867 – D. Assunto:
Secretaria do Governo da Província. Reservado.
CUIABÁ.
Palácio Paiaguás. Arquivo
estadual. Mato Grosso, 2003. Caixa 1867 – D. Assunto: Relatório dos
Presidentes 1848 –1860. Incubindo a Frei Antônio de Molinetto do
aldeamento dos Índios Chamocôcos.
CUIABÁ.
Palácio Paiaguás. Arquivo estadual. Mato Grosso, 2003. Livro 3 – B. Assunto:
Registro dos Relatórios Apresentados pela Presidência da Província à
Assembléia Legislativa Provincial. 1863 – 1874.
CUIABÁ.
Palácio Paiaguás. Arquivo estadual. Mato Grosso, 2003. Micro-Filme: Relatório dos
Presidentes 1865 – 1875.
CUIABÁ.
Palácio Paiaguás. Arquivo estadual. Mato Grosso, 2003. Lata 1867 - A. Assunto: Falla
com que Sua Majestade O Imperador encerrou a Primeira Sessão
da Décima Terceira Legislatura da Assembléia Geral na dia 23 de setembro
de 1867.
BIBLIOGRAFIA.
BERTELLI,
Antônio de Pádua. Fatos e
Acontecimentos com a Poderosa e Soberana Nação dos índios cavaleiros
Guaikuru no Pantanal do Mato Grosso entre 1526-1986. São
Paulo: Uyara, 1987.
BURKE,
Peter (org). A Escrita
da História. Novas perspectivas.
São Paulo: UNESP, 1992.
CAMPESTRINI,
Hildebrando e GUIMARÃES, Acyr Vaz. História de Mato Grosso do Sul. Campo
Grande: Gráfica e Papelaria Brasília Ltda, 1995.
GOMES,
Mércio Pereira. Os índios e o Brasil. Petrópoles: Editora Vozes, 1988.
POMER,
Leon. Paraguai: nossa guerra contra esse soldado. 2ª Edição. São
Paulo: Global, 1982.
RIBEIRO,
Darcy. Os índios e a civilização. A integração das populações indígenas
no Brasil moderno. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.
TAUNAY, Visconde de. A Retirada da Laguna. Edições Melhoramentos, 1967
__________
[1]Devido a deteriorização do documento não foi possível identificar o remetente e o destinatário. No entanto, no cabeçalho está: “Palácio da Presidência de Mato Grosso em Cuiabá”. O ofício também não possui numeração, apenas a indicação Reservado.
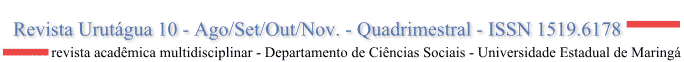
 por
por