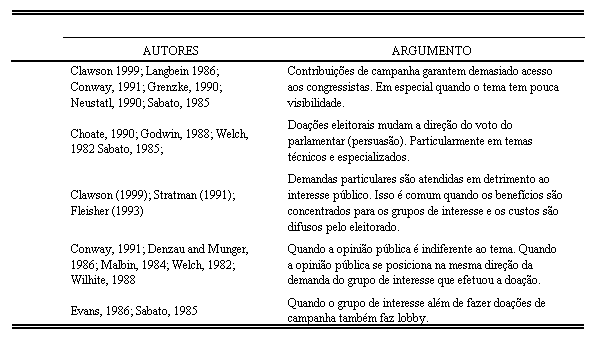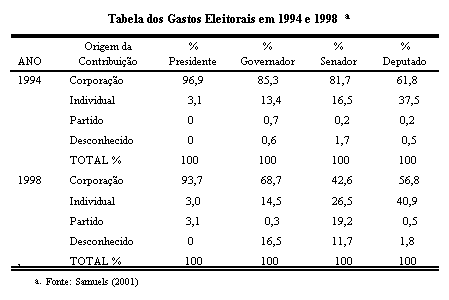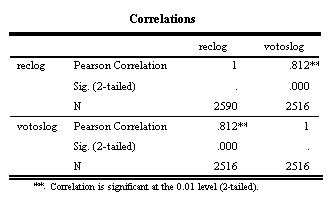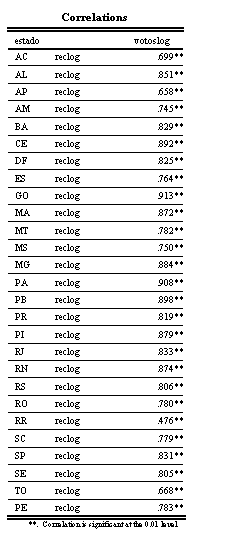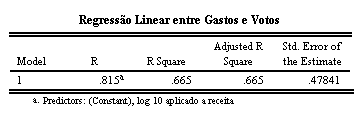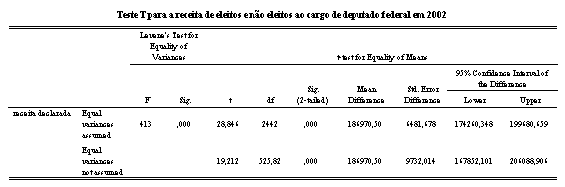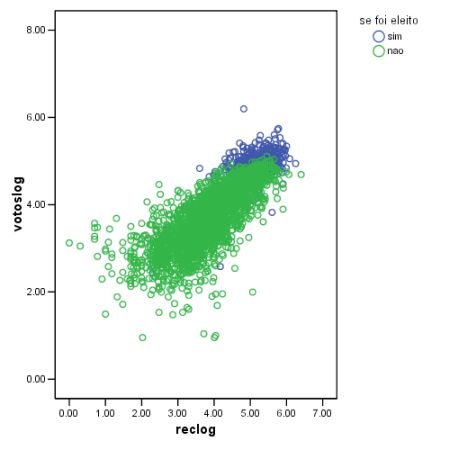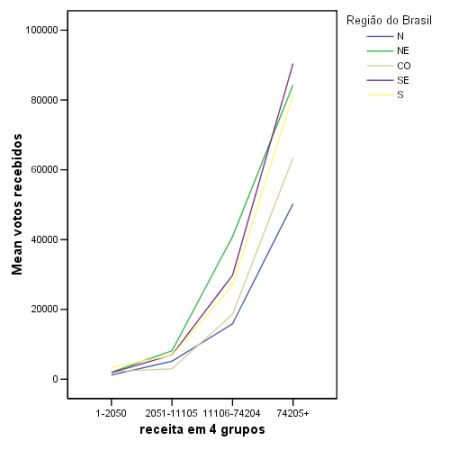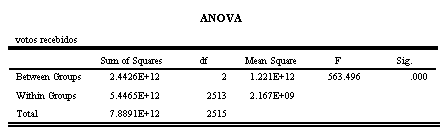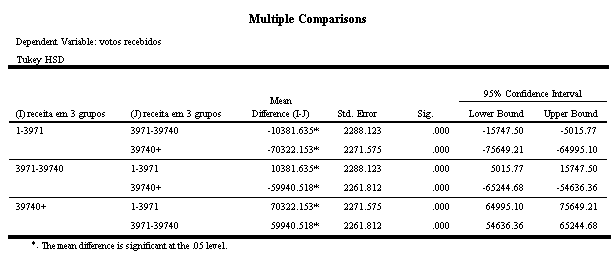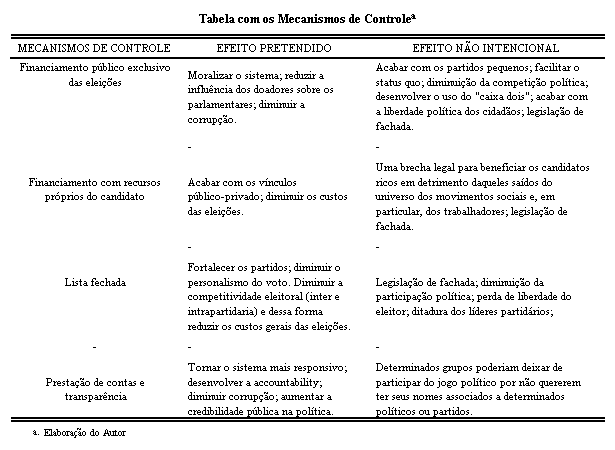Gastos
eleitorais: os determinantes das eleições?
Estimando
a influência dos gastos de campanha
nas eleições de
2002
Dalson
Britto Figueiredo Filho
|
Resumo
Esse
artigo revisa brevemente parte da literatura especializada em
grupos de interesse e reforma de financiamento de campanha
eleitoral. Também é objetivo deste estudo explorar a relação
entre gastos e votos nas eleições ao cargo de deputado federal
em 2002. Em geral, esse trabalho confirma uma impressão do senso
comum: dinheiro é uma variável essencial na definição de quem
ganha e quem perde as eleições. Esses resultados apontam que o
gasto tem grande influência sobre a quantidade de votos
recebidos.
Palavras
chaves: reforma de financiamento de campanha; rent seeking
e grupos de interesse.
Abstract
This
essay briefly reviews specialized research in interest groups and
campaign finance reform. This paper also aims to explore the
relationship between spending and votes for 2002 federal deputy
elections. In general, this article confirms a popular claim:
money is an essential variable in defining who wins and loses
elections. These findings suggest that spending has a considerable
effect on the number of shared votes.
Key
words:
Campaign finance reform, rent seeking and interest groups.
|
Introdução
A
interação entre interesses privados e instituições governamentais para
influenciar a formulação de políticas públicas tem sido alvo de uma
intensa problematização, recebendo pioneira atenção do pluralismo de
Yale (Lowi, 1964; Salisbury, 1984; Wilson, 1985). No que diz respeito ao
Congresso e a sua relação com os grupos de interesse, alguns trabalhos
conferem atenção ao efeito das contribuições de campanha e da ação
dos grupos de pressão sobre o comportamento dos congressistas (Ainsworth,
1993; Evans, 1988, Welch, 1982). Todo esse corpo de pesquisa é guiado por
duas questões principais: 1) Como e em que medida as doações de
campanha feitas por determinados grupos influenciam o comportamento dos
congressistas? (Clawson, 1999; Langbein, 1986; Sabato, 1985) 2) Como e em
que medida as atividades de lobby influenciam as decisões dos
parlamentares? (Godwin, 1988; Stern, 1988). Quando considerados de forma
geral, os resultados dessas pesquisas são bastante distintos. As
abordagens teóricas e empíricas são diversas, ainda que, enquanto os
trabalhos empíricos tendem a utilizar as doações de campanha para medir
a influência dos grupos sobre os parlamentares, as produções teóricas
costumam utilizar a atividade de lobby como variável explicativa.
Ainda
que grande parte dessa literatura tenha sido produzida para o caso
norte-americano, considero que a mesma lógica analítica, salvo algumas
particularidades, possa ser empregada para analisar em uma perspectiva
comparada a realidade de diferentes países e, principalmente, a do
Brasil. Infelizmente, nosso país ainda carece de uma produção teórica
relevante sobre o financiamento de campanhas eleitorais, o que, em parte,
é fruto da ausência de uma abordagem sistemática sobre o tema.
Na ciência política brasileira, temas como a ação de grupos de
interesse e a atividade dos lobbies são tratados geralmente com
pouco rigor analítico. Por exemplo, pelo que conheço, não há na
literatura nacional trabalhos que tratem da relação entre doações de
campanha, resultados eleitorais e grupos de interesse. Similarmente, não
existem obras que tentem estabelecer correlação entre doações
eleitorais e os votos dos congressistas em determinadas matérias
legislativas. Ou ainda, não há, salvo engano, nenhum estudo que procure
investigar como determinados lobbies, nomeadamente empresariais e
principalmente através de contribuições de campanha, conseguem
influenciar as decisões do Congresso.
Isto
dito, é possível afirmar que a reforma política é um tema que até
pouco tempo atrás não tinha uma visibilidade proporcional a sua importância.
Na medida em que a reforma política está na “ordem do dia” e que
ainda são escassos os estudos que discutem sistematicamente os seus
principais pontos, este trabalho almeja discutir as posições teóricas
que debatem o financiamento das eleições, a ação de grupos de
interesse e as decisões governamentais do ponto de vista da literatura
especializada norte-americana. Espero assim contribuir para iluminar o
debate que, vale ressaltar, é extremamente importante, já que a forma
pela qual as eleições são financiadas tem conseqüências diretas sobre
a formulação e a implementação das políticas públicas.
Para
melhor delimitar o objeto de minha análise, acredito que é relevante
antecipar o que não vai ser feito neste artigo. Assim sendo, ele não
procura julgar se é certa ou errada a forma pela qual as campanhas
eleitorais são financiadas no Brasil. Também, não é seu objetivo
apresentar uma visão normativa de como o processo eleitoral deveria ser
formulado. O escopo aqui é outro. Este artigo tem um duplo objetivo: a)
procura sistematizar uma parte da literatura especializada em grupos de
interesse, e, principalmente, reforma de financiamento de campanha; b)
tenta explorar de forma sistemática a relação entre gastos e votos.
Finalmente,
este artigo está dividido em quatro seções. Na primeira parte é
apresentado o arcabouço teórico que embasou o desenvolvimento do
referido trabalho. No segundo item são analisados os dados referentes às
eleições ao cargo de deputado federal em 2002. Em particular, exploro a
relação entre a quantidade de recursos utilizados nas campanhas e o número
de votos recebidos pelos candidatos. Na terceira seção, apresento uma
breve reflexão sobre alguns mecanismos de controle comumente apontados
pela literatura especializada, discutindo especialmente o financiamento público
das eleições. Na quarta parte são apresentadas as conclusões do
presente artigo.
Grupos
de interesse, Contribuições e Congressistas
É
possível destacar duas principais perspectivas analíticas que tratam da
relação entre os grupos de interesse, suas contribuições de campanha e
a formulação de políticas públicas. A primeira
analisa a relação dos grupos de interesse e a maneira pela qual a
agenda do governo é formulada (agenda-seeting and interest groups),
argumentando que os grupos procuram definir os assuntos com os quais o
governo deve se preocupar (Kingdon, 1984). Muitos grupos buscam a não
inclusão de matérias que possam ser danosas aos seus interesses, por
exemplo, um lobby industrial pode se engajar em obstruir legislações
que favoreçam a proteção ambiental; ou, grupos empresariais podem
tentar interromper o andamento de projetos que procurem elevar os impostos
(reforma tributária). Em suma, os grupos de interesse agiriam no sentido
de influenciar a formulação da agenda governamental e, dessa forma,
restringir o alcance de medidas danosas enquanto tentariam prolongar a
abrangência daquelas matérias consoantes com os seus interesses.
A
segunda perspectiva analítica explora a relação entre os grupos de
pressão e o acesso dado a seus membros (interest groups and access),
argumentando que as contribuições de campanha feitas pelos grupos de
interesse são uma das estratégias possíveis para garantir o acesso político
(Clawson, 1999; Hansen, 1991; Langbein, 1986). Alguns teóricos defendem
que o acesso é apenas uma retribuição de favor por parte do
congressista que foi financiado (Baron, 1994). Entretanto, como não é fácil mensurar a qualidade e a quantidade desse
acesso político, são poucos os estudos que estabelecem relações
diretas entre as doações de grupos de interesse e o acesso dado a seus
membros. Na verdade, pelo que identifiquei, apenas o estudo de Langbein
(1986) busca sistematicamente demonstrar essa relação. Nesse trabalho, a
autora ao mensurar o tempo que cada grupo de interesse passou com os
parlamentares encontrou forte correlação entre a quantidade de recursos
dada aos políticos e o tempo gasto nas salas dos congressistas.
Dentro
desse debate teórico, é possível identificar algumas outras visões
adicionais. Navarro (1984) argumenta que as doações de campanha podem
ser relacionadas com os votos dos congressistas apenas em alguns temas.
Godwin (1988) defende que os Democratas tornaram-se gradativamente
dependentes das doações de corporações e, dessa forma, têm-se
demonstrado mais receptivos quanto à defesa dos interesses empresariais
no Congresso.
Neustadtl (1990), por seu turno, produz uma inovação no debate ao
argumentar que o nível de influência
dos grupos de interesse varia de acordo com a visibilidade do tema
em questão. Esse é um dos argumentos mais recorrentes, a saber, o da
existência de uma relação inversamente proporcional entre a
visibilidade do assunto e o grau de influência dos grupos de interesse.
Em temas muito visíveis perante a opinião pública, o custo de votar a
favor de um projeto que corresponda aos interesses de um determinado grupo
pode ser muito alto, minando assim os incentivos para tal ação. De forma
geral, os especialistas argumentam que existem algumas condições específicas
para que as contribuições de campanha e a atividade de lobby
influenciem a decisão dos congressistas. A tabela 1 apresenta um resumo
de uma parte da literatura especializada nessa temática.
Tabela
1: Condições
em que os grupos de interesse influenciam o comportamento dos
congressistas
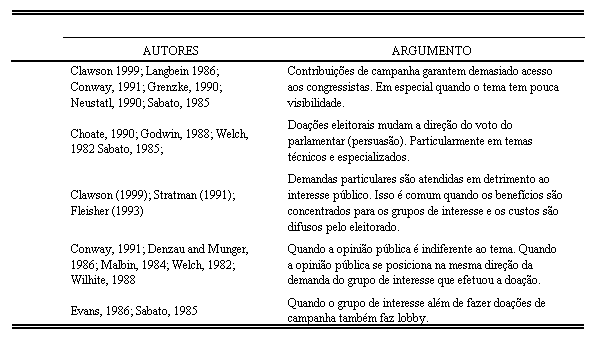
Rent
Extortion, Políticos e
Empresas
A
noção de que os grupos de interesse podem se engajar em práticas
maximizadoras via captura do Estado é reconhecidamente um marco dentro da
teoria da regulação (Stigler, 1971; Kruger, 1974; Posner, 1975). Uma
importante contribuição nesse debate foi feita por McChesney (1997)
quando ele demonstrou empiricamente que os interesses privados não pagam
apenas por favores políticos, mas principalmente para evitar desfavores
dessa natureza (McChesney, 1997). O referido autor introduziu ainda a idéia
de rent extraction.Essa
noção é simples: visto que o governo pode legalmente tributar e dessa
forma expropriar recursos de seus cidadãos, os políticos podem extorquir
dinheiro de grupos privados sob a ameaça de expropriar os seus
rendimentos. De fato, o principal foco desse modelo é que legislação e
regulação são vendidas pelos preços mais elevados no mercado político.
Ou seja, os grupos de interesse demandam a regulação e os políticos a
ofertam. Aqui cabe uma breve reflexão sobre a noção de political
markets. Tal noção é amplamente utilizada dentro da tradição da Public
Choice e da Economia Política. Por exemplo, é possível afirmar que
existe uma demanda por recursos para financiar as eleições e os que
grupos de interesse fornecem esses recursos já que os políticos
controlam a tributação, os subsídios, as regulações bancárias, etc.
Nesse sentido, a chance de receber benefícios públicos somada ao medo de
sofrer os custos legais da regulação, quando considerados em conjunto,
seria uma variável importante para explicar a motivação dos diferentes
grupos em financiar as eleições. De
acordo com a pesquisa “Corrupção
no Brasil: A perspectiva do
setor privado”, mais de 26% das empresas relatam ter sido constrangidas
a contribuir com campanhas eleitorais. Metade destas afirma que a doação
é feita mediante promessa de troca de favores (Abramo, 2004). Ainda de
acordo com essa pesquisa, oferecer presentes e outras gentilezas a agentes
públicos é o principal método de obter tratamento diferenciado para 86%
das empresas. Em segundo lugar, com 77%, vem a contribuição para
campanhas eleitorais, e com 74% o nepotismo. Outros dados interessantes
apontados por esse estudo revelam que a amostra de empresas que participou
da pesquisa se dividiu quanto se é explícita a troca de favores. Quando
perguntadas se “antes de fazer contribuições, há menção explícita
de favores que serão prestados em troca?”, em 2002, 58% das empresas
responderam que sim. Esses
achados empíricos refletem a validade de algumas das formulações teóricas
precedentes.
Outro
ponto muito importante para a presente discussão repousa na origem dos
recursos que são alocados nas campanhas eleitorais. A tabela a seguir
categoriza a origem, o destino e a percentagem da quantidade de recursos
utilizados nas campanhas de 1994 e 1998.
Tabela
2
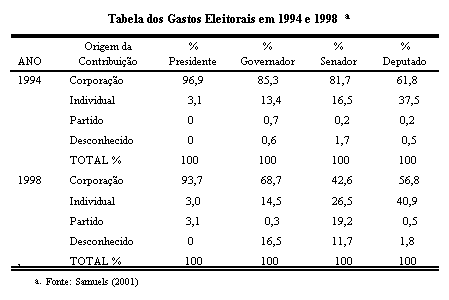
Assim,
como já havia sido apontado pelas formulações teóricas antecedentes,
empresas financiam campanhas políticas com o intuito de receber algum
benefício por parte do candidato que elas ajudaram a eleger. Apesar de
ser comprovada a existência de relações entre políticos e empresas
durante o processo de financiamento de campanhas eleitorais, uma dúvida
ainda permanece: quem captura quem? O senso comum e algumas correntes teóricas
dentro da academia costumam identificar o Estado como vítima da ação de
empresas privadas interessadas em garantir seus interesses (Rent
Seeking). Entretanto, os dados acima apresentam o outro lado dessa ambígua
questão. Muitas vezes os políticos utilizam o seu poder legal para
extorquir “apoios financeiros” por parte das empresas e estas se
rendem à pressão e concordam em colaborar com os políticos em troca de
benefícios (Rent Extraction). A relação se processa de forma mútua.
Ou seja, tanto os membros do governo quanto as empresas privadas estão
interessados em se beneficiarem, mas esse benefício depende exatamente de
uma ação conjunta. O político precisa de financiamento suficiente para
que sua campanha eleitoral tenha sucesso e que, assim, ele possa ocupar
algum cargo dentro da máquina pública. Já as empresas necessitam de
algum colaborador que esteja dentro do governo e que tenha acesso aos
recursos públicos. Tal demanda estimula a continuidade da lógica de
arrecadação monetária entre as empresas, os grupos de interesse e os
políticos.
Gastos
e Votos nas eleições de 2002
Nessa
seção será explorada estatisticamente a relação entre gastos e votos
nas eleições de 2002 para o cargo de deputado federal em todos os
estados do Brasil.
Entretanto, antes de partir para a apreciação dos dados, acho prudente
explicar os princípios metodológicos que nortearam esse trabalho. Assim,
será oferecido um breve resumo de alguns conceitos que julgo de
fundamental importância para o bom entendimento dos dados aqui
apresentados. A tabela 3 apresenta uma síntese da metodologia utilizada.
Tabela
3 - Metodologia
Partindo
para a análise dos dados, foi calculada uma correlação de Pearson (r)
entre a receita e o número de votos obtidos pelos candidatos.
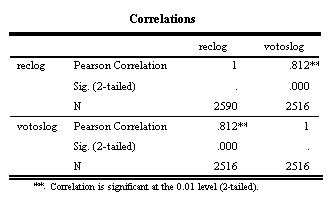
A
partir dos dados apresentados acima é possível afirmar que existe uma
alta correlação (0,812) positiva e significativa (p<0,01) entre
gastos eleitorais e votos recebidos. Colocado de outra forma, quanto mais
dinheiro for investido nas campanhas maior é a probabilidade de um
determinado político receber mais votos. Esses achados sugerem que a
quantidade de recursos investidos tem influência direta sobre o número
de votos recebidos. Ou seja, quanto mais dinheiro for utilizado por um
candidato, ceteris paribus, maior é o número de votos recebidos e
assim, maior é a chance desse indivíduo ser eleito. Abaixo se encontra
uma correlação entre a receita e o número de votos para cada estado da
federação.
Tabela
4 – Correlação de pearson entre gastos e votos
para todos os estados da federação
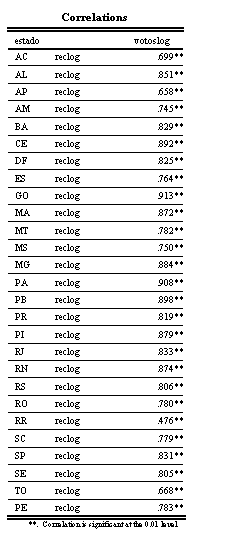
Como
pode ser notado, o coeficiente de correlação entre a receita e os votos
é alto e estatisticamente significante em todos os estados. Como foi
demonstrado acima, a renda é uma variável muito importante para explicar
a quantidade de votos recebidos.
Seguindo
a análise dos dados, foi calculada uma regressão logística entre a
receita e a variável dummy eleito (esta variável assume valor
igual a 1 caso o candidato tenha sido eleito e 2 caso contrário). Ainda
que o modelo acerte na explicação de quase 57% para a relação entre a
receita e a variável eleito, o percentual de acerto do modelo atinge
92,5% para explicar quando o candidato não foi eleito. Além disso, o
percentual geral de explicação do referido modelo é de 85,6%. Tal
resultado é bastante significativo do ponto de vista estatístico. Foi
rodada também uma regressão linear entre a receita e o número de votos.
A tabela 5 sistematiza essas informações.
Tabela
5
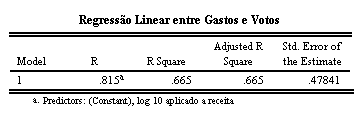
Daí
surge uma conclusão: ainda que a renda não tenha uma relação de causa
e efeito com a possibilidade de ser eleito, ela se demonstra extremamente
eficiente para explicar o porquê de um determinado candidato não se
eleger. Assim sendo, ainda que alguns candidatos possam se eleger gastando
menos do que outros, há um valor mínimo necessário para garantir o êxito
eleitoral. Em outras palavras, o candidato que não atingir esse
coeficiente mínimo não tem, dentro das predições do modelo, chances de
ser eleito. Essa conclusão tem implicações diretas sobre as estratégias
eleitorais utilizadas pelos candidatos para angariar recursos para suas
campanhas.
Seguindo
na análise dos dados, foi calculado o independent samples t-test.
Ele é utilizado para comparar o valor médio de uma variável contínua
(receita) para dois grupos distintos (eleitos X não-eleitos). O referido
teste estatístico procura responder se há diferença significativa na média
dos valores da variável receita para os dois grupos categorizados no
presente estudo. Quer dizer, o valor médio da receita dos candidatos
eleitos difere de forma significativa da média dos candidatos não-eleitos?
A tabela 6 sistematiza essas informações.
Tabela
6
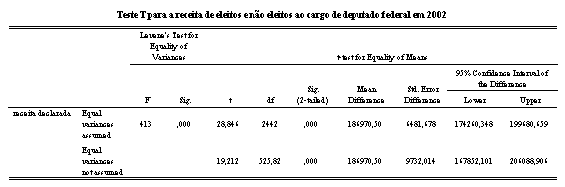
Os
dados acima sugerem que há diferença estatisticamente significante
(p<0,01) entre as médias dos gastos dos candidatos eleitos e não-eleitos.
Trocando em miúdos, espera-se que os candidatos que gastem mais dinheiro
em suas campanhas tenham mais chances de vencer a disputa eleitoral.
Não
pretendendo esgotar as possibilidades analíticas ainda foi possível
elaborar dois gráficos para melhor ilustrar a relação entre gastos e
votos. O primeiro é um de dispersão entre a receita e os votos dos
candidatos eleitos e não-eleitos. O segundo é um gráfico de linha que
representa a média dos votos para quatro faixas de renda em cada uma das
cinco regiões do país.
Gráficos
1 e 2
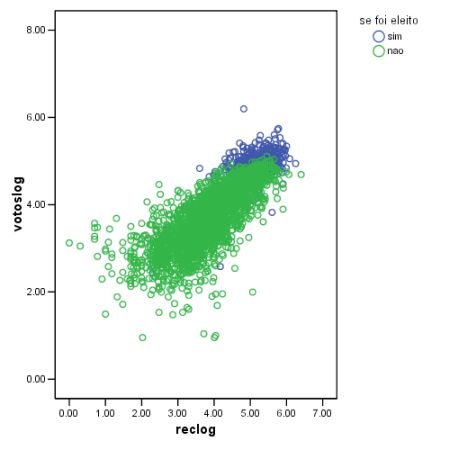
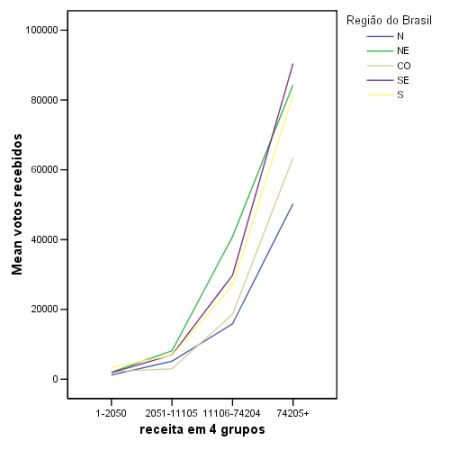
Por
último, foi calculado um teste Anova para comparar a média da distribuição
dos votos para três diferentes faixas de renda. Procura-se responder a
seguinte pergunta: existe diferença estatisticamente significante entre a
média dos valores da variável dependente (votos) entre os três grupos
analisados? Esses dados estão resumidos nas tabelas 7 e 8.
Tabelas
7 e 8
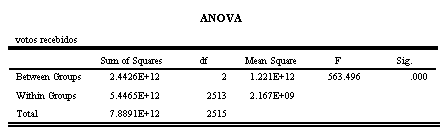
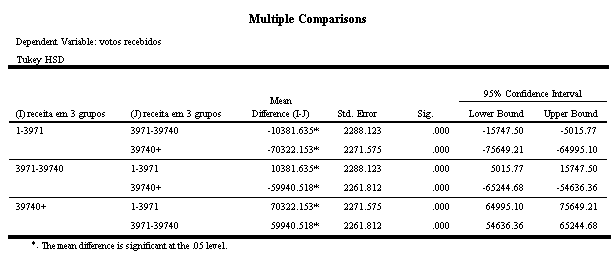
Como
pode ser notado, a renda é uma variável muito importante para explicar a
dispersão dos votos. Todos os testes foram estatisticamente significantes
e sugerem que a variável renda demonstra-se como um excelente proxy
para estimar a quantidade de votos recebidos.
Por
fim, depois de considerados os dados estatísticos dessa seção aliados
às construções teóricas anteriormente apresentadas, é possível
resumir o modelo teórico que foi desenvolvido no presente artigo. Ei-lo:
os políticos sabem que o número de votos está positivamente
correlacionado com a quantidade de recursos investidos. Como as empresas
sabem que podem receber benefícios ou perdas da atividade governamental,
elas podem se engajar voluntariamente no financiamento de determinados políticos
e depois esperar algo em troca. Os mesmos políticos podem, através do
seu poder legal de tributar e assim transferir renda, extorquir empresas
privadas a contribuírem para suas campanhas. Tal demanda estimula a
continuidade da lógica de arrecadação monetária entre as empresas, os
grupos de interesse e os políticos.
Por
que falham os mecanismos de controle: o financiamento público e outras
considerações
É
possível afirmar que os diferentes problemas associados ao financiamento
das eleições desencadearam um imenso debate acerca de possíveis
mecanismos de controle que pudessem acabar ou pelo menos minimizar os
efeitos nocivos gerados pela atividade de grupos interessados em obter
benefícios. Uma das principais premissas de qualquer mecanismo de regulação
é a de que a lei altera ou deveria alterar o comportamento dos indivíduos
seja pela proibição direta, seja através de incentivos para a ação
voluntária. Esses incentivos fazem com que os custos de transgredir a lei
sejam maiores do que os benefícios. Logo, o comportamento desviante
tornar-se-ia irracional. Similarmente, a premissa que embasa qualquer
sistema de reforma de campanha é a de que uma mudança na lei irá fazer
uma diferença previsível sobre o comportamento dos atores.
Contrariamente a essa idéia, a teoria hidráulica da regulação
afirma que as leis irão antes desenvolver novos comportamentos
oportunistas do que conter ou regular, pois, como água, o dinheiro sempre
encontrará um caminho para seguir.
Em
um mundo perfeito, não seria necessário estabelecer nenhuma regra de
conduta em relação ao financiamento das campanhas eleitorais, pois as
grandes corporações não procurariam influenciar as decisões políticas.
Da mesma forma, os políticos não se engajariam em determinadas práticas
e nem buscariam maximizar seus interesses pessoais. Nesse mundo, as leis
seriam respeitadas ao seu extremo e, por isso, não se teria nenhuma espécie
de desvio a norma. No entanto, no mundo real, as leis que regem o
financiamento das campanhas eleitorais são adotadas para inibir
determinadas formas de comportamento, em sua maioria oportunistas e
maximizadores. No jogo político, entendido aqui como um modelo de atores
racionais que buscam maximizar o resultado de seus interesses, as leis são
respeitadas porque são entendidas como parte obrigatória da existência
do modelo. Todavia, como as esferas sociais não podem ser totalmente
apreendidas em modelos, infere-se portanto que as leis não são
completamente passíveis de serem cumpridas. É aqui que reside uma das
principais falhas de uma abordagem eminentemente legalista.
A
literatura especializada em mecanismos de controle enumera algumas medidas
para inibir o comportamento maximizador dos atores políticos. É
relevante destacar determinadas medidas regulatórias, os seus efeitos
pretendidos e os seus possíveis efeitos não intencionais. A tabela
abaixo sistematiza esses dados.
Tabela
9
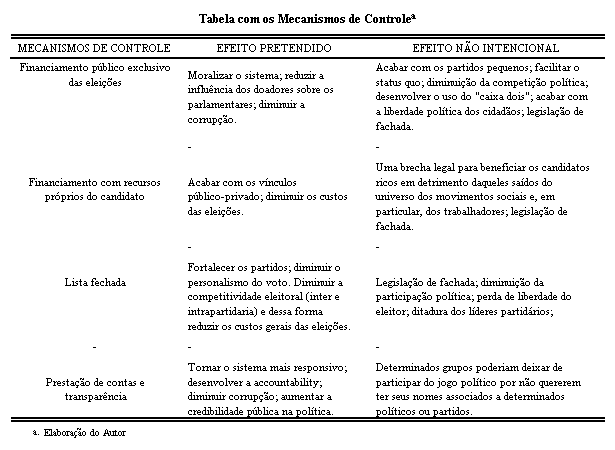
Muitos
especialistas defendem as reformas como um mecanismo moralizador da política.
Dito isso, discutirei agora um dos aspectos citados na tabela acima, a
saber, o financiamento público das eleições. Primeiramente, considero
que na ausência de um debate qualificado sobre o financiamento das eleições
são as evidências anedóticas que acabam por nortear o debate político.
Um dos resultados diretos disso é a conclusão de que o financiamento público
das campanhas pode resolver os problemas. Tanto é verdade que muitos dos
projetos de lei que visam reformar a política nacional defendem o
financiamento exclusivamente público das eleições. Pelo que analisei,
existem mais de 5 projetos que tratam do assunto. Destaco que o projeto de
lei 4.593 de 2001 conta com toda uma abstração teórica, que na melhor
das hipóteses, irá antes piorar a atual problemática legislação
eleitoral. Uma das principais falhas do financiamento público das eleições
é a idéia de que a proibição de contribuições do setor corporativo
é uma medida que vai solucionar os problemas. Essa idéia não se
sustenta por vários motivos. Vejamos alguns: 1) ao se acabar com a oferta
de um determinado produto não se acaba necessariamente com a demanda. Em
outros termos, proibir que determinados setores contribuam para o
financiamento das eleições não acaba necessariamente com a demanda por
recursos para financiar o processo eleitoral. É possível propor uma
alegoria para ilustrar essa consideração: o não fornecimento de
alimento não implica que a fome do indivíduo irá desaparecer; na melhor
das hipóteses quem desaparecerá será o indivíduo. Pelo contrário, se
a demanda é x e a oferta é x/2, é razoável que novos
mecanismos sejam criados para satisfazer a demanda (Teoria Hidráulica da
Regulação). Se um indivíduo está com fome mas não possui renda
suficiente para satisfazer suas necessidades, ele pode tentar colher no
meio circundante, pedir para outras pessoas ou até mesmo se engajar em práticas
ilegais. A história reforça o argumento aqui desenvolvido. Nos EUA a
história da regulação eleitoral pode ser entendida, grosso modo, como
um mecanismo de funil. Isso porque a cada novo problema que surgia no
sistema, a regulação eleitoral tornava-se mais específica e mais
restritiva a participação. Não se julga aqui se isso é bom ou mau,
desejável ou não. Assim, o primeiro ator que foi excluído da
possibilidade de se engajar no financiamento das eleições foi a própria
burocracia.
Isso foi explicado pela capacidade dos políticos em ora oferecer favores
aos burocratas em troca de contribuições, ora por ameaçarem os mesmos
com seus poderes legais. Depois disso, a atenção mudou de foco. O grande
problema passou a residir nas contribuições de empresas e indústrias. Não
tardou para que esses atores também fossem excluídos do processo.
Em questão de anos o problema se instalou em outro ator, a saber, os
sindicatos. Como o leitor pode prever, estes também ficaram de fora do
financiamento eleitoral. Mais recentemente, uma mulher foi presa em Ohio
por distribuir panfletos contra o aumento de impostos. Isso porque a lei
estadual prevê que todo panfleto tenha necessariamente o nome do grupo ou
do indivíduo que arcou com os custos. Atualmente, a legislação
eleitoral norte-americana é uma das mais rígidas do mundo. Todavia, isso
não impediu casos como o da Enron e o escândalo das empresas
petrolíferas no Iraque.
Também não foi capaz de impedir o escândalo em 2000 envolvendo as eleições
presidenciais. Isso porque no meio desse grande arcabouço legal, é
natural o surgimento e desenvolvimento de brechas. Seria possível
enumerar dezenas, no entanto, o escopo aqui é outro. Se for verdade que
é possível aprender algo com a história, os políticos brasileiros
poderiam refletir sobre a evolução da legislação eleitoral
norte-americana para tentar evitar que os erros cometidos lá sejam
cometidos aqui. Não é à toa que os norte-americanos vêm a mais de cem
anos reformando o meio pelo qual suas campanhas eleitorais são
financiadas. Caso a simples imposição de novas normas resolvesse os
problemas, uma sociedade de muitas normas não os teria.
Um
outro problema associado ao FPC (Financiamento Público de Campanha) é
acabar com os partidos pequenos por intermédio da restrição orçamentária,
pois na medida em que 85% do fundo público seria dividido
proporcionalmente entre os partidos, baseado no número de candidatos
eleitos no pleito anterior, aqueles partidos que elegeram poucos
candidatos receberiam menos dinheiro. Em médio e longo prazo alguns
partidos se tornariam dominantes e isso, alguns críticos poderiam
argumentar, é uma séria ameaça a democracia eleitoral.
Outra
questão problemática associada ao FPC é o valor de cada voto. Ao se
utilizar 7 reais por eleitor, o fundo partidário seria de 800 milhões de
reais. Alguns críticos poderiam argumentar que essa é uma quantia muito
alta. Alta em relação a que? Em relação ao PIB? gastos com saúde e
educação? As eleições de 2002 podem ser razoavelmente estimadas entre
3 e 4 bilhões de reais. Dessa forma, o fundo público seria apenas uma
pequena parcela do que é realmente investido. Resultado: institucionalização
do “caixa dois”.
Um
outro argumento contra o FPC tem sua essência no institucionalismo histórico.
Se for verdade que as instituições importam, não é crível o argumento
de que caso o dinheiro público assuma um lugar que antes era ocupado por
contribuições interessadas, os problemas associados a esse tipo de
contribuição sejam resolvidos. Existem variáveis culturais e
institucionais que não estão sendo consideradas e que devem fazer
diferença na formulação dos projetos de reforma. Em um país em que o
dinheiro de bicheiros e do narcotráfico financia as eleições dos
representantes e em que o TSE aceita 2 prestações de contas ao cargo de
governador (2002) de menos de 10 reais; 8 prestações foram abaixo de 500
reais, a idéia de adotar o financiamento público das eleições é, para
dizer o mínimo, problemática.
Em uma questão de tempo, surgiriam outros “PCs” e “Valdomiros”.
Com eles, toda uma rede de corrupção eleitoral e interesses escusos. Por
fim, ao se considerar que o FPC é a solução dos problemas, o argumento
pode incorrer no que a estatística denomina de erro do tipo 2, qual seja,
considerar como verdadeira uma premissa que na verdade é falsa. Dito
isso, ao se considerar premissas falsas, a metodologia científica é
bastante clara, os resultados serão necessariamente espúrios.
Considerações
Finais
Esse
trabalho inicia uma reflexão sobre o papel do dinheiro no financiamento
das eleições. Discutir tal relação é crucial para desenvolver o
debate acadêmico e político a respeito de vários temas em geral e sobre
a reforma de campanha eleitoral em particular. Como foi dito no princípio
desse artigo, o Brasil ainda carece de um debate qualificado no que
concerne à reforma do financiamento de campanha. Iniciar essa discussão
de forma minimamente rigorosa foi um dos objetivos centrais do presente
estudo.
É
importante enfatizar que foi demonstrado que a quantidade de recursos
(variável receita) possui correlação positiva e significante com o número
de votos obtidos. Ou seja, quanto mais recursos são investidos nas
campanhas, maior é o número de votos recebidos por um determinado
candidato. Porém, é preciso notar que correlação é diferente de causa
e efeito. Traduzindo, nem sempre o candidato que investir mais recursos em
sua campanha vencerá as eleições, pois existem outras variáveis que
interferem no resultado eleitoral. No entanto, a exceção serve apenas
para confirmar a regra. A referida conclusão tem implicações diretas
sobre o papel da alocação de recursos nas campanhas eleitorais.
Esse
achado empírico fortalece o argumento aqui desenvolvido. Qual seja: os
atores políticos racionais sabem que o aumento de seus gastos eleitorais
é proporcional ao acréscimo da sua chance de vencer as eleições. Por
isso, os políticos podem extorquir contribuições das empresas para
financiar as suas campanhas. Da mesma forma, determinadas empresas podem
se engajar voluntariamente no financiamento do jogo político, visando em
última instância, receber benefícios da ação governamental.
É
extremamente problemático avaliar em que medida determinados grupos de
interesse se envolvem no financiamento das eleições uma vez que os dados
disponíveis além de escassos são pouco confiáveis. Adicionalmente,
também é difícil estimar a incidência de práticas ilegais durante as
eleições por parte das empresas e dos políticos. Tomar a parte pelo
todo não só é incorreto como também contribui para a formação de uma
imagem espúria a respeito do papel das empresas no processo eleitoral.
Ainda que alguns especialistas e principalmente políticos argumentem que
as corporações privadas têm um papel essencialmente nefasto no jogo político,
não há, salvo engano, nenhum trabalho acadêmico que demonstre tal relação.
Separar o joio do trigo é uma tarefa difícil e exige grande esforço
analítico.
Há
um grande leque de problemas de pesquisa que os acadêmicos brasileiros
podem dedicar atenção. Por exemplo, estimar em que medida os
parlamentares brasileiros votam a favor ou contra os grupos que
financiaram suas campanhas. Ou, é possível calcular a correlação entre
os gastos eleitorais e o número de votos recebidos para outros cargos e
legislaturas, por exemplo. Determinar a incidência das referidas práticas
e elaborar uma legislação eleitoral eficiente é um dos principais
desafios impostos aos cientistas sociaise aos formuladores de políticas
na medida em que existem muitas variáveis culturais e institucionais que
podem ser utilizadas para explicar os diversos problemas associados ao
financiamento das eleições. Ao fazer essa breve revisão, acredito que
esse trabalho pôde contribuir para tal empreitada, pois novos estudos
podem surgir a partir disso.
Finalmente,
como foi dito antes, não se procura aqui oferecer uma visão normativa do
processo eleitoral. Nem tampouco é objetivo dessa pesquisa propor
reformas nas instituições políticas. O escopo aqui é outro. Ao meu
ver, é necessário reformar o debate, para depois, debater a reforma
eleitoral.
_______________________
Bibliografia
ABRAMO,
Claudio. Corrupção no Brasil: A perspectiva do setor privado. Kroll/Trasparência
Internacional, 2004.
AINSWORTH,
Scott. Regulating Lobbyists and Interest Group Influence. Journal of Politics, 55:41-56, 1993.
Baron,
D.P. Electoral competition with informed and uninformed voters, American
Political Science Review, 87: 34-47, 1994.
CHOATE,
Pat. Agents of Influence: How Japan Manipulates America’s Political
and Economic System. New York:A.A.Knopf., 1990.
CLAWSON,
Dan. Dollars and Votes: How Business Campaign Contributions Subvert
Democracy. Philadelphia, Temple University Press, 1999.
CONWAY,
Margaret. PACs in the Political Process. IN: Interest Group Politics,
3ed. Washington, DC: Congressional Quarterly, 1991.
CORRADO,
Anthony et al. The New
Campaign Finance Sourcebook.
Brookings Institution Press, 2003.
DENZAU,
Arthur e Munger, Michael. Legislators and Interest Groups: How Unorganized
Interests Get Represented. American Political Science Review, 80:89-106,
1986.
EVANS,
Diana. PAC Contributions and Roll-Call Voting: Conditional Power. In Interest
Group Politics, 2ºed. Washington DC: Congressional Quarterly, 1986.
______.Oil
PACs and Aggressive Contributions Strategies. Journal of Politics,
50:1047-56, 1988.
FLEISHER,
Richard. PAC Contributions and Congressional Voting on National Defense. Legislative
Studies Quarterly, 18:391-409, 1993.
GERBER,
Alan. Estimating the Effect of Campaign Spending on Senate Election
Outcomes Using Instrumental Variables. The American Political Science
Review, 92, 2:401-411, 1998.
GODWIN,
Kenneth. One Billion Dollars of Influence: The Direct Marketing of
Politics. Chatham: Chatham House, 1988.
GRENZKE,
Janet. Money and Congressional Behavior. IN: Money, Elections, and
Democracy. Ed. Boulder, CO: Westview Press, 1990.
HANSEN,
John. Gaining Access: Congress and the Farm Lobby 1919-1981.
JACOBSON,
Gary. The Effect of Campaign Spending in House Elections: New Evidence for
Old arguments. American Journal of Political Science, 34:334-62,
1990.
KINGDON,
John. Agendas, Alternatives, and Public Policy. Boston: Little,
Brown, 1984.
KRUEGER,
Ann. The Political Economy of the Rent-Seeking Society. The American
Economic Review, 64, 3: 291-303, 1974.
LANGBEIN,
Laura. Money and Access: Some Empirical Evidence. The Journal of
Politics. Vol.48, Nº.4, p. 1052-1062, 1986.
LOWI,
Theodore. American Business, public policy, case studies, and political
theory. World Politics, Vol.16, p. 677-715, 1964.
MAIA,
Fernando. Guerra e Democracia: Reflexões sobre a Intervenção
Americana no Iraque. Trabalho de Monografia, CFCH, UFPE, Mimeo, 2005.
McCHESNEY,
Fred. Money for Nothing: politicians, rent extraction, and political
extortion. Cambridge, Harvard University Press, 1997.
NAVARRO,
Peter (1984). The Policy Game: How Special Interests and Ideologues are
Stealing America. New York: John Wiley and Sons, 1984.
NEUSTADTL,
Alan. Interest-Group PACsmanship: An Analysis of Campaign Contributions,
Issue Visibility, and Legislative Impact. Social Forces, 69:549-64,
1990.
POSNER,
R. The Social Cost of Monopoly and Regulation. Journal of Political
Economy, Vol.83, p. 807-27, 1975.
SABATO,
Larry. PAC Power: Inside the World of Political Action Committees.
New York: W.W. Norton, 1985.
SALISBURY,
Robert. Interest Representation: The Dominance of Institutions. American
Political Science Review, 78:64-76, 1984.
SAMUELS,
David. Money, Elections and Democracy in Brazil. Latin American
Politics and Society, 43, 7: 27-48, 2001.
_____.
Incumbents and Challengers on a level Playing field: Assessing the impact
of Campaign finance in Brazil. The Journal of Politics. 63
(2).p.569-84, 2001.
_____.
Does Money Matter? Campaign Finance in Newly Democratic Countries: Theory
and Evidence from Brazil. Comparative Politics. 34, p.23-42, 2002.
STERN,
Philip. The Best Congress Money Can Buy. New York: Pantheon Books,
1988.
STRATMANN,
Thomas. What Do Campaign Contributions
Buy? Deciphering Causal Effects on Money and Votes. Southern
Economic Journal, 57:606-20, 1991.
STIGLER,
George. The Theory of Economic Regulation. The Bell Journal of
Economics and Management Science, 2, 1:3-21, 1971.
WELCH,
Willian. Campaign Contributions and Legislative Voting: Milk Money and
Dairy Price Supports. Western Political Quarterly, 35:478-95, 1982.
WILSON,
James. Bureaucracy: what government agencies do and why they do it.
New York: Basic Books, 1985.
_________________
Esse artigo é uma versão
mais empírica da minha monografia de conclusão de curso em Ciências
Sociais pela UFPE. Agradeço as contribuições de Flávio Rezende, Marcus
Melo, Jorge Zaverucha, Enivaldo Rocha e de um parecerista anônimo da
Revista Urutágua. É desnecessário dizer que possíveis erros e omissões
são de minha inteira responsabilidade.
Os dados utilizados aqui foram disponibilizados pelo Tribunal Superior
Eleitoral. Aqui cabe um parêntese: é preciso lembrar que um dos
grandes problemas encontrados pelos pesquisadores que estudam o
financiamento eleitoral é o escasso e limitado acesso aos dados. Não
se sabe em que medida as informações se referem à realidade. Outro
problema associado aos diferentes bancos de dados é que só
recentemente essas informações foram sistematizadas e disponibilizadas
para o público em geral.
Na verdade, nos EUA, as contribuições de corporações foram proibidas
parcialmente desde 1890 nos seguintes estados: Nebraska, Missouri,
Tennesse e Florida. Depois em 1907, com base em disposições da Tillman
Act, as doações provenientes de corporações foram completamente
proibidas em todo território nacional (Corrado, 2003). A única forma
que as corporações podem contribuir para campanhas eleitorais é por
meio dos PACs (Political Action Committees).
O caso mais bizarro aconteceu no estado de São Paulo onde o candidato
José Alves da Silva (PSDB) declarou ter gastado 1 real no financiamento
de sua campanha para o cargo de deputado federal. Ainda mais, de acordo
com o TSE, mais de 60 candidatos ao cargo de deputado federal declaram
ter gastado menos de 100 reais. 18 deles prestaram conta declarando
terem gastado menos de 20 reais. Pelo que sei, sou a única pessoa a
possuir esse banco de dados e a ter codificado e depurado as
informações para fins de pesquisa. Qualquer indivíduo que se
interessar em obter os dados deve entrar em contato com o autor desse
trabalho.