|
|
|
Socióloga, Dra em Educação, professora efetiva do Departamento de Pedagogia, Unemat campus de Cáceres
_________
|
Estudo
sobre a fidelidade à palavra empenhada: a constituição moral de crianças
e adolescentes da rede pública e privada de ensino fundamental na cidade
de Cáceres MT*
Este
estudo tem sido desenvolvido a partir de contatos formalizados em termos
de compromisso com a direção das escolas envolvidas[1].
A equipe comprometeu-se em não divulgar nomes ou respostas que pudessem
identificar o informante, tentando garantir que os mesmos não se
sentissem pressionados a dar “respostas prontas” ou “esperadas”
por professores ou dirigentes. No ano de 2004 e início de 2005 realizamos
entrevistas com alunos, todos concordando em ser voluntários para a
pesquisa[2],
oriundos do ensino fundamental em uma escola pública e outra privada na
cidade de Cáceres – MT. Constituiu-se um banco de dados com 93 (noventa
e três) entrevistas transcritas e tabuladas através do SPSS. A partir
das transcrições foi possível construir as categorias de análise
segundo a técnica de L Bardin (s/d) que nos auxiliou na análise das
respostas obtidas nas entrevistas sob a luz da teoria piagetiana. A formação do juízo moral segundo PiagetA
obra de Jean Piaget (1994) está permeada por uma preocupação com a
compreensão do desenvolvimento humano como um todo. Apesar da relevância
dada ao desenvolvimento cognitivo, há em Piaget um potencial maior,
explicitado em sua obra “O juízo moral na criança”. Isto porque nela
evidenciam-se propostas para o desenvolvimento de uma compreensão acerca
da formação do indivíduo no que tange aos seus princípios de deveres e
direitos na elaboração de um sistema social.A importância da obra
piagetiana é indiscutível e sua metodologia tem sido base de inúmeras
pesquisas na área da psicologia social e no desenvolvimento cognitivo
infantil. É óbvio que busca na infância a fonte de observação e
construção de seu modelo, uma vez que o ser humano ao atingir sua idade
adulta, passou por processos importantes e vivenciou experiências
fundamentais que se desenvolveram durante o período de crescimento que
vai do nascimento até a idade adulta. Os processos de socialização que
moldam o indivíduo e seu comportamento social foram então a base de
reflexão para o desenvolvimento das conclusões expostas em “O juízo
moral na criança”. Tendo em vista que este livro serve de base para a
elaboração de toda a metodologia em que irá se basear o presente
estudo, tentaremos a seguir explicitar os principais conceitos e como
foram elaborados. Além disso, a pertinência deste modelo de compreensão,
que observa as relações sociais infantis e as têm como parâmetros para
a análise da construção das regras sociais, está principalmente na
construção dos conceitos de autonomia e heteronomia, os quais serão
explicitados na discussão metodológica. Aqui nos deteremos a alguns
pressupostos do modelo explicativo desenvolvido por Piaget(1994). O
autor tem em mente que a organização social se dá através de regras
sociais. Para obter uma certa isenção em relação à interferência
adulta na formação das regras em sua essência, como formas de mediação
nas relações entre indivíduos, busca uma instituição infantil que lhe
permita observar, a partir de um exemplo específico, a dinâmica da formação
das regras. O
jogo de bolinhas foi o exemplo utilizado como um sistema muito complexo de
regras que permitia, sobretudo, a observação de um sistema de relações
puramente infantil que permanecia isento da interferência adulta. As
regras regem o comportamento dos jogadores durante o jogo, sendo que são
elaboradas e negociadas pelas próprias crianças. É, portanto, uma
instituição social que serve de base para a compreensão de como se dá
a construção das regras. Tem
como pressuposto que “toda moral consiste num sistema de regras, e a essência
de toda moralidade deve ser procurada no respeito que o indivíduo adquire
por essas regras” (PIAGET,1994:23) Além
disso, não se tratava apenas de estudar a moral infantil em si, mas,
através dela, pensar a moralidade humana que, por sua vez, é entendida
como o conjunto de regras seguidas pelos seres humanos que norteiam as
relações que se estabelecem entre eles. Um
outro pressuposto é que a teoria “é uma espécie de projeção
abstrata da moral praticada numa sociedade dada, a uma época dada”
(PIAGET,1994,:11)
Isto remete à consideração dos indivíduos historicamente datados e
situados geográfica e culturalmente. Sendo assim, em cada organização
social há uma especificidade na construção da moralidade, isto é, os
indivíduos aprendem maneiras diferentes de observação e construção
das regras. Vale
ressaltar também que o ser humano possui um lado irracional e outro
racional. É neste último que o juízo moral atua, com os critérios de
avaliação, com os objetivos conscientes de conduta etc, que nem sempre
movem nossas ações. No entanto, são elementos de uma racionalidade que
se torna condição sine qua non de equilíbrio social e pessoal,
fortalecendo também o “ego”. O lado racional é imprescindível para
o desenvolvimento da organização e complexidade social. E, exatamente
por conta disso, se tornou o objeto de estudo a que Piaget (1994) se
dedicou. Um
outro aspecto importante para a elaboração do modelo piagetiano é o
emprego do par assimilação/ acomodação, como suporte para suas reflexões.
Para
Piaget, o conhecimento se dá através da assimilação das informações
do meio, que é determinada por estruturas mentais. Tais estruturas, por
sua vez, modificam-se pelo contato com os objetos (físicos e sociais) do
meio. Às vezes, o processo de assimilação predomina: é o caso do jogo
simbólico quando a criança transforma os objetos do mundo para que
satisfaçam seus desejos (por exemplo, transformar uma vassoura em
“cavalo”). Outras vezes, a predominância é da acomodação, como no
caso da imitação: a criança se transforma para tomar o aspecto do
objeto imitado. (PIAGET,1994:18) Em
um momento, a criança procura assimilar um objeto através dos esquemas
que já conhece. Todavia, se esse objeto possui características
diferentes, resiste em parte à assimilação possível através dos
esquemas já construídos. Assim, ocorre um processo de acomodação, pois
os esquemas modificam-se e enriquecem-se para dar conta das características
do novo objeto. Quando essa acomodação esgota-se, Piaget fala em equilíbrio
entre a assimilação e a acomodação. No
caso da evolução moral da criança, Ives de La Taille (1994), em seu
texto introdutório para a edição em português do “Juízo Moral na
Criança”, nos chama a atenção para o seguinte: (...)
as primeiras formas de interpretação (assimilação) que a criança faz
da moral adulta são decorrências das estruturas mentais que possui.
Estas ainda não lhe permitem uma apropriação intelectual racional do
porquê das regras: portanto, a criança acredita serem boas porque são
impostas por seres vistos como poderosos e amorosos (os pais). Mas, por
que “milagre” se desenvolverão estruturas mentais capazes de uma
apreciação racional das “verdades” emitidas pelos adultos? Ora, por
um novo tipo de integração social - a cooperação - para a qual as
antigas estruturas serão insuficientes. Este novo tipo de interação,
promovido em grande parte pelas relações das crianças entre si, vai
exigir um trabalho de acomodação, portanto, de modificação das
estruturas anteriores. Se esta acomodação não for exigida, a criança
permanecerá acreditando no caráter absoluto das regras morais e na sua
legitimidade proveniente da autoridade de quem as impôs.”
(LA
TAILLE apud PIAGET, 1994:18) Importância
deve ser dada também ao conceito de egocentrismo em Piaget, onde temos
que (...)
é no momento em que o sujeito está mais centrado em si que ele menos se
conhece; e é na medida em que descobre a si mesmo que o sujeito se situa
num universo e constitui este em razão desta descoberta. Em outros
termos, egocentrismo significa ao mesmo tempo ausência de consciência de
si e ausência de objetividade, enquanto a tomada de consciência do
objeto é inseparável da tomada de consciência de si.”
(PIAGET,1994:18). Sob
este aspecto podemos afirmar que o indivíduo se define em relação ao
outro. Isto nos faz pensar que em uma fase onde o outro não é algo
relevante na vida da criança (fase do egocentrismo), a definição de si
mesmo não se processa. Assim
sendo, podemos dizer que a vida de um indivíduo e suas experiências, o
leva ao desenvolvimento de um maior ou menor grau de participação. Se
ele faz parte de relações sociais onde a cooperação aparece raramente,
então permanecerá a vida toda em uma moral heterônima, “procurando
inspirar suas ações em “verdades reveladas” por deuses variados ou
por “doutores” considerados à priori como competentes e “acima de
qualquer suspeita”.”(PIAGET,1994:19) Sublinhe-se
ainda uma tese essencial à teoria de Piaget: “a
ação precede a consciência; esta é uma “tomada de consciência” da
organização efetiva daquela. Assim, no nível da inteligência, as operações
mentais serão uma abstração do funcionamento efetivo das ações sensório-motoras.
No nível moral, as concepções de Bem e de Mal serão abstrações das
relações sociais efetivamente vividas” (Idem, ibidem.). Logo,
a prática precede a teoria, o que dá suporte ao método proposto de
levantamento de dados, já que a proposta baseou-se em julgamentos acerca
de situações cotidianas fictícias. Segundo
Piaget (1994), “toda moral consiste num sistema de regras, e a essência
de toda moralidade deve ser procurada no respeito que o indivíduo adquire
por essas regras” (PIAGET,1994:23) Como então, a criança vem a
respeitar as regras? A resposta encontrada por Piaget é a seguinte: Em
primeiro lugar, temos que “as regras morais, que a criança aprende a
respeitar lhe são transmitidas pela maioria dos adultos, isto é, ela as
recebe já elaboradas e, quase sempre, nunca elaboradas na medida de suas
necessidades e de seu interesse, mas de uma só vez e pela sucessão
ininterrupta das gerações adultas anteriores. Daí, a extrema
dificuldade de uma análise que deveria distinguir o que provém do conteúdo
das regras e o que provém do respeito da criança aos seus próprios
pais” (Idem,
ibidem.) Em
virtude desta dificuldade, Piaget procurou uma instituição em que as
regras fossem elaboradas pelas crianças e transmitidas de geração a
geração, mantendo-se graças ao respeito que os indivíduos têm por
elas. Essa instituição puramente infantil se encontrava em brincadeiras
infantis: o jogo de bolinhas. No
jogo, as relações sociais se dão entre indivíduos iguais. Os
menores que começam a jogar, aos poucos, são dirigidos pelos maiores no
respeito à lei e, além disso, inclinam-se de boa vontade para essa
virtude, eminentemente característica da dignidade humana, que consiste
em observar corretamente as normas do jogo. Quanto aos maiores, fica a seu
critério a modificação das regras.”
(idem,ibidem.). Fica
claro que a criança é influenciada pelos pais, pois desde a mais tenra
idade é submetida a múltiplas disciplinas e, antes de falar, toma consciência
de certas obrigações. Isto irá influenciá-la na elaboração das
regras do jogo. No entanto, o autor nos chama a atenção para o fato de
que a intervenção adulta reduz-se ao mínimo quando se trata de instituições
lúdicas, pois estamos diante de realidades elementares onde a
espontaneidade irá nos conduzir a um campo fértil de ensinamentos.[3]
A fim de responder a pergunta inicial, como a criança vem a respeitar as
regras, foram analisados dois grupos do fenômeno: 1º)
A prática das regras, isto é, a maneira pela qual as crianças de
diferentes idades as aplicam efetivamente. 2º)
A consciência da regra, isto é, a maneira pela qual as crianças de
diferentes idades representam as regras: sejam elas consideradas de caráter
obrigatório, sagrado ou decisório, segundo a heteronomia ou a autonomia
inerentes às regras do jogo.” (PIAGET,1994:24) E acrescenta ainda: As
regras do jogo de bolinhas representam uma realidade social bem
caracterizada, ou seja, “independente dos indivíduos”,
transmitindo-se de geração a geração como um idioma. (...) As inovações
individuais somente tem sucesso, tal como as inovações lingüísticas,
se atendem a uma necessidade geral e se são sancionadas pela
coletividade.”(Idem.ibidem:30-31)
A partir disso, a pergunta que foi proposta consiste em: 1º)
como os indivíduos se adaptam pouco a pouco a essas regras, como então
observam a regra em função de sua idade e de seu desenvolvimento mental. 2º)
Que consciência tomam da regra ou, em outras palavras, que tipos de
obrigação resultam para eles, sempre de acordo com as idades, do domínio
progressivo da regra. (Idem.ibidem) Após
um interrogatório realizado com o intuito de rastrear respostas às
perguntas acima, Piaget (1994) obteve que em relação à prática das
regras, podemos identificar quatro estágios sucessivos: Um primeiro estágio, puramente motor e individual, no decorrer do qual a criança manipula as bolinhas em função de seus próprios desejos e de seus hábitos motores. Estabelece, nessa ocasião, esquemas mais ou menos ritualizados, mas, permanecendo o jogo individual, ainda não se pode falar senão de regras motoras e não de regras propriamente coletivas” (PIAGET, 1968:33). Vale
lembrar que nessa fase, a criança, muito embora esteja sujeita a
regularidades, como o suceder do dia após a noite, os horários de
alimentação, etc, não há uma seqüência em relação ao jogo, nem
tampouco direção na sucessão de comportamentos. Há
uma utilização de um esquema motor ligado à percepção das bolinhas,
mas apenas ritualizado. Forma-se também o simbolismo que se insere
imediatamente nos esquemas motores da criança. (as bolinhas tornam-se
alimentos para cozinhar, por exemplo) Estes
dois elementos, a ritualização e o simbolismo, aparentemente são condições
para o próximo estágio. Isto porque “é possível que as regras do
jogo derivem tanto dos rituais análogos àqueles que acabamos de
observar, como de um simbolismo que se tornou coletivo” (PIAGET,
1994:36). Geneticamente falando, os rituais e os símbolos parecem
explicar-se pelas condições da inteligência motora pré-verbal. Um bebê
colocado em presença de um objeto qualquer reage acomodando-se ao novo
objeto e assimilando-o aos esquemas motores anteriores. Essa
assimilação de qualquer objeto novo aos esquemas motores já existentes
pode ser tomada como ponto de partida dos rituais e dos símbolos, pelo
menos desde o momento em que a assimilação supera a própria acomodação
(...) todos os esquemas motores da criança dão origem, excluindo-se os
momentos de adaptação propriamente dita, a uma espécie de funcionamento
em vão que dá prazer à criança como se fosse um jogo.
(PIAGET, 1994:37). Acrescente-se
que “quando à inteligência motora se juntam a linguagem e a representação,
o símbolo torna-se objeto de pensamento”. (Idem, ibidem) Mas é com o
caráter da obediência, da entrada do elemento da obrigação, que emana
a regra na relação em sociedade ou simplesmente entre dois indivíduos. Um
segundo estágio pode ser chamado egocêntrico, pelas razões que vamos
expor. Esse estágio se inicia no momento em que a criança recebe do
exterior o exemplo e regras codificadas, isto é, segundo os casos entre
dois e cinco anos. Todavia, mesmo imitando esses exemplos, a criança
joga, seja sozinha, sem se preocupar em encontrar parceiros, seja com os
outros, mas sem procurar vencê-los e nem, por conseqüência, uniformizar
as diferentes maneiras de jogar. Em outros termos, as crianças desse estágio,
mesmo quando juntas, jogam ainda cada uma para si (todas podem ganhar ao
mesmo tempo) e sem cuidar da codificação das regras. É esse duplo caráter
da imitação dos outros e de utilização individual dos exemplos
recebidos que designaremos pelo nome de egocentrismo.(PIAGET,1994:33) Esse
estágio contém uma conduta intermediária entre as condutas socializadas
e as puramente individuais. O problema nesse período é que: (...)
a própria natureza da relação entre a criança e o adulto coloca a
criança numa situação à parte, de tal forma que seu pensamento
permanece isolado e, mesmo acreditando partilhar do ponto de vista de
todos, ela fica, de fato, fechada em seu próprio ponto de vista. O próprio
vínculo social ao qual a criança está presa, e por mais estreito que
ele pareça quando visto do interior, implica, assim, um egocentrismo
intelectual inconsciente, favorecido, além disso, pelo egocentrismo
espontâneo característico de toda consciência primitiva.(PIAGET,1994:40) A
par disso, temos que: (...)
de um lado, a criança é dominada por um conjunto de regras e exemplos
que lhe é imposto de fora. Mas, por outro lado, não podendo ainda se
situar num pé de igualdade, frente aos mais velhos, utiliza para si e sem
mesmo se dar conta de seu isolamento, o que conseguiu aprender da
realidade social ambiente.(Idem,ibidem)
Nesse
estágio, o prazer é essencialmente motor, no que tange ao jogo de
bolinhas, está na habilidade de acertar a bolinha, não sendo, portanto,
um prazer social. O
verdadeiro socius do jogador desse estágio não é o parceiro em carne e
osso, mas o mais velho, ideal e abstrato, que ele se esforça
interiormente por imitar, e que reúne o conjunto de exemplos recebidos até
esse dia. Conseqüentemente, pouco importam os pormenores das regras, pois
não há contato real entre os jogadores. É por isso que, desde que saiba
imitar, esquematicamente, o jogo dos grandes, o menino desse estágio está
convencido de conhecer a verdade integral: cada um para si, e todos em
comunhão com o mais velho; essa poderia ser a fórmula do jogo egocêntrico.
(Idem,ibidem) Um
terceiro estágio aparece por volta dos sete ou oito anos. A este estágio
Piaget chamou estágio de cooperação nascente. Nele, “cada jogador
procura, doravante, vencer seus vizinhos donde o aparecimento da
necessidade de controle mútuo e da unificação das regras”.
(PIAGET,1994:33) Na medida em que a criança passa a lutar com seus
parceiros, procurando vencer, se esforça, antes de mais nada, para
observar as regras comuns. O
divertimento específico do jogo deixa assim de ser muscular e egocêntrico
para tornar-se social. Daí em diante, uma partida de bolinhas será
formada por atos equivalentes àquilo que constitui uma discussão: uma
avaliação recíproca das faculdades existentes que chega, graças à
observância das regras comuns, a uma conclusão reconhecida por todos” (PIAGET,1994:44) O
quarto estágio é o da codificação das regras. As partidas são
reguladas com minúcia, bem como os pormenores do procedimento e é
estabelecido um código de regras a serem seguidas. Assim, temos que a
diferença entre o terceiro e o quarto estágios está no grau de
normatização. No
tocante à consciência das regras, Piaget identificou uma progressão
mais suave no pormenor, mas não menos nítida em suas linhas gerais.
“Durante o primeiro estágio, a regra é puramente motora e talvez
suportada, como que inconscientemente, a título de exemplo interessante e
não de realidade obrigatória” (PIAGET,1994:34) Segundo
o autor, ela se estende do nascimento até o início do estágio egocêntrico. O
segundo estágio se inicia no decorrer da fase egocêntrica, terminando
mais ou menos na metade do estágio de cooperação, por volta dos nove a
dez anos. Nele “a regra é considerada como sagrada e intangível, de
origem adulta e de essência eterna; toda modificação proposta é
considerada pela criança como uma transgressão.” (PIAGET,1994:34) O
terceiro estágio de consciência das regras abrange o fim do estágio de
cooperação da prática das regras até o estágio de codificação das
regras. “A regra é considerada como uma lei imposta pelo consentimento
mútuo, cujo respeito é obrigatório, se deseja ser leal, permitindo-se,
todavia, transformá-la à vontade, desde que haja o consenso geral”.
(PIAGET,1994:34) Podemos
demonstrar essa sobreposição de estágios assim:
Vale
ressaltar que a correlação indicada entre os estágios do
desenvolvimento da consciência da regra e os estágios relativos à sua
prática efetiva é apenas estatística, quantitativa, mas em linhas
gerais há uma relação. A
regra coletiva é, inicialmente algo exterior ao indivíduo e, por conseqüência,
sagrada. Depois, pouco a pouco, vai-se interiorizando e aparece, nessa
mesma forma, como livre resultado do consentimento mútuo e da consciência
autônoma. Ora, no tocante à prática, é natural que ao respeito místico
pelas leis, correspondam um conhecimento e uma aplicação ainda
rudimentar de seu conteúdo, enquanto, ao respeito racional e motivado,
corresponde uma observância efetiva e pormenorizada de cada regra.
Haveria assim, dois tipos de respeito à regra, correspondendo a dois
tipos de comportamento social. (PIAGET,1994:34-5) Nos
dois primeiros estágios da prática das regras, a criança seguiria o que
Piaget chamou de formas de heteronomia. Na heteronomia, a criança
considera as regras como obrigatórias, intangíveis e devendo ser
consideradas literalmente. “Essa atitude resulta da coação exercida
pelos mais velhos sobre os menores e da pressão devida aos próprios
adultos, sendo, dessa forma, as regras do jogo assimiladas a deveres
propriamente ditos” (PIAGET,1994:92) Nessa forma heterônima a regra está
fora do sujeito, sendo que, como não há interiorização subjetiva, fora
do contexto social estabelecido há a necessidade de um certo grau de coerção
social, sendo que neste caso a regra é levada ao pé da letra. Já
nos estágios seguintes, temos as formas de autonomia. Neles, a criança
tem um comportamento em relação às regras como o consenso advindo da
socialização com as outras crianças, levando em conta além de si
mesma, a situação das outras crianças afetadas pelas regras, que servem
de intermediárias entre elas. Há,
nesse sentido, um ambiente propício para o desenvolvimento de esferas de
participação de todos os indivíduos que estão sob a égide das regras
definidas para a intermediação das relações sociais que ali se
desenvolverem. As
organizações humanas estão permeadas de estruturas que se situam em um
continuum de dois pólos: de um lado a heteronomia e, do outro, a
autonomia. Lembrando que a heteronomia caracteriza-se segundo os
pressupostos piagetianos como critérios de julgamento onde as regras ou
normas são obrigatórias, intangíveis e devem ser consideradas
literalmente. Sendo assim, a regra está fora do sujeito, não havendo
interiorização, sendo objeto de coerção social. Em
contraponto à heteronomia, há a autonomia. Nela, os atores levam em
consideração a influência de suas ações sobre outras pessoas que serão
afetadas por seus atos. As
normas morais não dizem respeito às ações intencionais em geral, mas
àquelas ações intencionais pelas quais queremos exercer influência em
outras pessoas. Assim, a formação adquirida pelos indivíduos ao longo
de sua existência, propõe a aquisição de um sentimento de dever em
relação às ordens que recebem de pessoas respeitáveis, sem fazer
maiores indagações sobre o sentido destas ordens. Este estágio, Piaget
chamava de “moral do dever”. Em
relação a esse respeito “unilateral”, Piaget distinguiu o
“respeito recíproco”, que consiste na capacidade de se colocar
racionalmente no ponto de vista de outras pessoas. Na perspectiva
piagetiana, as normas morais são regras racionais de acordo mútuo, sendo
assim o respeito recíproco um pressuposto essencial para o entendimento.
Uma norma é boa quando satisfaz as “leis de reciprocidade” e para
reconhecer se uma norma é boa, o indivíduo terá de colocar-se numa
perspectiva que se harmonize com outras perspectivas. A
capacidade para a troca de perspectivas sociais é adquirida aos sete ou
oito anos aproximadamente, na mesma idade em que o indivíduo também
aprende a coordenar duas relações lógicas ou duas variações
interdependentes, como se tornar mais comprido e mais delgado de uma bola
de barro. A
pesquisa: O
projeto vem levantando dados desde março de 2004 junto às escolas públicas
e privadas da cidade de Cáceres/MT. Os objetivos específicos colocam-se
no sentido de:
As
hipóteses que estão sendo checadas pretendem:
Problema: A
fidelidade à palavra empenhada é um valor moral importante para crianças
e pré-adolescentes. O grau de importância é dependente de algumas
características dos entrevistados (sexo, idade), do tipo de envolvimento
entre os personagens (irmãos, amigos e colegas de grupo) e dos conteúdos
que se opõem a ela (furto, mentira e generosidade). A
existência de poucos estudos científicos sobre o desenvolvimento moral
humano (quase todos tratam do desenvolvimento cognitivo e afetivo) e a
falta de estudos sobre o desenvolvimento de valores morais como o de
fidelidade à palavra empenhada (quase todos tratam do desenvolvimento da
justiça) foram determinantes para a escolha do objeto. A
crise de valores que estamos vivendo, sobretudo de valores morais e éticos,
colocando aos pais e educadores uma grande dúvida sobre as ações que
devem ser empreendidas na educação das crianças e adolescentes. Desenvolver
um estudo que possa ser parâmetro de observação com outros estudos da
mesma natureza, realizado em outras regiões do país. O
método desenvolvido levou em conta os seguintes parâmetros:
A
metodologia piagetiana se baseia na utilização de pequenas histórias
cotidianas, fictícias que propõem uma situação para que a criança
posicione-se, avaliando as ações que os personagens deveriam assumir
diante das situações apresentadas. As histórias são contadas às crianças
e suas respostas gravadas. Depois as fitas são transcritas A partir das
transcrições, através dos pressupostos piagetianos, mapeia-se os dados
coletados, através da construção de categorias que são base para a
composição do banco de dados no SPSS. Exemplos
das histórias apresentadas: -
Furto: Júlio
e Cláudio são irmãos (amigos ou colegas de grupo; para as meninas os
atores são Júlia e Cláudia) e tinham prometido nunca falar nada um do
outro a ninguém por pior que fosse a situação. Certo dia, porém, Júlio
viu Cláudio de .... anos de idade, furtar algo (boné, presilha, ou
bicicleta) de um menino da escola e ficou sem saber o que fazer. O que você
acha que Julio deveria fazer? Por que? Explique melhor. Para quem (em caso
de contar)? -
Generosidade:
Fernando tinha um irmão chamado Ricardo de quem gostava muito, a ponto de
combinarem que quando um estivesse precisando de auxílio, o outro o
ajudaria, independentemente de qualquer coisa. Certo dia, Ricardo pediu a
Fernando que emprestasse R$ 1,00, única quantia que dispunha, para que
ele comprasse um ingresso para o único espetáculo que o circo faria na
cidade. Como Fernando não estava precisando do dinheiro e tinha combinado
de sempre ajudar o irmão, pensou em emprestar-lhe o dinheiro. Acontece
que Fernando viu um menino de sua escola com fome na hora do recreio, pois
ele sabia que a mãe dele estava desempregada e eles estavam sem dinheiro
até para a comida em casa e o que dizer então para o lanche. Diante
disso, Fernando ficou sem saber o que fazer. O que você faria? -
Mentira:
Os irmãos Guilherme e Mateus tinham prometido que um nunca falaria nada
do outro a ninguém, por pior que fosse a situação. Acontece que, certo
dia, Guilherme viu seu irmão Mateus, de ...anos de idade,
que se vangloriava de sempre dizer a verdade, mentir para um menino
da escola dizendo-lhe que a professora transferira a realização da prova
para a outra semana ( ou dizendo-lhe que a menina paquerada por ele estava
saindo com outra pessoa). O que você acha que Guilherme deve fazer?
Em
linhas gerais podemos observar que a amostra tem uma distribuição que
sugere uma divisão entre manter a palavra e não furtar. Se por um lado
“não furtar” recebeu 51,6%, parecendo ser predominante nas respostas,
se somarmos os 40.9% de “manter a palavra empenhada” aos 6,5% que
estabelece uma condição para manter a palavra, teremos 47,4%, que
consideram a palavra empenhada um valor importante. A
distribuição da idade dos entrevistados em relação à manutenção da
palavra ou não aponta para uma tendência de as crianças mais novas
manterem suas palavras, enquanto que as mais velhas quebram a fidelidade
à palavra com mais facilidade. Em
relação à diferenciação de classe social que pode ser proposta em razão
de se tratar de uma escola pública e outra privada, podemos observar que
as crianças da escola particular tendem a manter mais a palavra, mesmo
entre as mais velhas. DADOS
RELATIVOS À SOLIDARIEDADE A
distribuição das entrevistas válidas teve como sujeito da análise uma
divisão de 47,3% de informantes masculinos e 52,7% de informantes
femininos. Em relação à distribuição de crianças entre as escolas
48,4% são da escola pública e 51,6% da escola particular. Foi constatado
que: 83,9% não mantém a palavra empenhada, enquanto que apenas 10,8%
mantêm. A maioria das crianças vê a solidariedade, que é um valor
universal, como sendo um valor mais importante como mostra a tabela
abaixo:
As
crianças mais velhas tendem a ser mais solidárias. Já as repostas de
manter a palavra foram em sua maioria fornecidas pelas crianças mais
novas. Com relação à classe social, podemos perceber que tanto da
escola particular quanto da escola pública houve praticamente uma
unanimidade em relação às respostas, onde optaram pela solidariedade. DADOS
RELATIVOS A MENTIRA: A relação entre a palavra empenhada
e a mentira teve como amostra 86
(oitenta e seis) informantes. A partir dos referenciais da análise de
conteúdo identificamos 18 variáveis nas respostas recebidas das crianças
entrevistadas:
A
distribuição concernente à idade tivemos como dados significativos
aproximadamente uma distribuição de 50% entre a idade apresentada
por Piaget para as idades aproximadas em que se desenvolvem a heteronomia
e a autonomia. As
respostas mais freqüentes encontradas na amostra:
Em linhas gerais podemos observar que a amostra tem uma distribuição de: “manter a palavra empenhada” (10,8%) e “não mentir” (52,7%). Mesmo nos casos em que a criança ou adolescente mantém a palavra, o valor “não mentir” é citado nas opções construídas pelos entrevistados. A distribuição da idade dos entrevistados em relação à manutenção da palavra ou não aponta para uma tendência das crianças mais novas manterem suas palavras enquanto que as mais velhas quebram com mais facilidade a promessa. Em relação à diferenciação de classe social que pode ser proposta em razão de se tratar de uma escola pública e outra particular, podemos observar que as crianças da escola particular tendem a manter a palavra, mesmo entre as mais velhas. Conclusões
preliminares: Os
resultados apontam para as características do trabalho de Jean Piaget,
porém há novas descobertas sobre a construção da moralidade da criança,
que são dimensionados a partir do novo contexto familiar e escolar
colocado pelo séc. XXI. Procurou-se
diagnosticar se a fidelidade à palavra empenhada seria um valor
importante para as crianças e adolescentes, o que foi confirmado
independentemente da faixa etária de acordo com os dados obtidos. Em relação à confirmação de uma psicogênese da
fidelidade a palavra empenhada em relação ao furto, os dados obtidos não
deixam transparecer uma relação direta dessa construção. Ainda que os
dados obtidos acerca das categorias piagetianas de coação e realismo
moral apontam neste sentido, os dados não podem mostrar a precisão
necessária a esta afirmação. Quanto ao tópico proposto originariamente de fornecer informações que divulguem aspectos da moralidade, com vistas a subsidiar os novos parâmetros curriculares nacionais para o ensino fundamental (ética como tema transversal), pode-se dizer que em relação aos subsídios gerados para a discussão da ética como tema transversal, acreditamos que as categorias obtidas através da análise das respostas são de grande valia para educadores que pretendam utilizar da discussão sobre ética nas escolas cacerenses. ___________BibliografiaBARDIN,
L. Análise
de conteúdo.
Lisboa: Edição 70, s/d. Parâmetros
curriculares nacionais: apresentação dos temas transversais: ética
/ Secretaria
de Educação Fundamental. – 2. ed. – Rio de Janeiro: DP&A, 2000. LA
TAILLE, I. Introdução In:
PIAGET, J. O juízo moral na criança. SP: Summus, 1994. MARCUSE,H.
Eros e civilização.
RJ:
Zahar Editores, 1968. PIAGET,
J. O juízo moral na criança.
SP: Summus, 1994. PIAGET,
J. Estudos sociológicos. RJ:
Forense, 1973. QUEIROZ,
M.I.P. Variações sobre a técnica
de gravador no registro da informação viva.SP: CERU FFLCH/USP, 1983. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *
As análises aqui apresentadas são originárias da proposição do
projeto de pesquisa apresentado à Universidade do Estado de Mato Grosso
em 2003 e desenvolvido em 2004. Os dados apresentados têm origem nos
relatórios de pesquisa apresentados pela equipe do projeto composta pela
coordenadora Josiane Magalhães e as bolsistas de iniciação cientifica:
Avenina R da Silva, Jucilene R. da Veiga, Lucélia A Machado e Patrícia A
O Silva .
[1] A equipe também se propõe, após a finalização do estudo, retornar às escolas envolvidas para apresentação dos dados e discutindo com professores e direção da escola, os principais aspectos da formação da moralidade infantil, bem como as possíveis alternativas de construção de autonomia junto aos educandos. Na escola pública envolvida a equipe já iniciou este processo oferecendo uma palestra aos professores, direção e coordenação apresentando as idéias de Piaget. [2] Na verdade as crianças e adolescentes sentiam-se alegres e estimulados a participar das entrevistas. Os nomes eram sorteados aleatoriamente, mas todos os alunos demonstravam interesse em participar, demonstrando-se receptivos às entrevistadoras. [3] Sobre este aspecto, seguindo a argumentação de Marcuse (1968), teríamos talvez a colocação de que a criança está sob o julgo maior do princípio de prazer do que sob o princípio de realidade, e neste sentido ainda não está submetida às regras sociais adultas de maneira incisiva. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Por
Por 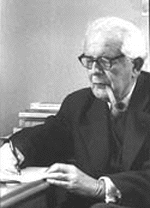 Introdução
Introdução