A Dupla Objetificação da Mulher em A
Escrava Isaura:
uma Amostragem do Poder Patriarcal
|
Resumo:
O
objetivo deste trabalho é analisar a personagem feminina Isaura,
do romance escrito por Guimarães, à luz dos estudos pós-coloniais
e feministas, focalizando a influência do sistema
patriarcal/imperialista na construção da personagem, bem como
evidenciando o papel secundário da mulher neste mesmo sistema.
Palavras-chave:
objetificação da mulher, patriarcalismo, imperialismo,
sujeito-objeto.
Abstract
The
double objectification of woman in A Escrava Isaura: a
glimpse into patriarchalism. The
aim of this paper is to analyze the female character Isaura based
on post-colonialist and feminist studies, focusing the influence
of imperialist and patriarchal system on the construction of the
character and also demonstrating the woman’s secondary role in
this system.
Key
words:
woman objectification, patriarchalism, imperialism,
subject-object.
|
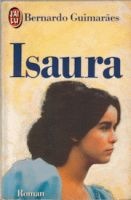 Introdução
Introdução
Nosso
trabalho aqui pretende abordar um assunto que, embora bastante discutido,
ainda é pouco explorado em nossa literatura. Novas teorias surgem, idéias
inéditas acerca de textos antigos aparecem como um resgate de ideologias
perdidas, podendo sugerir uma diversidade interpretativa, bem como a
imortalidade dos escritos. A teoria pós-colonialista vem lançar nova luz
sobre trechos obscuros da História e da Literatura, suscitando interpretações
inusitadas e abrindo caminho para novos autores e autoras, de todo o
globo, buscarem suas identidades e as mostrarem ao mundo sem sofrerem os rótulos
inferiorizados marcados pela supremacia da identidade ocidental sobre a
diferença.
A
literatura pós-colonial designa todo o registro literário produzido por
povos colonizados entre os séculos XV e XX. Ashcroft et al. (1998) também
consideram que o pós-colonialismo descreve as culturas que foram
influenciadas por processos de colonização imperialista que perduram até
a atualidade. O Brasil, país colonizado por portugueses, faz parte das nações
que sofreram e sofrem o estigma da colônia. Segundo Bonnici (2000) a
reflexão pós-colonialista ainda não chegou à literatura brasileira,
possivelmente pelo fato de a independência política ter ocorrido no início
do século XIX, fazendo com que a marca colonial desaparecesse da
literatura, ou seja, a literatura brasileira parece ter se desenvolvido
sem salientar seus traços coloniais, embora estes estivessem (e estão)
sempre presentes. No entanto, apesar de nossa literatura ser jovem e já
possuir uma certa tradição, é possível vislumbrar, em personagens de
obras brasileiras, a ideologia do homem branco, ocidental e imperialista
que veio para cá dominar uma terra inóspita e transformá-la em fonte de
riqueza para a metrópole, então Europa. É fácil perceber essa tendência
até mesmo em obras de autoria genuinamente brasileira, como se o homem
natural do Brasil houvesse absorvido a essência do ocidentalismo e a
considerasse a pátria da alma humana.
A
partir de tais pressuposições é que a crítica pós-colonialista pode
auxiliar na compreensão do imperialismo e suas influências. É
interessante comentar quais são as figuras mais afetadas diretamente por
este, digamos, modo de enxergar a vida e as relações humanas. No
caso do Brasil, à época de D. Pedro II, período em que se passam os
eventos relatados no romance de Bernardo Guimarães, destacamos três
personagens atingidas fortemente pelo espírito colonizador/imperialista:
o homem branco e rico, a mulher, seja em qual espaço estiver, doméstico,
urbano ou rural e o negro escravizado; no entanto há que se enfatizar que
foram atingidos de forma diferenciada. Como o estudo do pós-colonialismo
leva também ao questionamento do binarismo humano representado pelo
sujeito/objeto, poderíamos situar essas três personagens dentro deste
binarismo: homem branco e rico como sujeito; mulher e escravos como
objetos. Havendo neste último uma diferença marcante com relação à
espécie de objetificação.
A
opressão e a repressão que a sociedade colonial recebeu são decorrentes
de uma ideologia do sujeito. Segundo Sartre (apud Bonnici, 2000) o ser é
constituído como sujeito em relação a um outro, mas dependente de uma
reciprocidade, ou seja, em ocasiões diversas, sujeito e objeto tomam o
lugar do outro, num movimento dialógico de alteridade. Entretanto, esta não
é a forma em que as sociedades imperialistas pautaram suas relações
humanas; antes, optaram por se organizar numa hierarquia onde prevalece o
dominador (sujeito) sobre o dominado (objeto). A voz do discurso não
oscila entre sujeito e objeto, como presume Sartre; a voz é possessão do
colonizador.
Pretendemos
apresentar uma pequena análise da obra A Escrava Isaura, de
Bernardo Guimarães, escrita em 1875. Romance muito difundido no Brasil e
também no exterior, devido à teledramaturgia, a história focaliza o
drama da escravidão, representada, principalmente, por Isaura, escrava,
porém, moça educada e de traços brancos que vive perseguida por seu
senhor, Leôncio.
É
curioso notar que o autor, figura constante dos livros didáticos de
literatura, aparece como sertanista romântico, preocupado em descrever um
Brasil não-litorâneo e não contaminado pela cultura européia. Como se
isso fosse possível. A personagem de Leôncio, no referido romance, é um
retrato bastante fiel do que se conhece de um patriarca imperialista. É
exatamente neste ponto que a teoria pós-colonialista constitui-se em uma
nova estética pela qual os textos são interpretados politicamente,
baseando-se numa relação entre discurso e poder. Por isso, é deveras
difícil crer que seja possível a imagem de um senhor de escravos
desprovida de uma ideologia imperialista. Por mais que o romance não seja
ambientado nos centros urbanos do Brasil, da época em que foi escrito, e
sim no interior, numa fazenda, não significa que seus personagens estejam
totalmente livres de quaisquer influências européias.
A
figura de Isaura pode ser analisada sob dois aspectos: Isaura-escrava e
Isaura-mulher. Pretendemos mostrar de que maneira a figura feminina é
subalterna ao seu senhor, no que diz respeito ao seu papel duplamente
inferiorizado. Isaura é escrava, dentro de um sistema escravocrata aceito
pela sociedade com naturalidade; é submetida a uma educação refinada,
na casa grande, como devem ser todas as filhas de senhores de escravos,
fazendeiros ricos e poderosos; recebe, então, o rótulo da mulher branca.
Sob este prisma é que percebemos a dualidade da objetificação da mulher
na sociedade imperialista, onde o elemento masculino é dominante, e também
a impossibilidade de liberdade da mulher que, mesmo livre dos grilhões de
sua cor, que no caso de Isaura não faz diferença, pois a cor branca não
significa liberdade, devido à descendência negra, ainda é cativa de um
sistema social que aprisiona a mulher ao confinamento do lar e à servidão
ao esposo.
O
homem europeu foi, de alguma forma, convencido de uma superioridade sobre
as demais raças e/ou tribos. Tal ocorreu na época da colonização
brasileira em relação ao nativo encontrado aqui e, posteriormente, com
os escravos traficados da África que para cá foram trazidos para serem
simplesmente mão-de-obra escrava. O pós-colonialismo baseia-se,
portanto, no estudo da hegemonia européia e na tentativa de
erradicarem-se as dicotomias centro-periferia, eu-outro,
masculino-feminino, sujeito-objeto, dominante-dominado.
A
descolonização pelo discurso apresenta, primeiramente, uma revolta
contra a linguagem do colonizador. Depois, a contestação e
questionamento da centralidade européia geram um contra-discurso que
busca a libertação das amarras do estado de colônia. O questionamento
do cânone literário e a releitura de obras puramente colonialistas são
uma representação dessa resistência. Nossa análise é uma releitura da
personagem feminina, sob a ótica da teoria pós-colonialista,
centralizada na observação do papel da mulher como elemento opositor ao
masculino e escravizado.
Essa
pesquisa, apresentada em forma de análise de texto literário, tem caráter
bibliográfico e fundamenta-se na leitura de alguns estudiosos do Pós-colonialismo,
bem como da abordagem feminista acerca da relação entre discurso e
poder, em textos considerados pós-coloniais. Os autores mais consultados
para este trabalho foram Thomas Bonnici, J. Butler, Sergio Buarque de
Holanda, Homi Bhabha, Lúcia Osana Zolin, B. Ashcroft, G. Griffiths, H.
Tiffin, M. Castells e Gerda Lerner, com vistas a identificar o poder
patriarcal, imperialista na objetificação do sujeito, representada pela
personagem Isaura.
Uma
das contribuições mais profícuas da releitura e interpretação pós-colonial
é a possibilidade de repensar a cultura nacional após a retirada do
poder imperial, estabelecendo um contraste entre os períodos anterior e posterior à independência (Bonnici, 2000). A partir
dessas contribuições, a análise do texto sugerido, focalizando o papel
feminino duplamente submisso, vem buscar o preenchimento de lacunas e
tentar responder a questões que possibilitem a compreensão dos ideais
imperialistas e sua influenciação sobre outros povos e culturas.
Mesmo
que a literatura brasileira ainda não tenha sido, amplamente,
interpretada à luz do pós-colonialismo, não há como negar que toda a
nossa literatura seja marcada pelo colonialismo. O prisma teórico pós-colonial
contribui para que as obras sejam vistas e compreendidas de forma a
propiciarem soluções de problemas relacionados à alteridade, à oposição
entre sujeito e objeto e também à recuperação da voz do nativo, do
escravo e da mulher.
Patriarcalismo
X Feminismo
Segundo
Lerner (1993), o patriarcalismo teve início antes mesmo da formação da
civilização ocidental. De forma gradual, institucionalizou os direitos
dos homens na intenção de se apropriar e de controlar os atributos
sexuais e reprodutivos das mulheres, passando a estabelecer meios de
dominação, como a escravidão, e legitimando um sistema funcional de
relações hierárquicas, criando um verdadeiro conjunto de idéias. A
partir de então, dessa ordem social e ideológica, o homem se estabeleceu
como a norma e a mulher como a subversão. Daí a conseqüente inferiorização
do elemento feminino num sistema social que equiparou as funções domésticas
da mulher às dos escravos, desde a antiguidade greco-latina. Assim,
formou-se uma mentalidade em que os homens assumiram o papel patriarcal,
distribuindo entre si as funções sociais mais elevadas e de melhor
remuneração. O período medieval reforçou ainda mais essa inferioridade
de poder e de educação da mulher com relação ao homem, o que se
refletiu, posteriormente, na sociedade capitalista moderna com a
institucionalização, por exemplo, de colégios não-mistos, no início
do século XX.
O
fato de as sociedades, por séculos, terem criado uma mentalidade de que o
gênero masculino é superior levou a uma censura da sexualidade feminina,
que tem como alvo a satisfação da psique masculina, a qual domina o
patriarcado. Em tal organização social a condição humana identifica-se
com a condição masculina, ou seja, o referencial de vida respeitado e
aceito por todos é aquele do homem adulto do sexo masculino.
Possivelmente, esta é uma das primeiras relações conflitantes entre o
sujeito e o objeto, pois antecede mesmo o colonialismo e, posteriormente,
os estudos pós-colonialistas.
Com
relação ao Brasil e à literatura brasileira, como é o caso da análise
sugerida por este trabalho, é interessante ressaltar que o patriarcalismo
teve caráter dominante no povo brasileiro. Segundo Holanda (1995) tal
elemento teve sua origem no meio rural, onde o poder se concentrava de
forma absoluta no senhor de engenho, que era a autoridade máxima. A
partir de então, passou-se a acreditar que o patriarcalismo fornecia o
melhor modelo de vivência e harmonia social. Acabou, portanto, sendo
transferido ao meio urbano ao passo que as cidades prosperavam.
“Representando, como já se notou acima, o único setor onde o princípio
de autoridade é indisputado, a família colonial fornecia a idéia mais
normal do poder, da respeitabilidade, da obediência e da coesão entre os
homens”. (HOLANDA, 1995, p.82).
Na
obra literária, corpus deste trabalho, o patriarcalismo está bem
retratado na figura de Leôncio, fazendeiro rico e poderoso, senhor de
escravos e de si mesmo, que não se curva à vontade de ninguém, nem
mesmo de quem mais deseja, Isaura. Todos os eventos, engendrados por ele
ou não, concorrem consoante a vontade e o arbítrio caprichoso despótico
do patriarca. Tais falas comprovam este poder:
-
E apresentá-las de joelhos!... Essa é galante!... Se continua nesse
papel de galã, declaro-lhe que o ponho pela porta fora com dois pontapés
nessa corcova. (GUIMARÃES, 1988, p. 18)
É
característica comum e freqüente, nos personagens que se enquadram como
patriarcais ou como reflexos do patriarcalismo, atributos como o proceder
sisudo, a gravidade do olhar e da voz, o termo honrado como
ornamentos que engrandecem o escudo masculino nos possíveis confrontos
com o seu opositor, seja este representado pelo subalterno (empregado,
servo, escravo ou mulher) ou por qualquer outro representante de sua
classe.
Em
Leôncio, o fato de deter uma posição de relevo propicia-lhe um
sentimento de superioridade, radicalizado por ele numa intensa prepotência,
como que a configurar-lhe o caráter:
O
violento e cego amor que Isaura lhe havia
inspirado, incitava-o a saltar por cima de todos os obstáculos,
a arrostar todas as leis do decoro e da honestidade, a esmagar sem
piedade o coração de sua meiga e carinhosa esposa, para obter satisfação
de seus frenéticos desejos . Resolveu, pois, cortar o nó, usando de
sua prepotência e protelando indefinidamente o cumprimento de seu
dever, assentou de afrontar com cínica indiferença e brutal
sobranceria as justas exigências
e exprobações de Malvina.
(GUIMARÃES, 1988, p. 30)
Esta
passagem dá mostras claras da impertinência e do poder abusivo da figura
patriarcal representada por Leôncio. O que houvesse em jogo, fosse
relativo aos seus desejos mais prementes, era posto à frente de qualquer
pensamento ou atitude honrosa. Nem mesmo a vergonha, a ameaça à sua
reputação desviava seu caráter dos infaustos intentos.
Em
contraposição aos arrombos irrefreáveis do excessivo poder masculino e
patriarcal encontramos tendências do movimento feminista. Analisando seu
histórico, Castells (2000) percebe a grande diversidade de um movimento
social. De acordo com suas considerações, esse movimento social
transformador lança as bases fundamentais do questionamento ao
patriarcado, principalmente no ocidente. Tal movimento vem a ser decisivo
na mudança de valores e de práticas sociais entre os gêneros.
Apresentou-se como oponente à dominação masculina e buscava, em tese, a
redefinição da identidade da mulher.
Tal
busca se deu através principalmente da afirmação de igualdade entre
homens e mulheres, procurando separar do gênero diferenças biológicas e
culturais. Percebemos, então, que essa busca das mulheres é uma forma de
construção de uma identidade que fosse capaz de restabelecer sua posição
dentro da sociedade. Nesse sentido, a oposição se dirige ao
patriarcalismo e à família patriarcal.
Segundo
Butler (2003, p. 208), “(...) compreender a identidade como uma prática,
e uma prática significante, é compreender sujeitos culturalmente inteligíveis
como efeitos resultantes de um discurso amarrado por regras, e que se
insere nos atos disseminados e corriqueiros da vida lingüística”.
Ainda de acordo com suas considerações, o que vem a ser tarefa crucial
do feminismo não é instituir um ponto de vista fora das identidades já
construídas: deve, antes, buscar combater as estratégias imperialistas
que renegam a sua inserção da cultura.
O
patriarcalismo e o feminismo aparecem até aqui como um movimento de
resgate da identidade feminina. Exatamente onde é que este último se
entrelaça ou se encontra com a teoria pós-colonialista, fundamentadora
desta análise? Às vezes parece não haver muita coisa em comum, porém
analisando mais a fundo percebemos que há uma interatividade entre os
dois discursos. Segundo Bonnici (2000, p.153-154) “o discurso e as
teorias pós-colonialistas tiveram não apenas uma grande repercussão
sobre a reflexão literária do cânone europeu, mas influenciaram o
discurso feminista que por si, não estava relacionado ao pós-colonialismo,
contudo, os indícios do feminismo no final do século XVIII (...)
aconteceram sintomaticamente no auge do imperialismo britânico”.
Ainda de acordo com Bonnici (2000), autoras e autores feministas passaram
a usar os conceitos de voz, linguagem, discurso, imitação e silêncio no
intuito de investigar o discurso entre a mulher e o patriarcalismo.
Vale
ressaltar aqui que há várias espécies de feminismo. Apesar das décadas
de 60 e 70 do século XX terem sido fundamentais para a difusão ideológica
da teoria feminista, a atitude essencialista do movimento majoritário, no
globo, partia do ponto de vista da mulher ocidental, branca e de classe média.
O que significa que outras classes e raças ficaram à margem dessas
lutas. Spivak (1985) incorpora ao discurso feminista as questões de gênero,
raça e classe, a fim de demonstrar que, em todo o mundo, houve diversos
feminismos, isto é, os motivos e estímulos que incentivaram a mulher
ocidental, foram, em certas instancias, muito diferentes dos da mulher
oriental. Também coloca em evidência a questão da mudez do sujeito
colonial e da mulher subalterna, em que ambos são destituídos do espaço
a partir do qual poderiam se manifestar.
Segundo
Bonnici (2000) há duas fases que caracterizam os objetos feministas: uma
primitiva e uma madura. Na fase primitiva, o objetivo é a recolocação
da mulher inferiorizada, numa ação de desafio à hegemonia patriarcal.
Na fase madura há diversos objetivos, entre os quais estão a descoberta
dos verdadeiros critérios que o cânone utiliza para arrolar obras e
escritores e, em seguida, questionar esses critérios; a reconstrução do
cânone literário e transformação das estratégias de leitura para
todos os textos, embora enfrentando muitos obstáculos devido à resistência
academicista ainda dominada pelos patriarcalismo e pelas estruturas
machistas .
É,
pois, pensando nestas considerações de forças antagônicas, que
enxergamos com olhos pós-coloniais, isto é, por um lado visualizando o
poder patriarcal e, por outro, vislumbrando a reação da voz feminista, a
inserção da personagem Isaura, com toda a carga escravocrata e de servidão,
nos moldes da teoria pós-colonialista.
 Isaura
escrava: o retrato da mudez
Isaura
escrava: o retrato da mudez
Sem
dúvida, a primeira impressão ao reler esta obra (jamais a teria no tempo
da primeira leitura, ainda no colegial) foi de uma extrema mudez em relação
à protagonista de Bernardo Guimarães. Isaura, embora o narrador dê
livre acesso aos leitores dos pensamentos da personagem, não parece
experimentar nenhum momento de total liberdade de espírito. A todo
instante age como submissa à sua condição e renega todas as dádivas e
talentos, por julgar serem as causas de seu sofrimento.
Friamente
analisando essas condições, assim poderíamos descrevê-las: nascida
escrava, de cor branca, de beleza incomparável, adotada pela senhora da
casa grande,
A
partir desta descrição, podemos entrever características próprias e
tendências comuns às atitudes das personagens escritas pelo narrador,
imbuídas da essência colonialista. O nascimento de Isaura já denota o
caráter híbrido de sua raça e, conseqüentemente, de sua beleza. Na
verdade, sendo filha de uma negra e de um branco, interpreta-se que Isaura
possui traços brancos. Sua beleza provém exatamente dessa mistura, que,
ao colonizador europeu, surge como um elemento exótico. A cor mulata,
decorrente desse hibridismo, é objeto de desejo do homem europeu,
transformando-se, inclusive, em motivação de contendas e espoliação. A
beleza notável de Isaura pode ser comparada à beleza da América, ao ser
vislumbrada pelos europeus: terra indomável, virgem, cheia de tesouros
naturais e fontes promissoras de riquezas. A visão de um paraíso
terrestre e tropical incitava o espírito ambicioso do colonizador. Assim
era o poder que a beleza híbrida de Isaura exercia sobre os homens
brancos.
A
condição de escrava, desde o nascimento, configura-se numa atitude de
tripla discriminação: classe, raça e gênero. O negro era visto como
ser inferior, próximo aos animais e, desta forma, jamais lhe seria
concedida a possibilidade de mobilidade social. A estratificação da
sociedade escravocrata não reservava espaço ao negro, nem mesmo na base
da pirâmide.
O
fato de Isaura ter sido educada na casa grande, com todas as regalias, não
significa que houvesse uma mudança radical em seu tratamento: ela
continuava escrava e mucama. A mãe de Leôncio a adota, sem que isso lhe
causasse perturbações, porque Isaura tinha pele branca. É provável
que, se as características lhe fossem outras, mais próximas à raça
negra, a menina nem tivesse acesso à casa grande.
Percebemos,
portanto, a magnitude do espírito de Isaura que, apesar de todas as
vantagens concedidas a ela, em sua condição de escrava, não era capaz
de encontrar alegria e bem-estar em privilégios de ordem material. Sua
maior grandeza interior repousa sobre essa qualidade excelsa de ser: o caráter
despojado das armadilhas e tentações do convívio social elevado.
Entretanto, esse caráter sublime e extremamente submisso é o principal
causador de sua vulnerabilidade. Aparentemente, Isaura, ao nascer, foi
investida de um manto angelical que a concedeu extrema beleza e doçura
que fazem da sua personalidade um escudo contra as vicissitudes das relações
humanas, ou seja, a sua única fortaleza são os sentimentos puros e intocáveis
que carrega dentro de si. Devido a isso, poderíamos supor que a
personagem apresenta-se ao leitor como condenada e livre ao mesmo tempo;
no entanto, a liberdade só existe no âmago dos mais profundos anseios de
Isaura. Daí a expressão escudo.
Partindo
desse pressuposto é que podemos enxergar a exterioridade da personagem,
no que concerne aos tratamentos recebidos pelos outros semelhantes e
superiores, isto é, conhecendo o íntimo de Isaura, é possível
compreender de onde retira a força para suportar as humilhações e os
sofrimentos causados por aqueles que a desejam dominar.
Analisando
os eventos ao redor de Isaura, podemos encontrar as características mais
comuns do patriarcalismo na personagem de Leôncio, seu senhor. Fazendeiro
poderoso, carrega no íntimo um amor tresloucado por Isaura que o faz agir
de forma indecorosa, não mais se incomodando com as convenções sociais,
pois deixa que sua esposa o abandone, sob os maiores sofrimentos, e ainda
se apraz do fato de deixar o caminho livre para executar seus planos em
relação a Isaura. Leôncio encarna todo o mal que pode advir de sua posição;
é autoritário, déspota, livre de sentimentos altivos. As atitudes de Leôncio
para com Isaura fazem um paralelo entre o controle do colonizador sobre a
colônia e o do patriarcalismo sobre a mulher. A maneira com que o
colonizador tratava dos interesses da colônia pode ser descrita como um
movimento de cima para baixo e apenas nessa direção. Algo semelhante
pode ser dito a respeito do homem para com a mulher: não se posicionavam
no mesmo patamar, denotando relações pautadas na desigualdade.
Leôncio
exerce, portanto, um duplo poder sobre Isaura: representa o patriarca e
também o colonizador. Como há estreita ligação entre o pós-colonialismo
e o feminismo, no que diz respeito à busca e resgate da identidade
perdida do colonizado e da mulher, percebemos que Isaura é análoga à própria
colônia. Na verdade, a realidade interior dos personagens reflete a
realidade pública da sociedade patriarcalista retratada no romance, e
que, de certa forma, não deixa de estar condizente com a realidade vivida
pelo autor, pois a obra foi escrita em 1875, antes da abolição da
escravatura. Segundo Bonnici (2003, p. 213), “Na história do Brasil, a
mulher sempre foi relegada ao serviço do homem, ao silêncio, à dupla
escravidão, à prostituição ou a objeto sexual. Na literatura, muitos são
os romances que representam, através de suas personagens femininas, essa
situação”. A Escrava Isaura é, sem dúvida, um desses
romances.
Desde
que o pai o deixara para tomar conta da fazenda e fora embora para a
corte, Leôncio se tornou o dono incontestável de todos que ali estavam.
O casamento com Malvina fora combinação entre os pais de ambos,
entretanto aceito com gosto pelos noivos. Já casados há pouco mais de um
ano, porém ainda sem filhos, o casal levara vida tranqüila até que o
coração de Leôncio viesse a se inflamar com um sentimento nebuloso em
relação à Isaura. O desenlace inicial de Leôncio e Malvina marca o
princípio dos sofrimentos mais agudos da escrava, pois já não mais
podia contar com a proteção da presença da esposa que, até certo
ponto, intimidava as investidas de Leôncio. A partir de então, ele
estava livre para agir do modo que lhe conviesse para com sua cativa.
Nos
momentos em que Leôncio a importuna, percebemos claramente as tendências
colonialistas/imperialistas, herdadas da estrutura sócio-familiar
legitimada pela sociedade da época. Leôncio toma para si todo o poder
que sua posição lhe permite:
-
Cala-te, escrava insolente! – bradou, cheio de cólera. - Que eu
suporte sem irritar-me os teus desdéns e repulsas, ainda vá, mas
repreensões!... Com quem pensas tu que falas?... (GUIMARÃES, 1988, p.
35)
Isaura,
nestes instantes, sempre se mostra submissa e consternada. Aceita a sua
condição sem reclamar do seu destino. Mesmo quando responde ao seu
senhor, escolhe as palavras mais brandas, os meios mais suaves de
protestar contra as investidas de Leôncio. A atitude tão mansa de Isaura
evidencia que a moça fora educada e preparada para aceitar com resignação
as imposições sociais que lhe diziam respeito, por sua condição de
escrava e também de mulher. A maneira como a mãe de Leôncio a criou foi
um reflexo da educação que ela mesma recebera quando jovem. Seria improvável
que uma criação branda e reta produzisse um espírito conturbado e
rebelde. Isaura, realmente, não tinha motivos suficientes para revolta.
Muito superficialmente localizamos indícios de resistência e/ou
rebeldia. Nestas passagens a seguir podemos ver Isaura nestes dois
momentos, ou seja, num momento de extrema servidão e, posteriormente, num
momento de efêmero protesto, que, nem por isso, lhe concede a voz do
outro numa tentativa de suprimir a voz do sujeito do discurso patriarcal,
então Leôncio:
-
Perdão,
senhor!... – exclamou Isaura, aterrada e arrependida das palavras que
lhe tinham escapado.
-
E,
entretanto, se te mostrasses mais branda comigo... mas não; é muito
aviltar-me diante de uma escrava; que necessidade tenho eu de pedir
aquilo que de direito me pertence? Lembra-te, escrava ingrata e rebelde,
que em corpo e alma me pertences, a mim só e a mais ninguém. És
propriedade minha; um vaso que tenho entre as minhas mãos e que posso
usar dele ou despedaçá-la ao meu sabor.
-
Pode
despedaçá-lo, meu senhor; bem o sei; mas por piedade, não queira usar
dele para fins impuros e vergonhosos. A escrava também tem coração, e
não é dado ao senhor querer governar os seus afectos.
-
Afectos!...
Quem fala aqui em afectos!? Podes acaso dispor deles?...
-
Não,
por certo, meu senhor; o coração é livre; ninguém pode escravizá-lo,
nem o próprio dono.
-
Todo
o teu ser é escravo; teu coração obedecerá, e, senão cedes de bom
grado, tenho por mim o direito e a força... mas por quê? Para te
possuir não vale a pena empregar esses meios extremos. Os instintos do
teu coração são rasteiros e abjectos como a tua condição; para te
satisfazer, far-te-ei mulher do mais vil, do mais hediondo dos meus
negros. (GUIMARÃES, 1988, p. 35)
O
diálogo acima mostra, de maneira evidente, o uso do poder sobre o
subalterno. Para Leôncio, nem mesmo o coração de Isaura é livre; todo
o seu ser e alma lhe pertenciam. É claro que, nós leitores sentimos que
Leôncio tem consciência de que é impossível obrigar alguém a amar;
mas é justamente esta impotência que o faz utilizar todos os subterfúgios
que o poder masculino imperialista lhe concede. É buscando na
materialidade a satisfação de seus desejos insanos que Leôncio aplaca a
fúria de um sentimento vil, cunhado por sua personalidade arrogante e
pusilânime. Isaura, por sua vez, procura abrandar o coração do seu
senhor, mas percebe a impossibilidade de tocá-lo e resigna-se. Tenta
impor-lhe a verdade de que jamais terá seu coração, pois até mesmo um
dono não pode comandá-lo. São esses os momentos em que a personagem
busca a voz perdida do outro, colocado em posição de objeto, porém
acaba por provocar a indignação de Leôncio, levando-o a atitudes
extremas.
É
possível, apesar de serem apenas nuances, perceber traços do que Bhabha
(1984, apud Bonnici, 2000) chama de a recuperação da voz do nativo, ou
seja, da voz do outro. Segundo o estudioso, o subalterno pode falar e sua
voz pode ser resgatada através da paródia, da mímica ou da cortesia
ardilosa que tendem a ameaçar a autoridade colonial, neste caso
representada pela figura patriarcal de Leôncio. Para Fanon (1990, apud
Bonnici, 2000) e Ngugi (1986, apud Bonnici,
2000) o colonizado começa a ter voz somente no momento em que se torna
politicamente consciente e confronta o seu opressor. Na verdade, não
percebemos em Isaura este confronto em relação a Leôncio. O que é possível
vislumbrar são pequenos focos de resistência pela sua condição, porém
ainda revestidos de um temor quase mortal em se rebelar contra o sistema
no qual nasceu e foi criada. A fala de Isaura parece estabelecer uma
ruptura entre a escrava e a mulher. Mostra-se submissa como escrava, nada
clamando para si, demonstrando poder suportar qualquer penúria,
entretanto, como mulher, uma voz lhe surge para suplicar que seu corpo não
seja utilizado para “fins impuros”. Entre outras vezes em que Isaura
confronta-se com seu oponente, as falas relacionadas às investidas de seu
dono contra seus brios de mulher são as mais significativas, no que
concerne à recuperação da voz do subalterno.
Parece-nos
que Isaura espera por uma mudança radical, não necessariamente na sua
condição de escrava, mas na esperança de se livrar de Leôncio, único
ser que realmente ameaça sua paz interior. Temos a impressão, durante
toda a leitura do romance, que não é a escravidão nem a sua condição
de mulher que a faz infeliz, e sim o fato de pertencer a alguém com os
objetivos nefastos de seu dono. Inicialmente porque a personagem de Isaura
é apresentada ao leitor de maneira bastante solene, parece não sofrer
por causa da escravidão e sim por ser perseguida por um tirano. Isaura
demonstra tristeza ao lembrar dos suplícios sofridos pela mãe e também
pela ausência da mesma. No entanto, ao mesmo tempo, sente grande ternura
ao pensar na felicidade de ter sido criada pela esposa do comendador. Isso
nos dá a nítida impressão de que, se não fora por Leôncio, sua vida
seguiria tranqüila e normalmente. Por isso é que voltamos a constatar
que a personagem Isaura não chega a instaurar-se no processo de agência,
pelo qual Fanon (1990, apud Bonnici, 2000) e Ngugi (1986, apud Bonnici,
2000) descrevem que o oprimido é capaz de executar uma ação livremente,
transpondo os obstáculos na construção de sua identidade.
Todas
as tentativas de mudança ou de resistência não provêm diretamente de
Isaura; são os outros personagens que se apiedam da sua condição e
procuram meios de ajudá-la. Citamos Malvina, esposa de Leôncio, que pede
por sua alforria, várias vezes, primeiro, antes de ter conhecimento do
amor que Leôncio nutre pela escrava, por condoer-se da situação da moça
que era doce e não merecia continuar cativa, uma vez que fora educada
finamente e também por ser desejo da mãe de Leôncio que Isaura fosse
libertada após sua morte; porém, em segunda instância, já a par dos
sentimentos nefandos de seu marido, Malvina exige a alforria da escrava
como condição preliminar de sua permanência na casa, como esposa.
Citamos também, Miguel, pai de Isaura, que tenta comprá-la por uma
quantia absurda, estabelecida ainda pelo pai de Leôncio, numa atitude
caprichosa de mantê-la cativa. Todas foram, portanto, tentativas infrutíferas,
pois Leôncio soube se safar de todos os embaraços, mesmo perdendo o
decoro.
O
pai de Isaura engendra a fuga dos dois para o nordeste e a realiza. Esta
passagem também denota a inatividade da personagem de Isaura: a idéia não
advém dela, e sim do pai, e todos os arranjos para o sucesso da empresa são
feitos por ele; Isaura simplesmente aceita os planos e acata a proteção
de Miguel, mas não participa ativamente dos eventos, ou seja, tudo é
preparado pelo pai. Os únicos instantes em que pensa em agir, antes da
fuga, é no sentido de por fim à própria vida, numa atitude covarde de
desespero, por estar presa por grilhões ao tronco. Tal impulso evidencia
uma fragilidade imensa, pois ao mesmo tempo em que se mostra forte, devido
aos seus sentimentos sublimes e à sua altivez de caráter, ela aparece
como um ser fraco e suscetível a atitudes extremadas, quando seu
sofrimento passa, além do moral, para o físico.
É
bastante compreensível que o sofrimento físico lhe fizesse ter ímpetos
a acabar com a própria vida. Não foi criada como as outras escravas; não
sentiu as durezas do trabalho pesado; não escutou os impropérios do
feitor, nem mesmo o açoite nas costas. Toda a sua educação foi em prol
de prepará-la para uma vida de sinhá, afinal tinha todos os
atributos em seu favor, inclusive, a cor da pele. Portanto, é mais do que
previsível que a personagem agisse em concordância com a criação
recebida.
Por
tais comportamentos é que enxergamos em Isaura, na construção da
personagem, apenas traços distintivos na relação entre sujeito e
objeto; traços ou mesmo pistas de que o objeto, o outro pode ter voz, mas
que ainda não se encontra com forças o bastante para dar passagem aos
ecos dessa voz; é como se estivesse em estado de latência.
 Isaura
Mulher
Isaura
Mulher
O
outro aspecto a ser abordado por este artigo é outro meio de objetificação
do sujeito: a condição feminina de Isaura. Inicialmente, falamos de como
Isaura é apagada diante do seu senhor, de como se posiciona tal objeto
sem voz perante sua condição de escrava.
Mesmo
tendo nascida escrava, negra e pobre, Isaura teve educação primorosa,
isto é, no sentido do que se entendia por educação apropriada a uma
jovem branca e de certa posição social. Recebeu instrução e meios de
garantir, após alforria, e uma posição razoável a partir de algum bom
casamento. Era essa a intenção da mãe de Leôncio ao criá-la com tanto
esmero. No entanto, a morte ceifou-lhe os desejos de encaminhar a sua
menina a um bom partido e apenas deixou a Malvina e Leôncio sua vontade
de vê-la livre. Bem, até então, o que Isaura recebera foi exatamente a
suposta educação própria das moças de família, ou seja, a
educação para o matrimônio, a educação para a servidão ao marido. Além
das letras e de alguma poesia, eram incluídas lições de francês, de
piano e de prendas domésticas, tais como o bordado, o crochê, a costura.
A isso era reduzida a educação das moças, acrescentando-se, no máximo,
os ensinamentos religiosos e alguma leitura de romances ingênuos que
apenas reafirmavam a estrutura familiar patriarcal. Leituras edificantes
que aguçassem a inteligência feminina eram proibidas às moças por,
talvez, causarem sentimentos rebeldes que as levassem a atitudes
desonrosas. Era um ato de preocupação dos pais ou dos maridos controlar
as leituras e as amizades das moças.
Segundo
Zolin (2000) as categorias usadas para descrever o comportamento feminino
frente aos padrões estabelecidos pela sociedade patriarcal são as
denominações de mulher – sujeito e mulher- objeto.
Tentaremos, então, situar a personagem Isaura em uma dessas denominações,
ou se ela pode oscilar entre elas, pela análise do seu comportamento no
decorrer dos eventos que contam a sua história.
A
mulher-sujeito é aquela caracterizada pela insubordinação, pela
subversão da ordem dos padrões estabelecidos, pelo seu poder de decisão
e de imposição da sua vontade. A mulher-objeto é marcada pela
resignação, pela conformidade de sua condição inferior, definindo-se
pela submissão e subserviência, conseqüentemente desprovida de voz. (Zolin,
2000)
Não
é difícil chegar à conclusão de que Isaura se enquadra, quase
perfeitamente, nas características que
moldam a mulher-objeto. Em decorrência de sua aceitação, de seu
conformismo e de sua passividade é que as relações de poder permanecem
inalteradas. Isaura, mesmo tendo a sorte de encontrar um jovem que a ame
de verdade, com sentimentos puros, que a quer livrá-la do jugo de Leôncio,
não deixa de mostrar-se o resultado da educação alienante que recebeu.
Nesta passagem, fala a Álvaro, jovem escolhido de seu coração, a quem
destina as últimas esperanças de um futuro promissor:
-
Ama-me,
e é essa idéia que ainda mais me mortifica !... De que nos serve esse
amor, se nem ao menos posso ter a fortuna de ser sua escrava e devo, sem
remédio, morrer entre as mãos do meu algoz... (GUIMARÃES,
1988, p 72)
Vejam
que ser a mulher do homem amado significa ser sua escrava. Por mais
que o narrador quisesse apenas dar um sentido romântico ao termo escrava,
ele está sempre carregado da acepção negativa perpassada pelo regime
escravocrata imperialista: escravo é alguém que está absolutamente
sujeito a outrem. A mulher, de certa forma, é escrava de seu próprio
sentimento pelo homem e, posteriormente, se faz escrava na subserviência
do sagrado matrimônio, fruto do sistema patriarcalista. É nesse sentido
que Isaura apresenta-se duplamente colonizada; escravizada pelo sistema e,
ao mesmo tempo, pelos parâmetros da sociedade patriarcal.
De
acordo com Zolin (2000), a crítica feminista mostra, ao longo da história
literária, o fato recorrente de obras canônicas que representam a mulher
em estereótipos culturais, tais como: a mulher megera, a mulher sedutora
e imoral, a mulher anjo sempre pronta a se sacrificar pelos outros. Há vários
exemplos em nossa literatura. Queremos destacar o tipo cultural
representado por Isaura, a mulher como anjo, indefesa e capaz de sacrifícios
em favor dos que a cercam. É interessante notar que a essa representação
tradicional da mulher subjaz uma conotação positiva, pois não ofende
aos princípios norteadores do patriarcalismo, enquanto que os estereótipos
de sedutora, perigosa, imoral ou megera sempre trouxeram uma conotação
negativa; demonstram as lutas, interiores ou exteriores, no intuito de se
livrar das amarras da inferioridade a que o sistema patriarcal relegou a
mulher.
Conclusão
Após
tantos anos conhecendo a história de A Escrava Isaura, é bastante
engrandecedor o que a teoria pós-colonialista nos permite vislumbrar nas
obras de nossa literatura brasileira. Os estudos pós-coloniais podem
possibilitar a abertura dos olhos, na busca de outros horizontes em
relação a textos já conhecidos, textos que figuram na literatura
escolar do país e que, no entanto, alguns ainda apresentam interpretações
como se fossem livres de quaisquer ideologias, principalmente em livros
didáticos. É de tamanha ingenuidade pensar que a literatura brasileira não
traz, em seu bojo, alguma influência européia, do centro literário. Por
mais que autores, em diferentes movimentos literários, tenham buscado se
libertar dos ditames da metrópole, é clara a imposição ideológica
imperialista que moldava a sociedade até alguns séculos atrás. Ora,
nosso país é ainda jovem; nossa história é recente na cronologia do
mundo e quando falamos dessa literatura escolar, a obra retratada neste
artigo é um exemplar de características e padrões comuns à época em
que foi escrita, século XIX.
A
partir dessas considerações, de cunho pós-colonialista, é que pudemos
reler A Escrava Isaura, focalizando sua protagonista, procurando
demonstrar como a personagem feminina aparece escravizada de duas formas
distintas; uma forma biológica, porém determinada por um regime partidário
escravista e outra forma, de caráter social, determinada pelos padrões
institucionalizados da sociedade patriarcal.
Isaura
é, sem dúvida, retrato fiel da mulher do século XIX, subordinada aos
parâmetros sociais vigentes, que não busca, no decorrer do romance, se
livrar das correntes que a prendem a uma estrutura alienante. Busca, sim,
se libertar da condição biológica que a faz escrava, ainda sob o jugo
de Leôncio, pois só deste deseja se livrar. No entanto, a única forma
legal de libertar Isaura de Leôncio é arrematando-lhe os bens em dívida,
o que faz Álvaro e, desta forma, Isaura passa de propriedade de Leôncio
para possessão de Álvaro. É claro que há o elemento romance na obra,
representado pelo amor entre Isaura e Álvaro, mas também não há como
negar a tamanha conveniência dessa transação ao final do romance.
Isaura continua passiva e os eventos lhe acontecem de maneira favorável a
que se veja livre do algoz Leôncio, porém, uma vez alforriada, permanece
atada aos laços que a unem a Álvaro e a toda uma estrutura familiar
patriarcal que vai constituir com o casamento.
Sem
dúvida que, ao pensarmos em Isaura representando a colônia, essa
colonização é a causa de sua objetificação, tanto pela classe, como
pela raça. É em decorrência de uma ideologia do sujeito, onde o eu
sobrepõe-se ao outro, que fenômenos sociais como este puderam ter
lugar tão privilegiado entre as sociedades. Spivak (1985) fala sobre a
ausência de voz no sujeito colonial e também na mulher subordinada. É
claro que, somente a partir de uma conscientização existencial, o outro
poderá resgatar a sua voz, espoliada há tempos pelo colonizador. A
partir dessa nova consciência, processos de resistência e reversão da
situação sujeito/objeto podem ser instaurados. As estratégias de resistência
ao colonialismo e as suas influências na formação de uma sociedade
podem ser o caminho para a subversão radical do eurocentrismo e para a
construção da alteridade como sujeito.
 Por CRISTINA HELENA CARNEIRO
Por CRISTINA HELENA CARNEIRO 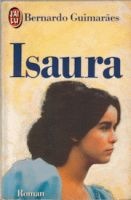 Introdução
Introdução Isaura
escrava: o retrato da mudez
Isaura
escrava: o retrato da mudez Isaura
Mulher
Isaura
Mulher