|
|
Mestre
em História Social pelo Programa Associado de Pós-Graduação em História
UEM/UEL. Autor de O Senhor das Letras: O Antigo Regime e a Modernidade
na literatura voltaireana. Maringá: Eduem, 2000.
____________
|
A
narrativa histórica em debate: algumas
perspectivas
O
que a moderna teoria lingüística demonstra é que as palavras não
passam de coisas entre outras coisas no mundo, que elas sempre haverão de
obscurecer tanto quanto aclarar objetos que pretendem significar, e que,
portanto, todo sistema de pensamento elaborado com a esperança de idear
um sistema de representação neutro está fadado à dissolução quando a
área de coisas que ele remete à obscuridade emerge para insistir em seu
próprio reconhecimento. (White,
1994, p. 255) Certamente,
para Foucault a constatação da opacidade das palavras remete à própria
impossibilidade de existência das ciências humanas, dado que o homem,
como objeto de estudo, seria apenas uma “dobra” no saber moderno que
“desaparecerá quando este houver encontrado uma forma nova” (Foucault,
1981, p. 13). Enfim, a arbitrariedade das opções epistemológicas que
produzem um paradigma dito científico, na perspectiva foucaultiana,
reflete a arbitrariedade da ligação entre significantes e significados
no interior dos signos lingüísticos, e indica a falta de uma base perene
sobre a qual um saber poderia ser estabelecido. Segundo
Roger Chartier (1994), outro ataque aos saberes modernos, também
fundamentado na lingüística saussuriana, tem origem nos Estados Unidos e
busca eliminar os vínculos entre a História e as Ciências Sociais. Para
compreender corretamente essa ofensiva, antes é preciso lembrar uma das
idéias-chave da teoria de Saussure, ou seja, a de que a linguagem é um
sistema dotado de grande autonomia diante de seus portadores singulares,
os quais são os sujeitos de suas respectivas falas, mas não da própria
língua como um todo[1],
uma vez que esta se constitui numa estrutura eminentemente impessoal. Ora,
radicalizando esse pressuposto de que toda enunciação discursiva possui,
em sua estrutura, características que extrapolam a vontade de seu autor
individual, os adeptos do chamado linguistic turn consideram
importantes unicamente os aspectos lingüísticos do discurso, e centram
sua análise no modo como os mecanismos da língua responsáveis pela
produção de sentido atuam em cada caso particular. O corolário disto
tudo pode ser resumido na idéia de que os discursos são, por mais
estranho que pareça, enunciados sem sujeitos. Nas palavras de Roger
Chartier, os responsáveis pelo lingustic turn propõem que a
construção do sentido é assim separada de qualquer intenção ou
controle subjetivos, já que ela é atribuída a um funcionamento lingüístico
automático e impessoal. A realidade não mais deve ser pensada como uma
referência objetiva, exterior ao discurso, pois que ela é constituída
pela e dentro da linguagem. (Chartier,
1994, p. 104) Desse
modo, a autoreferencialidade da linguagem implicaria que são os discursos
que “falam” por meio de seus enunciadores, e que só é permitido
apelar para a noção de sujeito caso se tenha em mente que ela diz
respeito a um mero artifício gerado pela “maquinaria” da língua,
pois, em suma os “atos lingüísticos [dos usuários da linguagem] podem
apenas exemplificar as regras e procedimentos das linguagens que eles
habitam mas não controlam” (Toews, citado por Chartier,
1994, p. 104)[2]. Mesmo
para aqueles que não endossam plenamente as assertivas foucaultianas –
que estão entre as bases do pensamento pós-moderno – ou as proposições
do linguistic turn, elas permanecem como um desafio
constante a exigir por respostas que não se limitem a somente negá-las
sem levar a sério os problemas que elas colocam a todos que se ocupam, de
alguma forma, com a linguagem. Em se tratando da História, que tem de
lidar com os elementos discursivos presentes tanto em seus documentos
quanto na forma de exposição de seus resultados, as preocupações com
os componentes lingüísticos têm se manifestado de diversos modos,
sobretudo nas reflexões acerca do caráter da narrativa histórica, a
respeito da qual muitas questões foram levantadas: o que ela representa?
Qual é sua capacidade explicativa dos fatos e processos que busca
descrever? Sua relação com a narrativa ficcional é de igualdade em
todos os sentidos ou unicamente de similitude estrutural? O
presente texto não pretende fazer um inventário completo das respostas
dadas a tais indagações, o que seria impraticável nos limites de um
artigo, mas apenas discutir algumas delas a fim de demarcar seus pontos
mais importantes[3].
Assim, os trabalhos de determinados autores que se ocuparam do assunto
servirão como um fio de Ariadne para esta reflexão sobre a História
como narrativa e as conseqüências de uma tal forma discursiva para a
construção e a viabilidade do saber histórico. A
História como narrativa A
visualização da História como sendo eminentemente narrativa não é
nova, uma vez que pode ser encontrada até mesmo na obra fundadora de Heródoto,
no século V a.C. Entretanto, foi apenas nos últimos séculos que os
indivíduos que se dedicavam aos estudos históricos procuraram delimitar
com mais clareza a singularidade do discurso da História em oposição à
narrativa literária.[4]
Assim, o século XIX assistiu ao esforço dos historiadores para
institucionalizar sua área de estudos por meio de uma ruptura da História
em relação à arte e à filosofia. Para afastar-se desta última,
considerada pelos historiadores como fonte de interpretações apriorísticas,
idealistas e a-históricas, buscou-se conferir à História um status científico
fundamentado no recurso ao material empírico representado pelas fontes e
na perspectiva objetivista do pesquisador (Reis,
1996). Quanto à arte, mais especificamente a literatura, o empenho de
muitos historiadores foi marcado pela tentativa de livrar seus escritos
dos elementos retóricos habitualmente utilizados em textos literários.
Como afirma Dominick La Capra, “esta tendência, que define a ciência
como a adversária ou a antítese da retórica, foi freqüentemente
associada com uma defesa do ‘estilo direto’ que acredita ou pretende
ser inteiramente transparente quanto a seu objeto” (La Capra, citado por
Iggers, 1996, p. 122).
Todavia, apesar do empenho colocado nessa pretendida ruptura dupla, a
disciplina histórica continuou sendo influenciada em termos teóricos
pela filosofia e, nos aspectos formais, pela literatura, o que tornou os
textos dos historiadores um território sui generis cuja amplitude
estende-se através das fronteiras entre a arte, a ciência e a filosofia. Não
é nosso objetivo aqui discutir como, considerando as diversas correntes
historiográficas dos séculos XIX e XX, a tensão entre metodologias
científicas e princípios filosóficos afetou os historiadores em suas
atividades de pesquisa. Tal análise pode ser encontrada em outros
lugares.[5]
Nosso interesse recai, sobretudo, nos laços que continuam ligando a História
e a literatura. Sendo assim, é necessário definir como a narrativa histórica
se constitui como um gênero, uma vez que este é um dos principais, se não
o mais importante, elo entre essas duas áreas. Antes de tudo, então,
precisamos de uma definição mínima do que seja uma narrativa. Fazendo
referência ao pensamento de W. B. Gallie a este respeito, Paul Ricoeur
expõe desta forma a essência desse tipo de relato: Uma
história descreve uma seqüência de ações e de experiências feitas
por um certo número de personagens, quer reais, quer imaginários. Esses
personagens são representados em situações que mudam ou a cuja mudança
reagem. Por sua vez, essas mudanças revelam aspectos ocultos da situação
e das personagens e engendram uma nova prova (predicament) que apela para
o pensamento, para a ação ou para ambos. A resposta a essa prova conduz
a história à sua conclusão. (Ricoeur,
1994, p. 214) Essa
definição mínima deve incluir também a conceituação do ato responsável
pela geração da narrativa: “O ato de narrar (...) repousa na presença
de um narrador ou de um meio narrativo (ator, livro, filme, etc.) e na ausência
dos eventos narrados. Tais eventos estão presentes como ficções, mas
ausentes como realidades” (Scholes, citado por Cardoso,
1997, p. 11). Uma definição genérica como esta, é claro, pode abranger
tanto as narrativas ficcionais quanto os textos produzidos por um
historiador. Seguir uma estória ou uma história, para o leitor, implica
realizar um mesmo movimento de compreensão do enredo, não importando, em
princípio, que este seja formado por acontecimentos extraídos de fontes
documentais ou produzidos pela mente do escritor. Em ambos os casos,
trata-se de acompanhar a exposição feita por aquele que narra – uma
pessoa ou um meio narrativo qualquer – e torna visível o fio que liga
os fatos de uma ponta a outra, ou seja, do evento inicial que desencadeia
o processo até o ponto em que ele atinge um desfecho (definitivo ou
meramente provisório). A escrita da História, como a de um texto literário,
passa pela tessitura desse fio que deve juntar os acontecimentos, mesmo
aqueles aparentemente desconexos, a fim de conferir sentido a um todo
maior que não é um simples agregado de elementos, mas sim um quadro
coerente no qual se pode ver uma imagem inteligível. Os personagens que
compõem essa imagem podem ser de ordens diversas, uma vez que o
historiador narra os feitos tanto de indivíduos quanto de coletividades
maiores, como Estados e classes sociais. Todavia, de acordo com Ricoeur,
para o desenrolar de uma história isto não faz diferença, pois a
referência oblíqua do fenômeno societal aos indivíduos justifica a
extensão analógica do papel de personagens às entidades de primeira
ordem da história. Em virtude dessa analogia, as entidades históricas de
primeira ordem podem ser designadas como os sujeitos lógicos de verbos de
ação e de paixão. (...) Dizer que a França faz isto ou sofre aquilo não
implica absolutamente que a entidade coletiva em questão deva se reduzir
aos indivíduos que a compõem e que suas ações possam ser destinadas
distributivamente a seus membros, considerados um a um. É preciso dizer
da transferência de vocabulário do indivíduo às entidades de primeira
ordem da historiografia, que ela é ao mesmo tempo somente analógica (e
portanto não implica nenhum reducionismo) e bem fundamentada no fenômeno
do pertencer participativo. (Ricoeur,
1994, p. 283)[6] Ainda
segundo Ricoeur, mesmo quando o objetivo do historiador é falar de tendências
e correntes, “é o ato de seguir a narrativa que lhes confere uma
unidade orgânica” (1994, p. 217), de modo que tais tendências e
correntes também figuram como personagens de uma história que deve ser
acompanhada ao longo da sucessão de acontecimentos que a constitui. É
nesse sentido que a idéia de Paul Veyne de que a escrita da História
passa pela armação de uma intriga encontra respaldo. Para Veyne: Os
fatos não existem isoladamente, no sentido de que o tecido da história
é o que chamaremos uma intriga, uma mistura muito humana e muito pouco
“científica” de causas materiais, de fins e de acasos; numa palavra,
uma fatia de vida, que o historiador recorta a seu bel-prazer e onde os
fatos têm as suas ligações objetivas e a sua importância relativa”.
(Veyne,
1983, p. 48) Ao
pensar a História em tais termos, Veyne não está apenas chamando a atenção
para a forma narrativa da mesma; ele está apontando a responsabilidade do
historiador, como sendo aquele que tece a intriga, na escolha
daquilo que deve figurar como parte do enredo, e isto contra todas e
quaisquer pretensões “positivistas” de que toda a história já
esteja contada nas fontes. Por outro lado, dizer que há um recorte ao
“bel-prazer” realizado pelo historiador/narrador pode dar margem a
acreditar que ele inventa a sua história na medida em que as ligações
entre os eventos relatados estariam apenas na própria narrativa, e não
na estrutura do real extradiscursivo. Assim, Veyne descreve a História
como um “romance verdadeiro”, embora esta expressão polissêmica não
implique exatamente que a tarefa do historiador seja impor aos fatos algum
tipo de configuração totalmente desvinculada – e por isto arbitrária
– deles. Ao contrário, quando o pesquisador coloca-se diante de suas
fontes, precisa extrair delas indícios das relações que encadeiam os
acontecimentos para, a partir disto, fornecer algum tipo de interpretação.
Por essa razão, E. P. Thompson condena a idéia de que a História seria
apenas uma “narração fenomenológica consecutiva” – visto que não
fornece causas suficientes para os fatos que busca explicar – dizendo
que “a explicação histórica não revela como a história deveria ter
se processado, mas porque se processou dessa maneira, e não de outra; que
o processo não é arbitrário, mas tem sua própria regularidade e
racionalidade; que certos tipos de acontecimentos (políticos, econômicos,
culturais) relacionaram-se, não de qualquer maneira que nos fosse agradável,
mas de maneiras particulares e dentro de determinados campos de
possibilidades; que certas formações sociais não obedecem a uma
‘lei’, nem são os ‘efeitos’ de um teorema estrutural estático,
mas se caracterizam por determinadas relações e por uma lógica
particular de processo” (Thompson,
1981, p. 61). Ocorre
que, no momento em que a tarefa interpretativa é desenvolvida pelo
historiador, ele se põe diante da necessidade de adotar certos
procedimentos estéticos relativos à forma da narrativa que está
escrevendo, o que significa escolher, entre os modos existentes de se
contar uma história, aquele mais adequado ao material com o qual está
trabalhando. Hayden White (1994 e 1995) chama esta prática de urdidura do
enredo. É ela que permitiria a superação da mera crônica (relato
cronológico dos acontecimentos) em direção à História propriamente
dita. Nas palavras de White: O
modo como uma determinada situação histórica deve ser configurada
depende da sutileza com que o historiador harmoniza a estrutura específica
de enredo com o conjunto dos acontecimentos históricos aos quais deseja
conferir um sentido particular. Trata-se essencialmente de uma operação
literária, criadora de ficção. (...) a codificação dos eventos em função
de tais estruturas de enredo é uma das maneiras de que a cultura dispõe
para tornar inteligíveis tanto o passado pessoal quanto o passado público.
(White,
1994, p. 102) Sendo
próprias de cada cultura, essas estruturas de enredo variam de caso para
caso, sendo que o romance, a comédia, a tragédia e a sátira são os
arquétipos narrativos apontados por White como aqueles disponíveis em
nossa cultura e que têm servido aos historiadores quando estes buscam
engendrar uma exposição significativa dos processos que analisam. A este
respeito, é preciso acrescentar duas observações. Em primeiro lugar,
quanto à escolha de um arquétipo narrativo, ela nem sempre é fruto de
uma decisão totalmente consciente por parte do pesquisador. Pois nem todo
historiador reflete tão longamente sobre as características estéticas
de sua narrativa quanto sobre o conteúdo da mesma, e o modo como um
“enredo historiográfico” é urdido muitas vezes depende mais de princípios
éticos ou ideológicos do que de opções artísticas. Hayden White, por
exemplo, cita quatro modos fundamentais de implicação ideológica –
anarquismo, conservadorismo, radicalismo e liberalismo – que, no
processo de construção de uma narrativa histórica, influenciam os modos
pelos quais os pesquisadores urdem os enredos e explicam os
acontecimentos. Em segundo lugar, o fato de que os textos históricos
sejam escritos de acordo com modelos narrativos pré-existentes não
implica que as próprias narrativas, em todas as suas dimensões, estejam
determinadas de antemão como se o trabalho do historiador fosse apenas
preencher um formulário padrão com os dados de sua pesquisa. Assim como
os escritores, que têm à sua disposição um amplo leque de gêneros e
estilos a partir dos quais realizam suas obras singulares e originais –
gêneros e estilos cujos limites são constantemente desafiados –, o
historiador também opera tendo como referência certos modelos narrativos
que, entretanto, não são máquinas destinadas a produzir a mesma coisa
segundo fôrmas imutáveis. Cada saber possui estruturas discursivas para
a exposição de seus resultados que, embora atuem como condicionantes
lingüísticos sem os quais a divulgação de uma pesquisa seria inviável,
não produzem sozinhas esses resultados. A singularidade e a originalidade
de uma obra histórica está justamente na articulação estabelecida pelo
autor entre todos os elementos de sua narrativa, o que inclui o conteúdo,
o tipo de explicação dos fatos, os pressupostos ético-ideológicos, bem
como o gênero do enredo. Obviamente,
causa um certo desconforto para a maioria dos historiadores a idéia de
que haveria alguma parcela de ficção em seus trabalhos, especialmente em
se tratando dos críticos de White. O historiador brasileiro Ciro
Flamarion Cardoso está entre eles. Num texto em que discute o já
mencionado conceito de narrativa de Robert Scholes (Cardoso,
1997), segundo o qual no ato de narrar os eventos estão presentes como
ficções, mas ausentes como realidades, Cardoso escreve que nesse caso se
deveria dizer: presentes como ficções ou representações. Isto porque
ele não acredita no caráter ficcional da História, mesmo reconhecendo
que a narrativa histórica é formada por um conjunto de representações.
A questão toda está em se definir o quão criativa é a constituição
de uma intriga – ou de um enredo, se se preferir – pelo historiador:
admitindo-se que a elaboração do discurso historiográfico sempre passa
pela re(a)presentação, na forma de uma narrativa, de eventos que não
existem mais “em si”, é correto não fazer distinção entre uma
representação que se pretende “realista” e outra que se declara
abertamente ficcional? O
que a História representa? No
estágio atual das discussões sobre esse problema ainda não há – e
talvez nunca venha a haver – um consenso a respeito. A polarização das
opiniões coloca em posições extremas os historiadores mais suscetíveis
ao apelo das proposições pós-modernas e que vêem seu ofício com
bastante ceticismo no tocante ao grau de veracidade de suas representações,
e os outros que condenam veementemente a subsunção da narrativa histórica
ao status de simples artefato literário.[7]
Não há argumentos totalmente definitivos em nenhum dos lados, embora a
posição mais interessante pareça ser uma que evite o dogmatismo e
esteja aberta ao diálogo com ambos, não para se permanecer num cômodo
lugar em cima do muro, mas para absorver o que há de produtivo nos pontos
não-conflitantes das duas posturas. Assim, não é necessário negar que
a História tenha certos aspectos literários e ficcionais para afirmá-la
como um saber válido sobre a sociedade. Afinal, toda forma de
conhecimento, mesmo o dito científico, repousa na construção de
representações sobre as coisas e, por mais fiéis aos “fatos
objetivos” que tais representações possam parecer, nunca deixarão de
ter sido produtos da capacidade inventiva do homem de apreender
mentalmente o mundo que o rodeia. No caso da narrativa histórica, o
importante é não perder de vista que os termos “literário” e
“fictício” não são sinônimos de “mentiroso” ou “irreal”.
Quando o historiador narra os acontecimentos, ele está ao mesmo tempo
dando uma explicação dos mesmos, e essa explicação não está pronta e
acabada nos próprios documentos; ela precisa ser inventada pelo
pesquisador usando a matéria-prima disponível, o que inclui não apenas
as informações contidas nas fontes – as evidências –, mas também
os paradigmas interpretativos existentes em sua cultura, sejam eles teórico-científicos
ou estético-literários. O resultado dessa operação não é nem um
reflexo do real histórico nem uma quimera, e surge, portanto, daquele diálogo
entre conceito e evidência reivindicado por Edward P. Thompson (1981)
como fundamento da própria lógica da pesquisa histórica. Dessa forma,
retomando a questão sobre o que a História representa, podemos responder
com Hayden White que considerada
como um sistema de signos, a narrativa histórica aponta simultaneamente
para duas direções: para os acontecimentos descritos na narrativa e para
o tipo de estória ou mythos que o historiador escolheu para servir como
ícone da estrutura dos acontecimentos. A narrativa em si não é o ícone;
o que ela faz é descrever os acontecimentos contidos no registro histórico
de modo a informar ao leitor o que deve ser tomado como ícone dos
acontecimentos “familiares” a ele. (WHITE, 1994, p.105) Essa
é, pois, a natureza da ficção na História. No
entanto, se existe essa homologia entre a escrita da História e a da
literatura, isto não quer dizer que ambas possuem os mesmos atributos. Em
primeiro lugar, quanto ao conteúdo, há de se lembrar que enquanto o
objetivo do historiador é apresentar um relato sobre eventos pertencentes
ao processo histórico, o escritor, e isto em certos casos específicos,
preocupa-se apenas em produzir um quadro verossímil do que poderia ter
ocorrido. De fato, o recurso obrigatório às fontes imprime restrições
“realistas” à escrita do pesquisador, uma vez que não lhe é
permitido inventar personagens ou eventos históricos com a mesma
liberdade que a desfrutada por um literato; por outro lado, os escritores
podem buscar, e buscam constantemente, inspiração para a construção do
universo artístico configurado em sua obra na mesma “realidade”
estudada pelo historiador. Na verdade, caso um autor produzisse um texto
“totalmente ficcional”, talvez ele não encontrasse leitores sequer
capazes de compreender o resultado de seu trabalho inventivo, com exceção,
quem sabe, da literatura surrealista. É justamente porque existe um vínculo
entre o texto e o contexto -
usando a terminologia convencional -,
isto é, uma reelaboração do real no fictício, que a obra literária
pode permanecer não apenas nos limites da inteligibilidade, como também
no rol dos documentos históricos. Contudo, por mais realista que o relato
de um texto literário pareça, isto se deverá sempre ao efeito de
verossimilhança provocado mais pelo talento do autor do que por um
compromisso com a “verdade dos fatos”. Em segundo lugar, quanto à
forma, muito embora os recursos narrativos utilizados por historiadores e
escritores sejam iguais, permanece uma diferença de atitude diante desses
recursos que é essencial. Segundo Paul Ricoeur, este é justamente o
ponto que distingue o historiador de um simples narrador: pois o
historiador dá
as razões pelas quais considera tal fator, mais que tal outro, como causa
suficiente de tal curso de acontecimentos. O poeta cria uma intriga que
também se mantém em virtude de seu esqueleto causal. Mas este não
constitui o objeto de uma argumentação. Nesse sentido, Northrop Frye tem
razão: o poeta procede a partir da forma, o historiador em direção à
forma. Um produz, o outro argumenta. E argumenta porque sabe que se pode
explicar de modo diverso. E o sabe, porque está, como o juiz, numa situação
de contestação e de processo e porque sua defesa nunca está terminada:
pois a prova é mais conclusiva para eliminar candidatos à causalidade,
como diria William Dray, que para coroar um só para sempre. (Ricoeur,
1994, p. 266) No
mesmo sentido, White escreve que a forma do enredo de uma história não
está predeterminada nos acontecimentos, posto que eles não são
necessariamente trágicos, cômicos, românticos ou satíricos em si
mesmos. É o historiador que os urde de uma maneira especial, que ele sabe
não ser a única possível. Graças a essa consciência da multiplicidade
interpretativa do processo histórico é que o pesquisador não fica preso
à forma de sua narrativa, mas está livre para discutir seu objeto de
estudo usando os recursos estéticos como instrumentos. Dizer,
como White, que não são os próprios acontecimentos que, por sua essência,
definem a forma do enredo da narrativa, visto que na verdade não
existiria neles um sentido único a ser adotado pelo historiador, é fazer
uma afirmação que exige maiores explicações. Isto porque é questionável
propor que os únicos responsáveis pelo caráter de um dado acontecimento
são os historiadores que, a posteriori, confeririam a cada evento
um significado no interior das narrativas que escrevem. Há também um
outro nível de atribuição de sentido aos acontecimentos que, não
obstante, deve ser levado em consideração pelos pesquisadores: o nível
em que os agentes históricos envolvidos nos eventos produzem um
entendimento de sua própria ação. As reflexões de David Carr (1986) são
valiosas para se abordar essa questão.[8]
Carr preocupou-se em refutar a proposição – atribuída por ele a Louis
Mink, Hayden White e Paul Ricoeur, entre outros – de uma descontinuidade
entre a narrativa histórica e a realidade, proposição baseada na idéia
de que os acontecimentos reais não possuem nenhum tipo de ordem
semelhante àquela que os escritores e os historiadores estabelecem quando
contam suas histórias. Para tanto, o historiador ressaltou a existência
de uma prática narrativa que se dá na vida de qualquer indivíduo e por
meio da qual as experiências cotidianas são compreendidas dentro de uma
estrutura temporal. Segundo ele, em nossas vidas Consultamos
de maneira explícita as experiências passadas, prevemos o futuro e
contemplamos o presente como um trânsito entre ambos. O que quer que
encontremos dentro de nossa experiência funciona como um instrumento ou
como um obstáculo a nossos planos, anseios e esperanças. O que quer que
seja a “vida”, dificilmente é uma seqüência sem estrutura de
eventos isolados. (CARR, 1986, p. 18) Em
nossas ações, sustenta David Carr, estamos sempre “no meio de” algo,
na medida em que relacionamos nossa situação atual como a anterior e
tentamos antecipar os resultados futuros de nossas atitudes. Obviamente,
lembra o autor, há uma diferença entre a posição privilegiada do
narrador, que possui uma visão retrospectiva de toda a história que está
contando, e a dos indivíduos que estão vivendo a própria história.
Entretanto, mesmo que o esforço destes últimos para compreender seus
atos dentro de uma seqüência do tipo começo-meio-fim seja frustrado
pela não concretização de seus planos, ainda assim eles terão criado,
para si mesmos, um relato de suas próprias vidas, uma narrativa em que os
eventos vividos recebem significados quando se reflete sobre eles. Assim,
escreve Carr que “[os relatos] são contados ao se vivê-los, e são
vividos ao se contá-los. As ações e os sofrimentos da vida podem ser
vistos como um processo de narrarmos histórias a nós mesmos, escutarmos
essas histórias, atuarmos nelas, ou as vivermos” (1986, p. 22). Se
tudo isso vale para os indivíduos, David Carr acredita que também possa
ser aplicado às coletividades. Apesar de todos os problemas teóricos
envolvidos na afirmação de que uma entidade social tem atitudes
semelhantes às de uma pessoa, é difícil negar que os membros de um
grupo possuem certas características em comum que os fazem ver a si
mesmos como parte de algo maior e os levam a usar o pronome “nós”
para falar de si. Segundo Carr, a condição de habitar um território, de
organizá-lo política e economicamente, de enfrentar ameaças físicas ou
humanas socialmente, cria laços entre as pessoas de tal forma que elas
atribuem sentidos às suas ações não apenas pelo que significaram para
elas como indivíduos, mas também por meio de suas experiências como
coletividade. Por isso é correto dizer que nós
temos uma experiência em comum quando nós compreendemos
uma seqüência de fatos como uma configuração temporal de tal
maneira que sua fase presente derive seu significado de sua relação com
um futuro e um passado comuns. Comprometer-se em uma ação comum é como
constituir uma sucessão de fases articuladas como passos e etapas,
subprojetos, meios e fins. O tempo social humano, assim como o tempo
individual humano, está construído sobre seqüências configuradas que
integram os fatos e os projetos de nossa ação e de nossas experiências
comuns (Carr,
1986, p. 24). E
se as entidades sociais criam para si uma compreensão dos eventos que
leva em consideração uma articulação temporal entre eles, igualmente
produzem, na perspectiva de Carr, narrativas no interior das quais tais
eventos recebem seus significados.[9] O
corolário das reflexões de David Carr reside, pois, na proposição de
que a função narrativa é prática antes de ser cognitiva ou estética,
e que não faz sentido opor de forma absoluta a coerência estrutural das
narrativas históricas e ficcionais a uma pretensa falta de conexão e de
ordem nos eventos da vida individual e social. Todavia, é preciso
ressaltar que Carr não afirma uma simetria perfeita entre os relatos
produzidos pelos agentes históricos e aqueles escritos por historiadores
e literatos. O
processo narrativo prático de primeira ordem que constitui uma pessoa ou
uma comunidade pode converter-se em uma narração de segunda ordem cujo
assunto é o mesmo, mas cujo interesse se encontra de maneira fundamental
no cognitivo ou no estético. Esta mudança no interesse também pode
acarretar uma mudança no conteúdo – por exemplo, um historiador pode
contar a história de uma comunidade que seja muito diferente da história
que é contada pela própria comunidade (por meio de seus dirigentes,
jornalistas e outros). A forma, entretanto, não muda. (Carr,
1986, p. 26) Em
outras palavras, pode-se dizer que as narrativas de primeira ordem são
passíveis de se tornarem fontes para os pesquisadores, na medida em que,
materializando-se em algum tipo de documento – seja escrito, oral, imagético
ou outro –, elas manifestam os significados que seus autores,
individuais ou coletivos, conferiram à história que viveram. Como Carr
reconhece, nem sempre as narrativas de segunda ordem coincidem com as que
lhes servem de referência primária. Tomadas como representações de
mentalidades, de culturas, de visões de mundo ou de ideologias, as
narrativas de primeira ordem são apenas um elemento entre outros a ser
levado em consideração pelos historiadores, os quais podem e devem
abordar criticamente tais relatos sem se limitarem a reproduzi-los como se
fossem descrições transparentes da realidade. A incorporação do conteúdo
desses relatos a uma narrativa histórica depende, em última instância,
das opções temáticas e teórico-metodológicas feitas pelos
historiadores. Além disto, há uma segunda maneira por meio da qual as
narrativas de primeira ordem lhes servem de referência. Sendo eles mesmos
sujeitos históricos, também realizam aquela atividade narrativa prática
apontada por Carr e, por isto, sua compreensão do mundo e o conhecimento
histórico que compõem são influenciados, em maior ou menor grau, pelas
narrativas individuais e coletivas que eles ajudaram a produzir. Concluindo,
enfim, e retomando algo que já foi dito, é primordial enfatizar que os
acontecimentos não possuem significações unívocas “em si”: são as
narrativas sobre eles, tanto as formuladas pelos sujeitos históricos
quanto as elaboradas pelos historiadores, que dão origem às múltiplas
interpretações a respeito dos eventos. Narrar
é o mesmo que explicar? Como
foi dito, o objetivo do historiador ultrapassa a descrição pura e
simples dos acontecimentos, pois busca atingir algum nível de explicação
daquilo que está sendo relatado. No entanto, em que consiste o ato de
explicar em História? Como a narrativa escrita pelo pesquisador é capaz
de produzir um entendimento por parte do leitor? De certo modo, estas
perguntas já foram parcialmente respondidas quando se tratou de mostrar
que o enquadramento da narrativa histórica em um determinado arquétipo
procura promover uma aproximação entre o leitor e o conteúdo da história,
ou seja, uma familiarização. Isto significa que a estrutura narrativa,
em si mesma, pressupõe um princípio de explicação. Tal é a opinião
de Paul Veyne a respeito, segundo o qual a explicação histórica não
se distingue muito do gênero de explicação que se pratica na vida de
todos os dias ou em qualquer romance onde se conte essa vida; ela não é
mais do que a clareza que emana duma narrativa suficientemente
documentada; ela oferece-se de si própria ao historiador na narração e
não é uma operação distinta desta, não mais do que o é para o
romancista. Tudo o que se conta é compreensível, visto que o podemos
contar. (Veyne,
1983, p. 118) Uma
narrativa suficientemente bem desenvolvida deveria, desse ponto de vista,
ser auto-explicativa. Ainda de acordo com Veyne, se se quer explicar a razão
de alguma coisa ter acontecido – a Revolução Francesa, por exemplo
–, basta que se faça a narrativa dos antecedentes desse acontecimento,
pois “a palavra causa designa esses mesmos acontecimentos: as causas são
os diversos episódios da intriga” (Veyne,
1983, p. 119). Assim, tem-se que o esquema representado por “isto depois
daquilo”, característico do desenvolvimento temporal da narrativa, não
se distingue absolutamente de “isto por causa daquilo”. Conseqüentemente,
para compreender o porquê da conclusão de uma história é preciso
acompanhá-la não como se se tratasse de uma argumentação lógica cujo
desfecho é, pelo próprio mecanismo silogístico, obrigatório; pelo
contrário, deve-se seguir todos os episódios que compõem a intriga em
direção a um final não-previsível que se explica retrospectivamente
por meio dos eventos que o precederam (Ricoeur,
1994, p. 215). Concordando-se
com as afirmações de Veyne, a questão da causalidade na História,
motivo de longas discussões, estaria facilmente solucionada. Afinal,
Veyne resume o assunto aos aspectos constitutivos da narrativa: “Procurar
as causas”, é contar o fato duma maneira mais penetrante, é trazer à
luz do dia os aspectos não-acontecimentais, é passar da banda desenhada
ao romance psicológico. É vão opor uma história narrativa a uma outra
que teria a ambição de ser explicativa; explicar mais é contar melhor,
e de qualquer modo não se pode contar sem explicar (Veyne,
1983, p. 121-123). O
bom historiador seria, portanto, aquele capaz de incluir em sua narrativa
todos os fatos necessários para que o leitor apreenda o fio da intriga
que, nele mesmo, já conteria sua explicação e dispensaria maiores
comentários. Apesar de reconhecer que a historiografia atual tem se
preocupado em incluir interferências analíticas em seus relatos dos
eventos, Veyne acredita que mesmo assim ela continua passando pela
tessitura de intrigas, havendo apenas um aprofundamento da narrativa. Isto
é correto pelo menos em parte, visto que é válida a crença de que a
explicação procede do discurso narrativo. Contudo, como Paul Ricoeur
alerta, nem sempre o encadeamento dos elos de uma história é coerente o
bastante para proporcionar uma compreensão satisfatória. O recurso ao
instrumental analítico-explicativo de outros saberes permite ao
historiador suprir as falhas presentes em sua narrativa, apresentando
algum tipo de generalização como meio para reatar o fio interrompido da
intriga. “Se pois toda narrativa explica-se por si mesma, num
outro sentido, nenhuma narrativa histórica se explica por si
mesma. Toda narrativa histórica está em busca da explicação a ser
interpolada, porque fracassou em se explicar por si mesma.” (Ricoeur, 1994, p. 221) Graças a alianças com as Ciências
Sociais[10],
a História pôde desempenhar melhor aquilo que Hélio R. Cardoso Jr.
(1996) chama de tarefa teórica, isto é, a elaboração conceitual, que
junto com a tarefa narrativa leva à constituição do discurso do
historiador. Problemas
éticos da História na pós-modernidade Visto
tudo isso, é interessante concluir este texto levantando um problema que
não é somente de ordem teórica e tem causado inúmeras polêmicas entre
a comunidade dos historiadores: quais são as implicações éticas de se
considerar a narrativa histórica tão próxima da literatura? A crise da
noção de representação que, como já foi mencionado, levou muitos a
questionarem os estatutos epistemológicos da História, conduz à situação
extrema da afirmação da equivalência entre todas as narrativas em
termos de veracidade. Os críticos de White, inclusive, condenam suas
proposições por verem nelas uma redução da explicação histórica aos
efeitos estéticos do uso de tropos literários, de modo que qualquer
forma de interpretação dos acontecimentos seria viável. Nesse sentido,
o discurso do historiador não apenas teria perdido seu potencial crítico
– já que não haveria mais critérios válidos para julgar se uma história
é mais ou menos correta quanto à referência que faz aos eventos
relatados – como assumiria o papel de mero artefato literário cujo
objetivo é somente entreter seus leitores. Se um mesmo processo histórico
é passível de ser narrado de diferentes modos e a documentação que
lhes serve de fonte não basta para atestar o grau de veracidade das
narrativas, as ameaças do esquecimento e da “falsificação” rondam
perigosamente a oficina da História. Ora,
em um texto no qual contrapõe a história à memória, Edgar Salvadori de
Decca diz que “a característica mesma da história é a de ser um
conhecimento em permanente construção e sujeito a contestações, ao
passo que a memória depende da valorização monumental dos vestígios do
passado para a sua permanência” (2001, p. 31). Enquanto a memória,
individual ou coletiva, está sempre sujeita ao esquecimento, a História
perpetua o conhecimento do passado na medida em que prima por revisitar
constantemente seus objetos de estudo por meio do questionamento das
fontes, as quais podem ser ampliadas ou analisadas sob novos pontos de
vista. De Decca acredita que não se pode deixar de lado o fato
fundamental de que a História, como saber, constitui-se desde o início
como uma narração sob o primado de uma investigação, uma investigação
baseada sempre em documentos. Para a História, escreve ele, “é a exigência
documental que funda o acontecimento e não o contrário, isto é, a sua
narrativa” (Decca, 2001,
p. 30). Em outras palavras, a origem da História está em primeiro lugar
no estudo das fontes, e não na narração dos eventos. Essa
argumentação teórica feita por de Decca é efetivada como introdução
a uma discussão sobre um dos pontos da História do século XX que vem
causando polêmicas acirradas dentro e fora das academias: o Holocausto.
Visto como um acontecimento-limite que pôs em cheque as concepções políticas,
éticas e mesmo epistemológicas em vigor antes de sua ocorrência, o
genocídio industrialmente organizado realizado pelos nazistas mostrou-se
um desafio tanto para os historiadores “realistas” quanto para os “pós-modernos”.
Para os primeiros, trata-se de enfrentar os problemas causados pela
destruição sistemática dos documentos relativos ao Holocausto, visto
que os nazistas quiseram eliminar, junto com suas vítimas, também as
provas de seus atos. Para os segundos, a questão é responder às acusações
de que sua falta de critérios probatórios para as narrativas históricas
autorizaria, inclusive, a negação da existência do próprio Holocausto,
já que se poderia escrever uma história da época sem levar em consideração
os vestígios do genocídio, mas apenas as afirmações dos defensores do
nazismo. De Decca diz que os chamados “revisionistas” têm tentado
argumentar contra o Holocausto a partir de documentos, o que, pelo menos,
mantém o campo aberto a discussões pelos historiadores, garantindo o não-esquecimento
da História. Neste caso, é a prova documental que tem o poder decisório.
Entretanto, se a questão é reduzida a seus aspectos puramente
narrativos, onde as referências extradiscursivas não importam muito, o
que pode ser feito para que a História não se torne terreno para todo o
tipo de falsificações? Francisco
J. C. Falcon resume em um texto sobre representações (Falcon,
2000) as controvérsias a respeito do Holocausto que permeiam as teorias
narrativistas pós-modernas. Sintetizando as principais idéias contidas
nos ensaios de Investigando os limites da representação, livro
organizado por Saul Friedlander, Falcon mostra os impasses a que chegam os
autores como Hayden White quando as conclusões de suas teorias são
confrontadas com situações-limites como o Holocausto. Tamanhas seriam as
implicações éticas de se negar a veracidade da história do Holocausto,
que White, escrevendo a respeito, chega a questionar suas próprias idéias,
afirmando, assim como Dominique LaCapra, a necessidade de novas
categorias de análise histórica uma vez que as abordagens positivas e as
suas técnicas tornaram-se insuficientes a um ponto tal que se poderia até
mesmo pôr em dúvida os próprios pressupostos da historiografia. Em face
de “acontecimentos-limite”, como o Holocausto, as técnicas
convencionais são inadequadas, já que nestes casos a linguagem pode
esfacelar-se e cabe ao historiador perceber o processo significante e
expressivo desse esfacelamento. (Falcon,
2000, p. 69) Esse
é, enfim, um problema sério enfrentado pela disciplina histórica e um
desafio inegável a seus praticantes. A ampliação dos horizontes teóricos
ajudou os historiadores a ter uma consciência muito maior das características
epistemológicas e estéticas de seu discurso, mas, ao mesmo tempo, chegou
a ponto de ameaçar cortar o vínculo da História-conhecimento com a História-processo.
Eticamente, isto pode significar o fim de qualquer compromisso dos
historiadores com o esclarecimento da sociedade a respeito de seu passado,
e, de uma forma geral, um empobrecimento lamentável da História se esta
vier a se tornar um mero objeto de entretenimento para seus leitores.
Contra essa tendência, que de modo algum é inevitável, é preciso
lembrar que nos domínios da literatura existiram, e ainda existem, inúmeros
exemplos de escritores que fizeram de sua arte uma verdadeira arma para
combater em nome de causas que transcenderam as discussões puramente estéticas,
tornando-as dessa forma questões de crucial importância para as
sociedades em que tais batalhas foram travadas. Os nomes de Voltaire,
Zola, Brecht e Sartre são apenas alguns dos mais conhecidos entre os
literatos-intelectuais que trilharam os caminhos da arte engajada,
assumindo um pacto ético e político com os rumos da história. Cabe então
aos historiadores de hoje e do futuro inspirar-se nesses exemplos,
lembrando-se sempre da vocação investigativa de seu ofício, para não
se perder na contemplação estética de sua obra, bem como para não se
tornar prisioneiros nas teias de suas próprias narrativas. ___________________ [1]
Sobre a distinção entre língua e fala, ver Saussure (1997). [2]
Para uma abordagem mais ampla do linguist turn e de sua influência
sobre a historiografia, ver Iggers (1996). [3]
Recomenda-se aos leitores que desejarem ver o assunto sob outros
enfoques, a leitura dos textos de L. Stone (1979) e de E. Hobsbawn
(1979), os quais realizaram um interessante debate sobre a questão do
chamado “retorno da narrativa”. [4]
No século XVIII, por exemplo, um inovador no campo da pesquisa histórica,
o filósofo francês conhecido pelo pseudônimo de Voltaire,
definiu a História como “narração de fatos considerados
verdadeiros, ao contrário da fábula, narração de fatos
considerados falsos” (1988, p. 119). [5]
Ver, por exemplo, o trabalho de José Carlos Reis
(1996) que trata de quatro importantes escolas historiográficas, a
saber, a metódica (dita “positivista”), a historicista, a
marxista e a dos Annales. [6]
Tal fenômeno refere-se ao laço de pertinência que une os indivíduos
no interior de uma sociedade na qual são partilhados códigos simbólicos
(normas, costumes, ritos, etc.) por meio dos quais eles se reconhecem
como membros de uma coletividade (Ricoeur,
1994, p. 281-282). [7]
Para uma visão geral dessa polêmica referente à “crise da noção
de representação”, ver Cardoso e Malerba (2000). [8]
Para uma abordagem das reflexões de David Carr no contexto de uma crítica
ao anti-realismo epistemológico contemporâneo, ver Cardoso (1998). [9]
Enfatizando o caráter dialético da construção das identidades
sociais por meio da prática narrativa, Eliane S. Rapchan escreve que
“as experiências constroem as narrativas da mesma forma que as
narrativas constroem as experiências. A vida social é construída na
prática da narração e a narração adquire vida e sentido na vida
social”, de modo que “o sujeito constitui sua identidade no ato de
narrar (construindo, assim, a si mesmo) e, neste sentido, sua própria
existência e realidade, através da narrativa” (1997, p. 353). [10] Para uma discussão mais detalhada de tais alianças, ver Reis (1994 e 1996) |
|||
|
Referências
bibliográficas CARDOSO,
Ciro F. Narrativa, sentido, história.
Campinas: Papirus, 1997. _________.
Crítica de duas questões relativas ao anti-realismo epistemológico
contemporâneo. Diálogos, Maringá, v. 2, n. 2, p. 47-64, 1998. _________.
Epistemologia pós-moderna, texto e conhecimento: a visão de um
historiador. Diálogos, Maringá, v. 3, n. 3, p, 1-28, 1999. CARDOSO,
Ciro F., MALERBA, Jurandir (orgs.). Representações: contribuições a
um debate transdisciplinar. Campinas: Papirus, 2000. CARDOSO
JR., Hélio Rebello. Narrativas e totalidades como problemas na
historiografia – um estudo de dois casos. In:
MALERBA, J. (org.). A velha história. Campinas: Papirus,
1996. p. 179-188. CARR,
David. La
narrativa y el mundo real: un argumento en favor de la continuidad. Historias,
México, n. 14, p. 15-27, 1986. CHARTIER,
Roger. A História hoje: dúvidas, desafios,
propostas. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 7, n. 13, p.
97-113, 1994. DECCA,
Edgar S. de. O Holocausto: os tênues laços da história e da memória. Temas
& matizes, Cascavel, ano I, n. 1, p. 28-35, jul. 2001. DOSSE,
François. História do estruturalismo. 2. ed. Trad. Álvaro
Cabral. São Paulo: Ensaio; Campinas: Editora da UNICAMP, 1993. v. I. FALCON,
Francisco J. C. História e representação. In: CARDOSO, Ciro F.,
MALERBA, Jurandir (orgs.). Representações: contribuições a um
debate transdisciplinar. Campinas: Papirus, 2000. FOUCAULT,
Michel. As palavras e as coisas. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes,
1981. HOBSBAWM,
Eric J. The revival of narrative, some comments. Past and Present,
n. 85, p. 3-4, 1979. IGGERS,
George G. Historiography in the Twentieth Century: from scientific
objectivity to the postmodern challenge. New England: Wesleyan
University Press, 1996. PIAGET,
Jean. O estruturalismo. 3. ed. Trad. Moacir Renato de Amorim. São
Paulo: Difel, 1979. RAPCHAN,
Eliane Sebeika. O uso da narrativa nas ciências sociais: algumas
notas e reflexões acerca de suas possibilidades. Cadernos de
Metodologia e Técnica de Pesquisa, Maringá, v. 9, n. 8, p. 337-354,
1997. REIS,
José Carlos. Nouvelle Histoire e tempo histórico: a contribuição
de Febvre, Bloch e Braudel. São Paulo: Ática, 1994. ___________.
A história entre a filosofia e a ciência. São Paulo: Ática,
1996. RICOEUR,
Paul. Tempo e narrativa. Trad. Constança M. Cesar. Campinas:
Papirus, 1994. Tomo I. SAUSSURE,
Ferdinand de. Curso de lingüística geral. Trad. Antônio Chelini,
José Paes e Izidoro Blikstein. São Paulo: Cultrix, 1997. STONE,
Lawrence. The revival of narrative. Past and Present, n. 86, p.
3-24, 1979. THOMPSON,
Edward P. A miséria da teoria ou um planetário de erros: uma crítica
ao pensamento de Althusser. Trad.
Waltensir Dutra. Rio de
Janeiro: Zahar, 1981. VEYNE,
Paul. Como se escreve a história. Trad. António J. da Silva
Lisboa. Lisboa: Edições 70, 1983. VOLTAIRE
(François Marie Arouet). Dicionário Filosófico. In: Voltaire
v. I/Diderot. São Paulo: Nova Cultural, 1988. p. 1-211. (Os
Pensadores) WHITE,
Hayden. Trópicos do discurso: ensaios sobre a crítica da cultura.
Trad. Alípio C. de Franca Neto. São Paulo: Edusp, 1994. ___________. Meta-história: a imaginação histórica do século XIX. Trad. José L. de Melo. São Paulo: Edusp, 1995. |
![]()
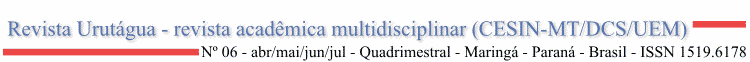
 Por
RENATO MOSCATELI
Por
RENATO MOSCATELI
 De
onde vem a ênfase, tão difundida atualmente, nos aspectos lingüísticos
dos diferentes saberes modernos, das ciências da natureza à disciplina
histórica? Em grande parte, isto se deve aos desenvolvimentos da lingüística
no século XX, especialmente àqueles ligados ao estruturalismo – em
suas variadas correntes – surgido com Ferdinand de Saussure, Roman
Jakobson e Roland Barthes, entre outros (
De
onde vem a ênfase, tão difundida atualmente, nos aspectos lingüísticos
dos diferentes saberes modernos, das ciências da natureza à disciplina
histórica? Em grande parte, isto se deve aos desenvolvimentos da lingüística
no século XX, especialmente àqueles ligados ao estruturalismo – em
suas variadas correntes – surgido com Ferdinand de Saussure, Roman
Jakobson e Roland Barthes, entre outros (